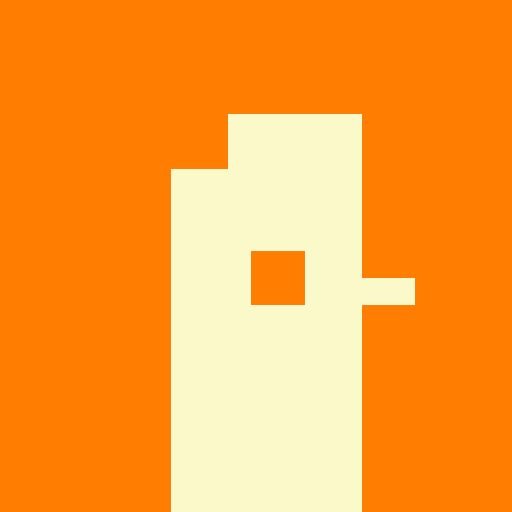Depois do meu último artigo aqui no Observador em que falava precisamente da não-violência, quase que podíamos assumir que este é um assunto que anda na ordem do dia ou que, simplesmente, este é o único tema sobre o qual sei ou quero falar. Mas este artigo reflete duas visões antagónicas sobre a violência nos videojogos e a forma como ela pode ser utilizada para construir um bom videojogo, ou para criar algo perfeitamente aborrecido.
Hatred, o primeiro jogo do estúdio polaco Destructive Creations, acabou por estar nos últimos meses no epicentro da discussão sobre a legitimidade da utilização da violência de forma tão direta. O trailer de lançamento, que gerou uma onda de descontentamento tal que levou à sua retirada provisória de lojas digitais como o Steam, demonstrava um personagem monocórdico (e unidimensional, quase feito “de cartão”, apesar de só o percebermos depois de jogarmos) que assumia logo nos primeiros segundos um ódio profundo pela humanidade. Armado até aos dentes, irrompe até à rua e inicia uma onda de morte pela cidade. Um simulador de assassino em massa, como alguns lhe chamaram, enquanto a internet e os media se dividiam na validade ou não de Hatred estar acessível a todos (leia-se, aos maiores de 18, que é a classificação etária para qual o jogo se destina). Uma possível inspiração em casos reais da nossa história recente? (trailer para maiores de 18 anos).
A violência aqui ao lado
Falar de violência é olhar para a outra Arte irmã-mais-velha dos videojogos, o Cinema. De entre tantos casos de utilização visceral da violência enquanto manifestação artística, sugiro observarmos “Natural Born Killers” de Oliver Stone e “Oldboy” de Park Chan-wook. O filme de Stone aborda a mesma temática de Hatred, acompanhando a paixão homicida do casal interpretado por Woody Harrelson e Juliette Lewis, expondo a violência com laivos satíricos e obrigando-nos a gerir a brutalidade por um prisma quase humorístico.
“Oldboy”, o aclamado filme sul-coreano que fala a linguagem da violência gráfica, visceral, impiedosa, e que segue a sede de vingança de um homem contra quem o manteve em cativeiro durante uns longos quinze anos. O sangue jorra na nossa direção, crânios são desfeitos ao impacto de um martelo e arte é criada: um sangrento “Le Comte de Monte-Crist” de Dumas, em que a raiva e o ódio são as forças motrizes do protagonista.
Ambos os filmes, assim como muitos outros casos na sétima arte são casos seminais de violência enquanto transgressão artística, enquanto voz criativa e como veículo de uma mensagem. Por detrás do sangue e das mortes existe conteúdo. Hatred, por contraste, não tem nada.
A violência pelo choque, a violência pela violência
Hatred sofre de muitos problemas mecânicos. A decisão artística de colocar o jogo a preto-e-branco (uma referência à edição do filme de Stone?) associada à ”filmagem” isométrica resultam numa das maiores confusões visuais de que há memória e em que muitas vezes perdemos o nosso protagonista (sucintamente apelidado de “O Antagonista” pelos seus criadores) no meio do cenário. Mas acima de tudo, o grande problema deste jogo, e que eu antecipava desde os primeiros minutos da total discórdia que se gerou com o primeiro vídeo publicado, é que toda esta violência gratuita, todo o sadismo sem explicação inerente ao jogo são única e exclusivamente isso: violência pela violência.
Controlamos um assassino em série e temos de matar todas as pessoas com que nos cruzamos, e nenhuma das nossas ações é uma tomada de posição, mas sim apenas uma expressão de violência gratuita. O jogo não tem qualquer mensagem para além da morte e da brutalidade, tenta tanto ser transgressor mas atinge apenas o mais básico valor do choque, pelo choque. O que lhe garantiu, é claro, uma gigantesca onda de marketing gratuita que resultou em ótimas vendas de um jogo mediano. São os frutos da controvérsia. Este artigo que agora leem é também um exemplo disso.
Muito se falou sobre a legitimidade da existência de obras tão gratuitamente violentas, e é óbvio que a resposta é um rotundo “Sim!”. Desde que consumidas pelos públicos-alvo respetivos, longe do acesso de crianças e adolescentes, jogos ou filmes violentos deverão continuar a existir como expressão criativa. Um jogo ou um filme serem violentos não ditam a sua qualidade, ou a falta dela.
A violência enquanto transgressão política
Duas semanas antes do lançamento de Hatred, já o mercado tinha visto chegar o jogo Not a Hero pela mão da Devolver Digital, editora que nos trouxe alguns dos melhores videojogos violentos dos últimos anos (do qual temos de referir o genial “Hotline Miami”), mas cuja abordagem mais crua e brutal é uma opção artística.
Not a Hero é politicamente irónico e incorreto, põe a nu a corrupção e a distância que alguns políticos estão dispostos a percorrer para serem eleitos. Nele, um candidato a Mayor de seu nome BunnyLord, um coelho antropomórfico engravatado (estará aqui alguma mensagem para os portugueses dos britânicos da Roll7, os criadores do jogo?) contrata um grupo de assassinos a soldo para executar uma série de alvos específicos na cidade, desde ladrões menores, políticos rivais e líderes do crime organizado. Um banho de sangue que tem como objetivo aumentar as intenções de voto da população nas sondagens que antecedem as eleições.
Ainda que Not a Hero não tenha a abordagem “realista” de Hatred (as devidas aspas por ser feito de cartão) e esteja dentro da estética do catálogo da Devolver, com exímia pixel art, não deixa, porém, de ser extremamente violento. Neste shooter bidimensional com um estilo retro, disparar uma caçadeira à queima-roupa transforma automaticamente o nosso adversário numa mancha de pixels vermelhos, vaporizados, e as execuções são do mais retro-violento que podemos encontrar.
A violência existe e é brutal, ainda que para muitos com menor valor de choque pela utilização de pixel art, mas ao contrário de Hatred existe como linguagem e como mensagem. O humor negro ao nível das linhas de diálogo dos personagens, de uma exibição da corrupção e da violência dos bastidores eleitorais que envolve, muitas vezes, a política. Há uma intenção com o frenetismo de sangue pixelizado que jorra pelo ecrã, pela adrenalina de percorrer os diversos pisos dos níveis a assassinar dezenas de bandidos e voltar para a carrinha que tão unicamente diz “Vote BunnyLord”. A política e a violência andam assim de mãos dadas, ainda que muitas vezes de forma dissimulada, nas sombras, e em que tantas outras vezes essa violência seja coerciva, psicológica, sob forma de uma pressão esmagadora.
Hatred e Not a Hero são jogos de géneros diferentes, com distintas utilizações da violência, mas lançados praticamente no mesmo período de tempo. Mas aquilo que realmente os separa é o conteúdo e a sua verdadeira intenção. Por debaixo da pele violenta de Hatred não existe nada para além de ar e uma tentativa pueril de chocar. Sob a pele de violência de Not a Hero existe a transgressão e a crítica visceral, de um político-coelho que não olha a meios para ser eleito. Vota BunnyLord!
Ricardo Correia, Rubber Chicken