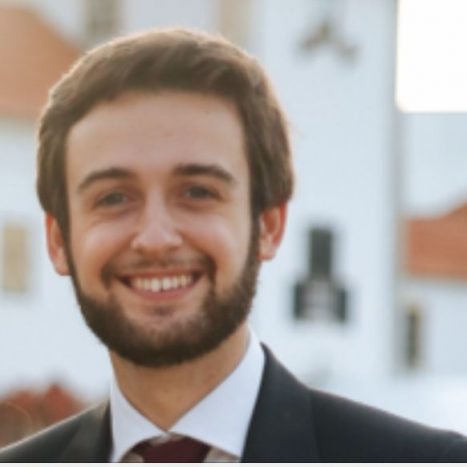Todo o bom e honesto trabalhador urbano já reparou, na sua rota matutina a caminho das penas do emprego, que há uns quantos motoristas multifacetados que aproveitam a condução diária para despachar tarefas menores: executivos que se barbeiam, senhoras que se maquilham, pais de família que esbofeteiam os infantes nas traseiras do monovolume, infantes que vomitam o Ucal na frente do bólide paterno, ou uma enorme quantidade de taxistas que aproveitam um semáforo para espreitar as gordas do jornal.
Também eu não escapo a esta linha de pecadilhos e, de vez em quando, na espera pela benevolência de um todo-poderoso condutor vindo da direita, tenho ensejos irreprimíveis de escalar à pressa as colunas de um pasquim. Porém, aquela adrenalina de menino rabino, a mirada rápida seguida de um certificado de que se escapou à vigilância policial, o revolver da barriga em constante temor pela asneira, tudo isto foi recentemente sedado: graças às obras de Lisboa, a mirada rápida transformou-se em leitura descansada e o jornal passou a todo um grosso livro. Com o empenho da empreitada municipal é possível, no tempo de um parco estágio do IEFP, ler todo o plano nacional de leitura no caminho para o trabalho.
Eu, pouco ambicioso, não me atirei ao guia estatal da sapiência, mas a umas leituras mais simples. Comecei pelo Marinheiro, de Fernando Pessoa, mas a descrição deprimiu-me logo: drama estático – diz o subtítulo – não precisava de ler, já o estava a viver. Decidi então passar a algo que fizesse esquecer o longo plantão do trânsito e voltei-me para a mais famosa volta do mundo: o livro em que Phileas Fogg o percorre em oitenta dias. A leitura empolgou-me: os capítulos marchavam sem que a estrada se mexesse e Júlio Verne levava-me a lugares exóticos a uma velocidade com que o carro nem sonhava.
Acabei o livro — aos mesmos dez carros de distância do cruzamento – e admirei a proeza do excêntrico apostador e do seu passe par tout humano; não consegui, no entanto, deixar de pensar que a verdadeira epopeia moderna é outra. Hoje em dia é mais fácil dar a volta ao mundo do que atravessar a rua; quem quer que se veja, à torreira do sol ou afogado pela chuva, a tentar decifrar os sinais dessincronizados do Rato ou do Saldanha, sabe que calcorrear o mundo é coisa de somenos. Verdadeira proeza moderna é, não tanto os oitenta dias de Phileas Fogg, mas as 16 horas em que Leopold Bloom conseguiu atravessar Dublin.
Lisboa, com as salutares melhorias que a câmara projecta, talvez se atravesse nesse tempo, mas até lá — comentava a minha companhia de viagem do fatídico dia em que esta aventura começa — para atravessar um século, demoraríamos outro. Do liberalismo à República, do largo Duque da Terceira (mais conhecido por Cais do Sodré) à Avenida da República, talvez cem anos chegassem para ir e voltar, embora ninguém o pudesse provar por não haver ninguém que aguentasse o caminho. Imbuído do espírito de Phileas Fogg, protestei: exagero certo, a travessia poderia ser trabalhosa, mas nada que um Português, filho da mais custosa travessia marítima, não conseguisse fazer.
A companhia discordou e surgiu a aposta: que eu não seria capaz de bater, num dia, as obras de Lisboa e o seu trânsito. Afirmei que seria e ainda disse mais: atravessava-as numa manhã, e à hora de ponta. Tinha apenas dois problemas: primeiro, não ter carta de condução (as leituras de jornal são sempre no lugar do morto). Descansou-me logo a minha companhia: entre a hora da partida e a primeira vez que o carro se conseguisse mexer, tinha tempo de tirar a carta. Além disso, continuei, precisaria da visão de um tuaregue para avançar no meio das tempestades de areia que causam as demolições, da intrepidez de um herói grego para me atirar para o meio de cruzamentos sobrepopulados, ou da solidez moral de um monge cisterciense para não me deixar ultrapassar por todos aqueles que, já sabendo que vão ter de virar, ultrapassam toda a bicha pela faixa do lado e se colam a nós com olhos suplicantes de quem não trapaceou uma legião inteira de motoristas atrasados para o trabalho. Como não tenho nenhuma destas qualidades, nem músculos que permitissem enfrentar os empolgados que fazem do seu mini cooper o tanque de batalha, nem suficiente dose de estoicismo que permitisse ignorá-los, decidi contratar uma ajuda.
Acordar a horas
No dia seguinte, às 8 em ponto, um táxi apanha-me em Belém e invisto-lhe a armadura de fiel ajudante de campo até chegar ao fim da Avenida da República. O roteiro, escolhido por um adversário soez mas astuto, está projectado de maneira a que se encontrem as duas cúspides: a hora de ponta e os maiores bicos de obra de Lisboa. Começa pela 24 de Julho, vai-se de Santos até ao Cais do Sodré, daí passa-se pela Ribeira das Naus (já que não se pode entrar na Rua dos Bacalhoeiros) para subir até à Graça, desce-se a caminho dos Restauradores e atravessa-se a Avenida da Liberdade, até chegar à linha dos políticos: Marquês de Pombal, Fontes Pereira de Melo, Saldanha e finalmente Avenida da República. Lá, tenho o meu oponente descansado num café, a ler a volta ao mundo em oitenta dias, preparado para me acolher em ombros sem cair na armadilha do fuso horário.
A chegada do táxi satisfaz-me. Não me saiu o monge impassível pretendido, mas talvez não me saia mal com um Al Capone. O condutor é um verdadeiro extorsionista das ruas: amedronta velhotas nas passadeiras, estrebucha, chantageia os condutores e solta imprecações contra os sinais. Uma coisa apenas me preocupa: esta é uma prova de resistência, e se o meu companheiro salta ao ritmo de um jogador de boxe ainda antes de chegarmos a Alcântara, e se até sua aqueles estranhíssimos xadrezes de madeira para as costas que só os associados da ANTRAL conseguem descobrir, temo que claudique antes da meta. Como em tudo, a experiência ganha à ignorância. Percebo depressa que o táxi se agita desta maneira porque tem muito tempo para descansar. Logo no calvário há o primeiro intervalo.
Há valas abertas dos dois lados, barreiras de fita bófia mas trabalhadores nem vê-los. Pensei, primeiro, que se encontrassem resguardados nas trincheiras cavadas por eles próprios, com medo da fúria guerreira dos carros lisboetas; depois, julguei que não seria grande estratégia militar: afinal, os carros é que estavam cercados, obrigados a passar um a um num imenso largo que afunilava, à moda dos índios prontos para o ataque. Espero a carnificina, tremo mesmo, que os buracos das estradas não são grande prognóstico para aqueles que furarão o meu corpo. Debalde; nem ataque nem nada, tudo deserto na zona de intervenção.
Passaram dez minutos desde que cheguei ao Calvário, esperei a morte num campo de batalha e não tive nem morte nem avanço. À minha frente, um condutor sai do carro. Tomei-o por um pragmático de formidável ética laboral: já que não consegue chegar ao emprego e que na obra pública parece haver falta de mão-de-obra, cuido que irá pular a cerca e alcatroar o pavimento. Nada. Nem avança para a terra devastada, nem avança para tentar resolver o imbróglio das rotas cruzadas de autocarros da Carris, entupidos no viveiro de latagões cor-de-laranja que aquele largo enreda. É apenas um espírito livre, que gosta de arejar os sapatos à poeira do betão desfeito e inspirar o revigorante aroma da combustão.
O grande problema – está visto – é a passagem dos autocarros. No passa a palavra da fila indiana invoca-se o sentido de dever dos engenheiros encontrados no trânsito para formarem um rápido comité de resolução do problema. Saem três, nenhum com aspecto de ter um diploma técnico que os capacite para o caso. Dois mais parecem aptos para repetir o drama do verdadeiro Calvário, vitimando os motoristas, outro tem apenas ar de quem gosta de estar em cima do acontecimento. Como o medo é melhor lógico do que a cartografia urbana, lá se conseguem entender os motoristas com precedências, marcha à ré e fé nos Homens. Calvário: 25 minutos e sem nenhuma execução na toponímia mais propícia a acontecimentos de tal ordem. Nesse dia, porém, estou destinado a ser apenas o Gil Eanes da minha travessia: passo só o primeiro obstáculo. Não por falta de estrutura psicológica, mas por falta de orçamento. A bandeirada já vai tão alta que tenho de adiar a viagem por dois meses para angariar fundos.
Hoje, já mais abonado e já sem obras no Calvário, chamo o mesmo táxi e lá sigo — sem problemas de maior no largo da crucificação — rumo à primeira batalha, que promete: 24 de Julho.
As obras são o problema
Parece que, há dois séculos, a entrada em Lisboa neste dia foi rápida. Só o foi, porém, porque a tropa malhada não entrou por esta Avenida. À esquerda, o Infante Santo repete nos condutores o cativeiro que lhe infligiram em Tânger – quem entra, por lá há-de morrer; à frente, em Santos, nem os maiores entre eles acreditam na escapatória ao Inferno: estreita não é a porta que leva ao Céu, diante da faixa única em frente ao jardim de Santos, esburacada e pintada com alta sobreposição de riscas amarelas e brancas contraditórias; aliás, chegado a Santos, a única pessoa que vejo contente com a situação é um miúdo desportista, que tomou as riscas incompreensíveis das faixas por um igualmente hermético campo de basebol.
Vejo, estranhamente, poucos miúdos: não sei se os pais se resignaram à ideia de que, com o tempo que demorariam a levá-los à primária, já eles tinham crescido e tirado a carta ou se a baixa da natalidade é de facto um problema sério. Sei que, milagrosamente, o meu percurso não é em parte alguma interrompido pela série “sai do carro – entorna o leite já com a porta aberta para não poder arrancar – limpa o leite – vai ao porta-bagagens buscar a mochila – beija o pai – entra na escola – volta atrás para buscar o cesto, repetida ad nauseam (náusea essa que sabemos quando chegou na altura em que um destes miúdos além de entornar o leite vomita nos estofos do carro)”.
As obras, essas sim, são o grande problema. Guinadas dos carros que não querem testar a suspensão nos buracos, o martelar das alfaias que até abafa as buzinas, o cimento líquido que todas as rodas parecem arrastar, tal a dificuldade com que avançam. Depois de um troço particularmente difícil dá-se o primeiro erro da nossa odisseia. O taxista abre a janela para protestar contra um camião que, com toda a lata, descarrega montes delas em hora de ponta. Ora, o taxista não pensa que o seu tripulante pode não estar tão habituado ao clima de fumeiro como ele. Entre o fumo e um proceloso levantamento de areia, apanho um ataque de asma de meia-noite e somos forçados a entrar na Infante Santo para que na CUF me tirem a pieira.
Desiludam-se os pessimistas: entre o tempo da aerossol e do taxista inverter a marcha, ninguém (coisa única nesta viagem) teve de esperar. Pena que, com os sobressaltos dos brônquios, não pude meditar nos projectos tessálicos para o jardim de Santos ou na lenda absurda propagada pelo taxista de que entre as faixas de uma estrada com vista para o Tejo iam afilar um riacho. Entre a certeza matemática de que os taxistas são os maiores propagadores de mitos urbanos e a confiança na capacidade dos nossos governantes equipararem Lisboa às grandes cidades europeias e, com isso, criarem um rio à escala do grande caudal de Madrid, ainda teria hesitado; mas a experiência da doença deixou-me mais céptico, quer quanto às informações de um sócio da Autocoop, quer quanto às capacidades dos nossos autarcas.
Entre a 24 de Julho e a saída de Santos, com o percalço hospitalar pelo meio, demorei uma hora e meia. Não posso dizer quanto demorei no troço seguinte porque, com o cansaço do estrépito alérgico, acabei por adormecer. Não vi, portanto, o jogo de cintura do meu motorista a bailar por entre os troços cortados do Cais do Sodré, nem o seu comportamento ordeiro na filinha pirilau que contorna o campo das cebolas; sei todavia que, a chegar à Graça, houve um despique violento entre os nautas e as autoridades. Parece que um funcionário da EMEL mais escrupuloso aproveitou para multar os carros todos. De pouco lhe interessava, dizia, que os donos estivessem dentro dos carros: com o tempo que levavam parados no meio da estrada, tratava-se de um caso flagrante de estacionamento indevido. Como na Alice no país das maravilhas, em que a rainha insiste que, se o gato tem cabeça, ela pode ser cortada e os guardas rebatem que, sem corpo, não podem cortar a cabeça, também aqui polícia e pilotos discutiam a ontologia do estacionamento. A este episódio conheço-o apenas porque, mais tarde, o meu auriga explicou pesaroso que não conseguia apitar porque já tinha a buzina afónica, do tanto que ela rouquejou nessa altura.
Na verdade só acordei muito depois, quando uma bátega de água caiu sobre o vidro do carro. Estremunhado, ainda pensei que já tivesse chegado o Inverno; no entanto, era apenas um desses trabalhadores voluntariosos que lavam vidros nos semáforos sem dizer água-vai; o pobre lavador, em vez de limpar, saiu ele com uma ensaboadela do meu condutor. Ora, as ameaças foram de tal ordem que até a mim, que não fui contemplado com nenhuma, me tiraram o sono. Estávamos na Avenida da Liberdade, prontos para entrar no Marquês. Porém, azar dos Távoras, que parece não ser tão incomum assim por aquelas bandas, um camião tinha chocado com o túnel, represava a entrada a quem queria sair de Lisboa e a rotunda estava o caos. A custo – e não sem que o esquecimento das habilidades do meu cicerone fosse uma tremenda injustiça – escapámos para a Fontes Pereira de Melo.
No aconchego do autocarro
O primeiro troço faz jus ao nosso grande empreiteiro oitocentista: todo ele é uma obra monumental. Registo com satisfação a homenagem, mas logo a seguir fazem por me esbater o sentimento. É a primeira vez, em toda esta Odisseia, que me vejo penalizado pela troca recente dos jornais pelos livros. Ocupado com as fantasias proféticas de Júlio Verne, não sabia que a marcha dos taxistas galgava as Avenidas lisboetas, no chouto pesado de uma legião romana, em direcção a mim. Perguntei ao meu condutor porque é que ele não participava, ao que ele explicou que, a respeito de marchas lentas, bastava-lhe percorrer Lisboa, não precisava que as organizassem.
O argumento satisfaz-me, mas temo que os algozes da Antral ofereçam mais resistência a esta dialéctica capciosa. É que de facto a marcha avança, na toada bélica a lembrar a das valquírias, e eu, encravado no trânsito, já lobrigo o olhar assassino que os batedores lançam ao meu fiel fura-greves. Os olhares vertem-se em murmúrios, os murmúrios crescem para gritos e quando dou por mim tenho a porta da frente do carro aberta e o meu motorista a entrar em vias de facto (únicas vias em que, de facto, se consegue entrar naquele momento) com os seus, passe a ironia, compagnons de route. Cabe-me gabar-lhe a coragem, até porque não sei se não o faço em jeito de epitáfio ou de simples relatório médico: sei que o homem foi engolido e não mais o vi.
É desta forma que me vejo obrigado a arranjar um novo Homem do Leme, levado o primeiro e com ele a esperança de chegar ao fim, pelo mar de taxistas. O mar, aliás, lembra-me a minha situação, semelhante à do náufrago, morto à sede no meio da água. Também eu me vejo apeado em plena concentração de motoristas encartados (pelo menos espero eu que encartados). Insisto com alguns para que me levem e tenho a infeliz ideia de lembrar que a preferência pelo táxi na vez do Uber devia ser recompensada. Lembrei-me disto, mas esqueci-me de que proferir a palavra maldita diante de um pelotão assanhado podia não ser boa ideia.
Não foi difícil apanhar um autocarro que me deixasse na ponta final da Avenida da República; difícil foi manter-me lá dentro, entalado entre as mochilas de dois adolescentes, surdo à conta dos gritos de protesto de um bebé fortemente opositor da concentração geográfica, atabafado pelo excesso de azoto e consumido pelo dilema que motivava o despique de duas reformadas. Uma, mais adepta do positivismo jurídico, fechava a janela apontando para o sinal que as mandava manter fechadas por estar o ar condicionado a funcionar. A outra abria-a e respondia que, se o ar condicionado estivesse de facto a funcionar bem, ela não precisaria de abrir a janela. A primeira invertia o argumento – por se abrir a janela é que o ar condicionado não funcionava bem, precisamente por isso é que estava lá o aviso – ao que a segunda perguntava por que razão, sendo assim, se fariam janelas que se podiam abrir, se não fosse por se admitir excepções ao funcionamento do ar. Condicionado ou não, o ar faltava de qualquer maneira e eu estava prestes a desmaiar. O que me valeu foi que, com a quantidade de gente que entrava e saía do bus (que abrevia o latim omnibus, que significa para todos, coisa que os autocarros portugueses insistem em cumprir à letra enfiando lá a população inteira), não precisei de fazer grande esforço para sair no meu destino. Fui literalmente arrastado, o que transformou a minha chegada gloriosa ao fim da travessia num espectáculo decadente.
Parei de rojo em frente ao café, cheio de hematomas, não muito longe do escorbuto e a contas com um empréstimo que, caso ele regressasse da liça, teria de contrair para pagar a do táxi. Do meu oponente recebi uma palmadinha nas costas que me soube pela mais dourada palma da vitória e de Deus a bênção de assistir in loco à melhoria da urbe e à demonstração da força do povo. Sorte a minha que o povo é exibicionista da sua força e propenso a piqueniques que também expõem o seu apetite e, de caminho, cortam estradas e pontes. Provavelmente amanhã repete-se a experiência. À mesma hora. Ou, a bem dizer, às mesmas horas.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.