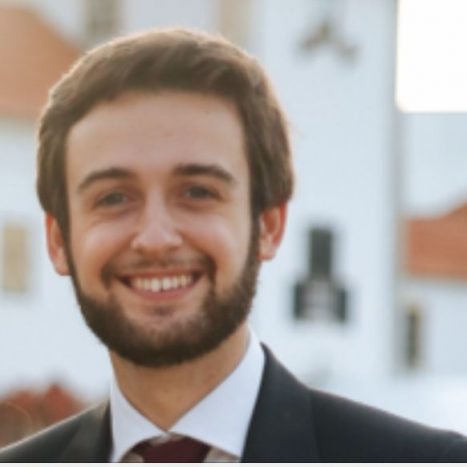Título: “Memórias Íntimas e Confissões de um pecador Justificado”
Autor: James Hogg
Editora: Sistema Solar
Páginas: 320

Entre Maio e Novembro de 1941, em plena Guerra Mundial, C. S. Lewis foi publicando umas cartas fictícias de um demónio ao seu sobrinho, com instruções sobre como levar um Humano até ao mal sem que este percebesse. A reunião destas cartas – a que em livro se chamou Screwtape Letters – tem o bom-senso que falta a muitas representações do mal: percebe que, para ser feito, o mal tem de se parecer com o bem, de outra forma não nos interessaria.
A iconografia popular, mais gafeira, também representa por vezes este princípio. As manhas do diabinho da mão furada, a figura grotesca dos demónios — meios homens, meios bodes, meios homens, meios mulheres – no quadro do Inferno do MNAA são exemplos mais rústicos desta dissimulação. O facto de apresentar este traço descoberto, porém, acaba por lhes tirar interesse. Isto é, o interesse do mal dissimulado está, precisamente, no facto de estar dissimulado, de não se perceber que está de facto a enganar.
A diferença entre estas representações e o carácter enganador do Mal é a mesma que entre um palhaço e um actor: se já o apresentamos como mascarado, se já o apresentamos como enganador, estamos a garantir que não engana ninguém. Por outro lado, se não o apresentarmos como tal, corre o risco de não se apresentar como Diabo. O dilema é claro: se avisamos que engana, não conseguimos que engane e a representação torna-se inofensiva e artificial; se não dizemos, pode enganar mesmo e nem passa por representação. Daí que o esquema de C. S. Lewis seja interessante: ao pôr o discurso na boca do diabo, dá sempre ao leitor a certeza de que é o mal que fala; no entanto, apresenta-o sempre como aquilo que se deve fazer. O jogo consiste em tomar sempre as palavras no sentido contrário do que significam, embora muitas delas, se não as soubéssemos ditas pelo demónio, parecessem conselhos úteis.
Com isto, C. S. Lewis conseguiu dar ideia da dimensão enganadora sem a perder na descrição. Igual logro só o de James Hogg, cento e vários anos antes, com as Memórias Íntimas e confissões de um pecador justificado.
O esquema de Hogg é até mais curioso: numa primeira parte, uma falsa introdução do editor (Macpherson e o seu Ossian não são os únicos britânicos quase românticos a gostar de mitos e tradições perdidas) conta a história de uma família antiga da Escócia. Um nobre, Dalcastle, casa com uma Puritana que desde a primeira hora lhe condena o espírito mundano. Nem a existência de um filho os aproxima, e muito menos a existência de um segundo: é que neste suspeita-se da interferência do pastor entre os parcos negócios conjugais. Daí que Dalcastle não o perfilhe e o pequeno Robert acabe por ser criado pelo pastor, Mr. Wringhim.
É na relação entre Robert e o seu irmão, George, que se vai centrar a primeira parte da obra. É que o filho da suspeita cresce com um ódio louco ao irmão: persegue-o, atormenta-o, segue-lhe os passos com uma pertinácia sobre-humana e um conhecimento sobrenatural do seu paradeiro. O toque misterioso das perseguições, aqui e ali complexificadas, parece alinhar com a vaga romântico-satânica, nebulosa, tão fértil na literatura saxónica: fala-se de possessão, de mistério, de sobrenatural, com o próprio narrador perplexo diante de tamanho ódio.
A segunda parte, contudo, dirime os excessos de misticismo romântico que aqui e ali encontramos na primeira. Naquilo que forma propriamente as memórias do pecador – pois é do caderno de memórias do pequeno Robert Wringhim que se trata – James Hogg submete o sobrenatural (que não deixa de existir, é certo) a uma lógica compreensível e justificada. Além do brilhantismo literário que permite repetir o enredo sem causar enfado, além do jogo filosófico que transforma a acção a partir da mudança de ponto de vista, as Memórias têm um problema moral que faz delas um dos grandes romances da literatura Europeia.
Wringham, ficamos a saber no diário, encontra um rapaz brilhante no dia em que percebe completamente a sua conversão ao Calvinismo. Ora, a maneira habitual de encarar esta conversão baloiça entre um fanatismo e uma hipocrisia que se confundem, sem percebermos sequer que estes são contraditórios: o hipócrita não acredita no que está a dizer, o fanático não só acredita como é provavelmente a única coisa que lhe interessa. A conversão de Wringham é sincera e por isso é que é assustadora. A entrada do jovem (que sabemos ser o diabo) na vida dele é preocupante, não porque mostre os males do fanatismo, mas porque mostra que mesmo o mais pio dos Homens está sujeito a ser enganado. O diabo, neste livro, não se aproveita de uma má intenção, mas sim de um erro: a doutrina da predestinação é usada como cordel capaz de manejar os actos de um rapaz que acredita estar apenas a servir o seu Deus.
O demónio é destro tanto nos fins como nos meios: aquilo que pede nunca implica uma clara aceitação do Mal, nunca é sequer uma prática radical; entra de mansinho, com pele de cordeiro e até de Cordeiro de Deus. Hogg descreve na perfeição a forma como o mal nos tenta: nunca nega as nossas teses, vence-nos pela razão e usa em seu proveito a cegueira da vontade. O demónio de Hogg é belo e pluriforme, atractivo e repelente ao mesmo tempo. A linguagem, por sua vez, absorveu também os traços do demónio: é rica e vigorosa, muito viva mas ao mesmo tempo ácida, adequada na perfeição ao tema. O tradutor, com uma dificílima tarefa pela frente, conseguiu dar ideia da riqueza linguística de James Hogg, da forma como consegue colorir o livro sem recorrer a grandes imagens e comparações, apenas com o uso da palavra e do tom certo. É económico sem ser pobre e rico sem se exibir. Não deixa de ser irónico: por captar tão bem a alma negra do Hades é que nunca deixará o Olimpo dos grandes escritores para o ir habitar.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.