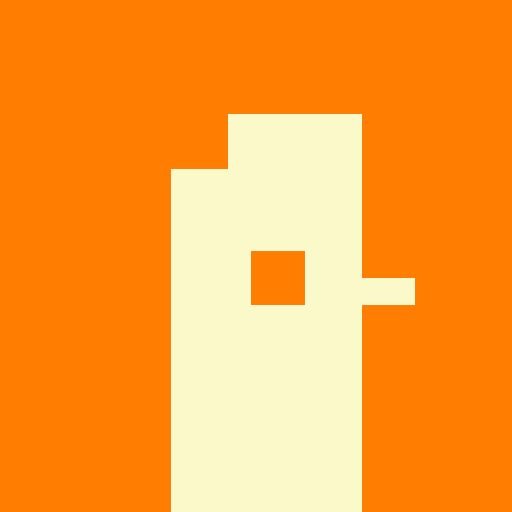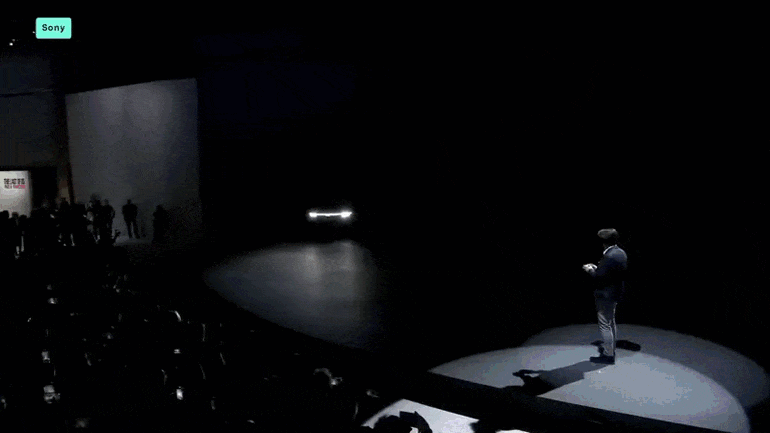Call of Duty (CoD) é uma das séries de videojogos mais conhecidas em todo o mundo e é também uma das mais rentáveis: os seus lançamentos anuais garantem largas centenas de milhões de euros à Activision, a gigante norte-americana dona dos direitos e produção. Terminado o desenvolvimento de Call of Duty: WWII, o recém-lançado título da série CoD e o terceiro jogo da marca a ser produzido pelo estúdio Sledgehammer Games, estivemos à conversa com Alejandro Gil, Diretor Artístico do modo multiplayer do jogo.
Este é o vosso terceiro Call of Duty, o segundo pela Sledgehammer Games a solo. O primeiro foi desenvolvido em parceria com outro estúdio. Achas que a equipa sente a pressão e o peso da série nos ombros?
Não sei o que todos esperam de um Call of Duty. No estúdio, sentimos que é um jogo muito importante e que a base de fãs é gigante. Portanto, preocupamo-nos com o seu desenvolvimento porque é uma responsabilidade enorme produzir um título com esta dimensão. De resto, o céu é o limite. Mas é um jogo que pertence a um universo específico e que tem de se manter dentro do franchise mas, ao mesmo tempo, o estúdio quer inovar e torná-lo diferente a cada iteração.
Deram um salto gigantesco desde o último jogo que desenvolveram, mais futurista, para este que se passa nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Como foi mudar drasticamente o ambiente e o visual?
Há duas respostas para essa pergunta: primeiro, tivemos que ser exatos nas localizações e investigações, que foram apoiadas pelo nosso conselheiro histórico, e depois tivemos muitas conversas sobre os locais, que fomos ver pessoalmente. Além disto, também fizemos uma pesquisa para os dois modos de jogo e partilhámos essas informações com a equipa que desenvolveu o modo single player. Também tivemos de encontra o tom correto, a emoção certa, porque se trata da Segunda Guerra Mundial, que foi um dos maiores momentos na História humana e, ao mesmo tempo, um dos mais sombrios. É, portanto, um assunto muito delicado que teve que ser manuseado com muito respeito. Tudo foi tomado em consideração: a exatidão da pesquisa, a tentativa de dar ao jogo o tom emocional correto respeitando toda a gente para que nenhum dos países envolvidos — não só a Alemanha — se sentisse ofendido.

Em termos de design, direção artística e gestão das equipas, há uma diferença entre trabalhar com a história da Segunda Guerra Mundial e com algo mais futurista?
Sim. No Advance Warfare demos menos ênfase à pesquisa e apostamos mais em artistas que criaram conceitos para máquinas e que pensaram em como é que o futuro poderá ser. É uma liberdade diferente. Um dos desafios na direção de arte deste jogo foi filtrar toda a informação disponível, desde fotografias a vídeos, passando por filmes e documentários. Foi avassalador e extremamente difícil encontrar, durante o tempo que tivemos disponível parar criar o jogo, as partes certas para usar. Para nós, esta foi a pior parte do processo.
Foi decisão da Sledgehammer Games voltar às origens da série Call of Duty? Vimos a série alcançar o futuro e agora voltou ao passado, onde a começou.
Acho que foi uma decisão tomada em muitas frentes. Quando estava a trabalhar para o Advance Warfare, nos DLC, a título pessoal, começámos as pesquisas e os projetos para o próximo jogo e atirámos muitas ideias para a mesa. Voltar à Segunda Guerra Mundial foi apenas uma delas. Mas, depois de várias reuniões e conversas a nível executivo com a Activision no estúdio, tornou-se numa ideia consensual. Estávamos todos muito entusiasmados por “voltar” à Segunda Guerra Mundial e fazer algo diferente a nível conceptual e artístico. É muito importante para os jogadores fazerem algo diferente num jogo novo, mas também o é para os developers. O processo de criação de um jogo como este é longo — dura cerca de três anos, — portanto a ideia de passar os próximos tempos a fazer algo diferente é sempre muito apetecível. Não foi uma decisão difícil no estúdio, foi aceite quase imediatamente por todos.
Achas que o sucesso recente dos vossos competidores principais — o Battlefield, que foi até à Primeira Guerra Mundial — teve influência na vossa decisão de voltar atrás no tempo até os anos 40?
Não posso falar por todos, mas não acho que tenha tido influência na nossa decisão. O Call of Duty começou na Segunda Grande Guerra, faz parte do seu ADN. Não foi preciso olhar para outro lado para tomar a decisão de voltar a esse tempo.
Nas mecânicas, notámos que voltaram ao estilo clássico, por exemplo, na gestão de “vida”. No mercado atual, costuma ser regenerada automaticamente. Porque é que decidiram voltar a este formato?
Há muitas diferenças no single e no multiplayer, mas a cola que junta a experiência tem a ver com dar ao jogador uma sensação de equipa. É claro que o multiplayer já é assim na sua base, mas foi por isso mesmo que introduzimos mecânicas para ter mais colaboração e menos individualismo de forma a que todos atinjam o objetivo em equipa. No single player, a maneira de fazer isto é através da “vida”. Habitualmente, entramos numa zona armados e a disparar indiscriminadamente, matando todos os que apareçam à nossa frente. Precisamos de pensar bem, observar o ambiente, os companheiros que temos e quem é que nos pode ajudar com “vida” ou munições. Isto faz com que o jogador seja mais uma parte do esquadrão do que um elemento solitário.
A maior crítica que apontamos a Call of Duty é a sua saída anual e a falta de tempo e espaço para respirar criativamente. O que é que fazem para inovar a série? Os jogadores e a comunidade quase não têm tempo para esquecer o jogo anterior quando pegam num novo.
Só lançamos um jogo a cada três anos porque o ciclo dentro do estúdio é bastante longo. Temos tempo para testar e eliminar ideias, fazemos uma seleção enorme, como aconteceu com a gestão de “vida”. Acho que a pressão vem da empresa e não do estúdio. Temos tempo para inovar.
Falando em inovar: antes da Sledgehammer pegar nos Call of Duty, estes eram vistos como um standard técnico e mecânico dentro do género. Hoje podemos dizer que são tecnicamente brilhantes, mas falta-lhes a habilidade de definir o mercado e de inspirar outros developers. Achas que conseguiram contribuir para meter o Call of Duty dentro desse nível de influência?
Acho que sim, sem dúvida. Um dos desafios, depois do estilo caracteristicamente rápido dos últimos jogos, foi introduzir o standard de ter o jogador no chão a rastejar. Torná-lo mais tático e fazer com que cada decisão tenha consequências. Esta é uma aproximação fresca a um tema antigo, como a Segunda Guerra Mundial, e pode ser o standard de ritmo e velocidade que irá inspirar outros jogos daqui em diante.
Sinto nos jogos Call of Duty da Sledgehammer Games uma aproximação com o cinema, através da utilização de grandes atores como o Kevin Space,no Advance Warfare, e agora neste WWII com o aparecimento de David Tennant, no modo Zombie Nazis. Como é a experiência de incorporar tão bons atores na vossa criação e num meio como os videojogos?
Acho que a indústria de jogos como um todo está a reclamar o seu lugar no entretenimento ao lado do cinema. Não somos só que estamos interessados em trabalhar com grandes talentos, eles também estão. Isto abre as portas para que queiram trabalhar connosco. Sempre quisemos que os atores tivessem capacidade dar a emoção que achamos necessária. Foi muito importante para nós.
Entrevista: Ricardo Correia
Tradução: João Machado, Rubber Chicken