“Crepúsculo do Colonialismo” é o título do novo livro de Bernardo Futscher Pereira e é a continuação de “A Diplomacia de Salazar”. Se o primeiro abordava o período entre a a ascenção de Salazar ao poder e a adesão de Portugal à NATO, este segundo volume (com o subtítulo “A Diplomacia do Estado Novo”) analisa os acontecimentos ocorridos entre 1949 e 1961.
Este último é o ano da independência de Goa mas foi uma década antes que o processo se iniciou. E são os acontecimentos que marcam esse começo que compõem o excerto de “Crepúsculo do Colonialismo” (que chega às livrarias esta terça-feira) que o Observador revela nesta publicação.
O autor, Bernardo Futscher Pereira (n. 1959) é mestre em Ciências Políticas e em Relações Internacionais pela Universidade de Columbia, em Nova Iorque. Foi jornalista até 1987, quando entrou para o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Como diplomata, esteve colocado em Tel Aviv, em Bruxelas, em Barcelona e no Ministério da Defesa Nacional. Entre 1999 e 2006, foi assessor para as Relações Internacionais de Jorge Sampaio na Presidência da República. É embaixador de Portugal em Dublin desde abril de 2012.
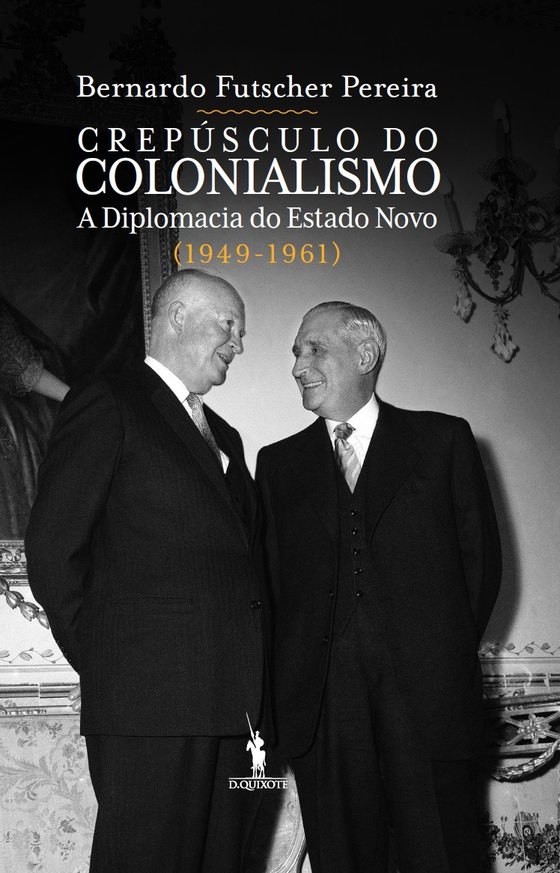
“Crepúsculo do Colonialismo”, de Bernardo Futscher Pereira (Dom Quixote; publicado a 16 de maio)
Tensões com a Índia
“A ameaça que pairava sobre Goa, Damão e Diu era menos imediata mas tinha maior repercussão emocional em Portugal, devido à importância histórica da presença portuguesa na Índia. No final da guerra, ativistas goeses animados pela perspetiva da independência da União Indiana começaram a reclamar a integração das províncias portuguesas na mãe pátria. Esse surto de contestação foi duramente reprimido pelas autoridades portugueses, em flagrante contraste com a atitude adotada pelos ingleses. Indignados, Gandhi e Nehru sinalizaram de imediato que, mais tarde ou mais cedo, tencionavam pôr fim ao Estado Português da Índia.
O assunto foi no entanto posto entre parênteses após o estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a Índia em agosto de 1948, matéria em que Lisboa se empenhara a fundo e a que Deli apenas acedera após grandes demoras e hesitações. Antes de voltar à carga com a questão da soberania, as novas autoridades indianas concentraram-se em eliminar os vestígios da influência portuguesa no subcontinente resultantes do Padroado do Oriente, matéria regulada pelo Acordo Missionário anexo à Concordata de 1940.
O Padroado era uma velha relíquia do Império Português na Ásia. Em reconhecimento pela obra de evangelização conduzida por missionários portugueses no Oriente, a Santa Sé concedera em 1544 à diocese de Goa um direito de padroado – o privilégio de nomear prelados – em vastos territórios da Índia, do Extremo Oriente e da África. Esses exorbitantes privilégios cedo começaram a ser contestados em Roma, designadamente pela Propaganda Fide, a organização missionária estabelecida pela Santa Sé em 1622, dando origem a tenazes disputas com a Coroa portuguesa. Só no século xix, pelas concordatas de 1857 e 1886, e posteriormente em 1928, renunciou o Estado português a grande parte desses privilégios, aceitando circunscrever o Padroado, para além dos territórios sob soberania portuguesa, a algumas dioceses na Índia.
Em setembro de 1948, logo após o estabelecimento de relações diplomáticas, Krishna Menon, o alto-comissário indiano em Londres, entregou a Palmela um memorando sobre «a posição da Igreja nas possessões portuguesas na Índia». O espírito legalista de Salazar reconheceu que, sendo agora a União Indiana um país independente, podia reclamar, perante o Vaticano, a aplicação do mesmo princípio consagrado na Concordata portuguesa, exigindo-lhe que só nomeasse no seu território «indivíduos que possuam a nacionalidade hindu [sic]». Ao mesmo tempo, considerava que renunciar ao Padroado constituiria «um desastre religioso e, simultaneamente para nós, um desastre político».
A opinião de Salazar coincidia com a do arcebispo de Goa e patriarca das Índias Orientais, título que lhe fora concedido pela Concordata de 1886. Fiel à injunção do Acordo Missionário – «ide e pregai a todas as criaturas» –, D. José da Costa Nunes tivera uma ação enérgica de evangelização, não apenas em Goa, mas ao longo de uma carreira inteiramente dedicada ao Padroado, que se iniciara em Timor e se prolongara durante mais de 20 anos como bispo de Macau. O patriarca, cujo conselho Salazar solicitava e prezava, achava que «não devemos ir ao extremo da intolerância, aliás inútil, mas de preferência antecipar-nos, renunciando ao Padroado, precisamente para não criarmos dificuldades ao Vaticano nem comprometermos o desenvolvimento do apostolado missionário neste imenso subcontinente». Mas, ao mesmo tempo, considerava que o fim do Padroado constituiria um golpe fatal para a existência do Estado Português na Índia: «Liquidado o Padroado, e substituído o Patriarca europeu por um Patriarca indiano, não haverá Governador, nem exército português que evite a perda de Goa, Damão e Diu.»
Perante um problema difícil, Salazar recorreu ao expediente habitual: ganhar tempo. Formalmente, o assunto dependia do Vaticano. Salazar determinou assim que se aguardasse por uma iniciativa da Santa Sé. Esta também não mostrava pressa. As conversas preliminares entre Lisboa e Roma decorriam com grande lentidão. A Índia, inteiramente à margem deste diálogo, começava a impacientar-se.
Em janeiro de 1949, poucos dias antes de apresentar credenciais como ministro de Portugal em Nova Deli, Vasco Garin teve uma longa conversa com Nehru. O chefe do Governo indiano abordou de imediato a questão do Padroado, pedindo resposta rápida; e não se fez rogado, em seguida, para deixar claro que a entrega das colónias portuguesas estava bem presente no seu espírito e era assunto a abordar mais tarde. Garin respondeu que Portugal não estava aberto a conversar sobre o tema. Nehru fez ouvidos de mercador.
Negociar sobre o Padroado era uma forma de atenuar tensões em torno do Estado Português da Índia. Mesmo assim, Salazar hesitava e protelava. Só em junho, quase um ano depois da entrega do memorando indiano, o problema foi desbloqueado graças a um parecer da eminência parda do Ministério, o secretário-geral interino António de Faria. Na sua opinião, era impossível adiar mais a resposta. Seguiram instruções detalhadas para o embaixador de Portugal no Vaticano dar início às negociações. A posição portuguesa baseava-se expressamente, tal como Salazar reconhecera quando fora inicialmente confrontado com o problema, na existência de uma soberania indiana, à qual não podia ser negada a possibilidade de nomear bispos para as dioceses em seu território. Era essa a fundamentação para Portugal se mostrar disponível a renunciar aos privilégios do Padroado.
Salazar aproveitou a abertura das negociações formais com o Vaticano em outubro para esclarecer publicamente a sua posição e preparar a opinião pública portuguesa para o fim do Padroado. Em discurso pronunciado na biblioteca da Assembleia Nacional, afirmou que «devemos entender-nos com a Santa Sé para dar à Índia a satisfação que for devida»40. Ao mesmo tempo, reiterava a intransigência no que respeitava à posse dos territórios do Estado Português da Índia. Salazar afirmava que a unidade geográfica era «um ideal, um critério, não uma razão e muito menos um direito, porque o direito é Goa estar integrada há vários séculos na soberania portuguesa». Estas palavras provocaram, claro está, uma réplica de Nehru no parlamento indiano.
A retórica subia de tom, mas sobrepunha-se ainda a preocupação de evitar a rutura. Conforme Portugal vinha reclamando, e em gesto de boa vontade, a Índia nomeou para Lisboa um representante diplomático. E quando, em finais de fevereiro de 1950, resolveu enfim pôr formalmente o problema da soberania, fê-lo em termos corteses e conciliatórios. A nota verbal dirigida ao Governo português solicitando a abertura de negociações sobre o estatuto de Goa, Damão e Diu começava por referir, em tom apreciativo, a disposição do Governo português para ceder na questão do Padroado e, torcendo no sentido mais favorável possível as palavras pronunciadas por Salazar meses antes, aludia à sua suposta disposição para resolver os problemas entre os dois países mediante negociações amigáveis. A Índia justificava a entrega dos territórios portugueses como uma inevitabilidade histórica e invocava, como precedente, as negociações entabuladas com a França sobre Pondichéry.
Ao receber o ministro indiano em Lisboa, Caeiro da Mata adiantou-lhe logo que a resposta portuguesa seria negativa, mas prometeu mesmo assim comunicá-la por escrito. Durante meses, Deli esperou pacientemente, evitando levantar publicamente o problema. Entretanto, Portugal tentava mobilizar a opinião pública internacional a favor da sua presença em Goa. Em Washington, um membro influente da Câmara dos Representantes, Joseph W. Martin, cuja circunscrição em Massachusetts incluía um grande número de portugueses, escreveu ao secretário de Estado Dean Acheson uma carta protestando contra a «aquisição» de Goa pela Índia. Mas o tiro saiu pela culatra. A resposta, assinada pelo assistant secretary Jack McFall, desagradou sobremaneira ao Governo português. Utilizava o termo inconveniente de «colónias» para designar o Estado Português da Índia, referia-se aos «vestígios» da soberania europeia na Índia e, pior ainda, parecia apoiar a ideia de um plebiscito para resolver o diferendo entre os dois países.
Em junho, Lisboa respondeu finalmente à nota indiana com uma negativa categórica. Três semanas depois, em meados de julho, numa tentativa para atenuar a tensão, Lisboa instruiu Garin a comunicar ao Governo indiano os termos do acordo de princípio concluído com a Santa Sé sobre o Padroado antes de ele ser assinado. Portugal renunciava ao privilégio de propor ao Vaticano bispos para as sés de Mangalore, Coulão, Trichinipoli, Meliapor, Cochim e Bombaim e desligava a Santa Sé da obrigação de nomear para estas duas últimas dioceses bispos de nacionalidade portuguesa. A delimitação da arquidiocese de Goa, criada em 1533 pelo papa Clemente VII e dez vezes maior que os limites da província, ficava porém adiada. As autoridades indianas não fizeram reparos e abstiveram-se de comentar a negativa portuguesa à proposta de negociações sobre a questão da soberania. O acordo com o Vaticano foi assinado em Roma a 18 de julho de 1950 por Tardini e Tovar de Lemos. Foi o último ato relevante de Caeiro da Mata como ministro dos Negócios Estrangeiros.”
***
“O acordo sobre o Padroado, em 1950, acalmara momentaneamente as relações entre Portugal e a Índia. A tensão deslocara se do plano diplomático para o burocrático: Nova Deli utilizava instrumentos administrativos para dificultar a vida económica em Goa, mas abstinha-se de colocar os problemas em termos políticos. O fim do Padroado deixara, no entanto, uma questão em suspenso: a delimitação da Arquidiocese de Goa, para a fazer coincidir com o território sob soberania portuguesa. Conforme os costumes nacionais, o Governo arrastava os pés. Em setembro de 1951, a União Indiana insistiu. A resposta tardou seis meses e, quando finalmente chegou, era dilatória. Portugal não encarava abordar tão cedo o assunto, pelo menos enquanto se mantivesse em funções o atual prelado.
Resignado ao fim do Padroado na Índia, Salazar queria consolidar a presença portuguesa em Goa e demonstrar a Roma, a Deli e ao mundo que renunciava aos seus privilégios históricos de cabeça erguida. Depois do acordo de princípio de julho de 1950 com o Vaticano, o regime procurara consolidar o estatuto da Arquidiocese de Goa e do seu titular, D. José da Costa Nunes. Nesse sentido, resolvera aproveitar as celebrações do quarto centenário da morte de São Francisco Xavier, em dezembro de 1952, ano santo, para fazer uma demonstração pública da importância histórica da presença de Portugal na Índia, da sua obra evangélica e da sua determinação em ficar. De Lisboa foi enviada uma importante delegação composta por numerosos dignitários políticos e religiosos e chefiada pelo cardeal patriarca, D. Manuel Cerejeira. Toda a operação foi objeto de vasta propaganda nacional e internacional. Banquetes e atividades culturais prolongaram-se durante semanas e culminaram com uma procissão solene transportando as relíquias do santo da Igreja do Bom Jesus à catedral de Velha Goa com a participação de prelados católicos vindos de toda a Índia.”
A Índia volta à carga
“A reação de Nehru não tardou. Em janeiro de 1953, em rápida sucessão, a União Indiana endereçou duas notas ao Governo português. A primeira insistia de novo numa solução para a questão da Arquidiocese de Goa. A segunda, cinco dias depois, colocava frontalmente o problema central, que ficara nos últimos anos em suspenso: o estatuto do Estado Português da Índia.
O Governo indiano afirmava sem rodeios ter chegado «à conclusão de que nenhuma solução desse problema é, neste momento, possível salvo na base de uma transferência direta que assegure em breve a união destes territórios com a União Indiana». Durante anos, esperara ansiosamente que «uma melhor compreensão do problema pudesse conduzir o Governo português a uma visão mais realista das coisas». Mas não. Pelo contrário, agravara-se a repressão em Goa. Quem se mostrava favorável à união com a Índia era punido, censurado, privado dos seus direitos ou mesmo deportado. A situação tornara-se insuportável. «As barreiras políticas artificialmente criadas por um acidente da história não podem já conter a torrente crescente dos instantes apelos à união nacional», declarava a nota de Nehru. Só havia uma solução, insistentemente referida: negociar «a transferência direta destes territórios para a Índia».

O autor, Bernardo Futscher Pereira
O tom cominatório da nota nada prenunciava de bom. A ameaça de rutura era clara. Portugal tentou interessar os seus aliados na matéria, sem grande sucesso. Os embaixadores dos Estados Unidos e da França foram compreensivos, sem mais. Já o representante inglês em Lisboa, Sir Nigel Ronald, «não mostrou o menor interesse».
A intransigência de Salazar tornava o diálogo impossível. Melhor assim, como de costume, refugiar-se no silêncio. Passavam os meses e Portugal não reagia. Após novas e infrutíferas insistências para obter uma resposta, Deli decidiu aumentar a pressão: em 1 de maio, avisou Lisboa da sua intenção de encerrar a representação indiana em Lisboa caso não começassem rapidamente as negociações solicitadas.
Desta vez havia que tomar posição: faria Portugal o mesmo ou, pelo contrário, optava por manter Vasco Garin em Deli? Consultado, o embaixador foi de opinião de que era melhor não entrar no taco a taco. «Pessoalmente, inclino-me a não nos desviarmos da política de deixarmos só ao Governo Indiano a iniciativa e a responsabilidade de todos os atos desagradáveis, descorteses ou violentos, colocando as nossas reações sempre em plano mais prudente e comedido. Isso terá a vantagem de nos deixar em posição moral inatacável perante a opinião pública internacional.»
Sem a força das armas nem a flexibilidade da negociação, Portugal optava pelas vitórias morais. No fundo, era já a política que conduziria ao desastre de 1961. A 15 de maio de 1953, o Ministério dos Negócios Estrangeiros respondeu pela negativa à nota indiana. Dias depois, o encarregado de negócios indiano em Lisboa informou que a legação seria fechada a 11 de junho.
Aberta em 1950 após porfiadas insistências da parte portuguesa, era encerrada menos de quatro anos depois. O golpe era duro e revelava ao mundo que as relações entre os dois países haviam entrado em rota de colisão.
Numa tentativa para baixar a temperatura, o Governo português acedeu por fim a negociar a delimitação da Arquidiocese de Goa, objeto da primeira nota entregue pela Índia. Em plena crise, o Vaticano fez finalmente o gesto que Salazar vinha reclamando, permitindo-lhe invocar, para salvar a face, que o prelado fora objeto pela Santa Sé de «novas e honrosas dignidades» que o levariam a deixar em breve a sua posição de arcebispo de Goa, que ocupava desde 1942. Salazar arrastara o assunto não apenas pela pouca vontade de ceder às pressões indianas, mas também por estar irritado e desiludido com a política do Vaticano na Índia. A animosidade do Governo português dirigia-se contra a Propaganda Fide, que queria confiar ao clero local a difusão da fé cristã e que Salazar considerava uma adversária de sempre da Igreja portuguesa e do seu esforço de evangelização no Ultramar. Salazar convenceu-se de que a política do Vaticano estava votada ao fracasso. A fé católica não poderia prosperar sem o apoio dos Estados. Por conseguinte, o fim do Padroado significaria o fim da propagação do cristianismo na Índia. A amargura de Salazar, para quem ceder o menor dos privilégios conquistados no passado pelos portugueses representava sempre um enorme sacrifício, era partilhada por D. José da Costa Nunes, que devotara a vida inteira ao Padroado e não queria ser o seu «coveiro».
Em janeiro de 1953, no encalço das comemorações da morte de São Francisco Xavier, poucos dias antes da receção das duas notas indianas, a Santa Sé elevara a cardeal o arcebispo de Bombaim, Valeriano Gracias, um prelado de ascendência goesa, nascido em Carachi e educado pelos ingleses, que pregava contra o colonialismo português.
Salazar chegara a depositar esperanças de que a Santa Sé designasse D. José da Costa Nunes para esse cargo politicamente importante para Portugal, pois Bombaim era o centro das atividades da oposição goesa. Salazar considerara a atitude da Santa Sé um agravo e mandara o embaixador português, José Nosolini, regressar a Lisboa para consultas.
Para normalizar as relações com a Santa Sé, Salazar insistia em gestos compensatórios de caráter honorífico para com D. José da Costa Nunes. Mas até estes tardavam. A Índia, por seu lado, ameaçava deixar de conceder vistos aos padres dependentes da arquidiocese de Goa para exercerem o seu múnus em território indiano. Tal medida seria embaraçosa para o Vaticano, que se veria forçado a protestar formalmente.
A pressão indiana conjugou os interesses da Santa Sé e de Portugal. Ambas as partes tinham interesse em finalmente resolver o problema da arquidiocese: o Vaticano queria evitar problemas com a Índia e Portugal mitigar a tensão em torno de Goa. Em maio, em plena crise diplomática com a Índia, foram finalmente concedidas a D. José da Costa Nunes as honrarias reclamadas, em boa verdade bem modestas. D. José foi nomeado vice-camerlengo da Cúria Romana e presidente dos Congressos Eucarísticos Internacionais e elevado a arcebispo. Portugal, por sua vez, apressou-se a comunicar à União Indiana estar finalmente disposto a proceder à delimitação da arquidiocese – como de facto sucedeu meses mais tarde, em setembro. Era um gesto conciliatório num momento de alta tensão, mas chegava tarde. A representação diplomática da Índia em Lisboa foi efetivamente encerrada e só voltaria a abrir depois do 25 de Abril.”
Captura de Dadrá e Nagar-Aveli
“Resolvida em setembro de 1953 a questão da arquidiocese de Goa, a pressão sobre Goa, Damão e Diu acentuou-se de novo a partir de finais do ano. Os entraves burocráticos à circulação de pessoas e mercadorias, as campanhas de imprensa contra Portugal e as declarações públicas de responsáveis indianos começavam a assumir um caráter intimidatório. A situação tornara-se «gravíssima», segundo reconheceu Salazar em Conselho de Ministros a 19 de janeiro de 1954. Na colónia portuguesa, os goeses católicos dividiam-se essencialmente entre partidários do statu quo e defensores de um regime de autonomia. A maioria dos opositores radicais do colonialismo português, que advogavam a integração na Índia, tinham migrado ou fugido para Bombaim. Na cidade, existia uma comunidade goesa com dezenas de milhares de pessoas. Era em Bombaim que os ativistas políticos da província, reunidos no Goan National Congress, estreitamente afiliado ao partido do Congresso de Gandhi e Nehru, orquestravam a contestação a Portugal e pressionavam Nova Deli a agir da forma consequente contra o Estado Português na Índia. O regime temia o contágio destas ideias e respondeu ao crescendo de agitação com uma vaga de prisões em Goa19, que atingiu um proeminente médico e ativista político da província, Pundolica Gaitonde. Exasperado, Nehru declarou no Parlamento a 16 de março de 1954 que a União Indiana estava a ponto «de perder a paciência» e não poderia permanecer muito mais tempo como «espectador silencioso» do que se passava em Goa.
Dias depois, em carta pessoal para Marcello Mathias, Salazar avaliava do seguinte modo a situação:
Estamos sob uma chuva de protestos, de campanhas jornalísticas, de interpelações parlamentares, de restrições de toda a ordem que atingem as pessoas e as mercadorias e agora até mesmo o correio. Suponho que os governantes da Índia estão a criar e a acirrar um tal estado de excitação que lhes será difícil voltar atrás. Devem arregimentar gente para desordens ao menos nas zonas fronteiriças e, se puderem convencer o mundo de que há um estado endémico de sublevação nas suas fronteiras, dar um golpe de força. Até ao presente temos tido apenas guerra fria, mas as afirmações pacifistas dos dirigentes hindus são tão repassadas de hipocrisia que não podemos crer que valham.
Em plena crise com a Índia, Paulo Cunha insistia com Salazar para abandonar o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Não se entendia com Santos Costa e queixava-se de cansaço e problemas de saúde. Para o substituir, Salazar e o próprio Paulo Cunha pensavam em Marcello Mathias. Havia também que substituir Rui Ulrich em Londres, que atingira o limite de idade. A primeira escolha, Supico Pinto, recusou como habitualmente. O lugar foi então oferecido a Pedro Teotónio Pereira, que há muito tempo o cobiçava. Para Teotónio Pereira, afastado da vida pública após a sua partida de Washington e amuado com essa situação, era uma espécie de reabilitação.
A agitação nacionalista na Índia não visava apenas as possessões portuguesas. As feitorias francesas estavam igualmente sob pressão. Quando o novo Estado indiano começara a reclamar a soberania sobre os enclaves estrangeiros, a França propusera organizar plebiscitos para decidir do destino dos seus territórios, solução que alguns, em Portugal, preconizaram igualmente para Goa. Em 1950 realizou-se uma votação em Chandernagor, que resultou na transferência da sua administração para a Índia. Entretanto, porém, resultados não satisfatórios em eleições municipais em Pondichéry e nas feitorias de Yanaon, Karikal e Mahé levaram a União Indiana a rejeitar o recurso ao plebiscito, exigindo a devolução pura e simples daqueles territórios que os franceses não queriam conceder.
A 31 de março, a feitoria francesa de Pondichéry foi invadida por satyagrahas, que içaram a bandeira indiana no posto de polícia de Nettapakkham. O caso foi reportado pela imprensa portuguesa dois dias depois. Na imprensa indiana, encorajada por declarações oficiais, multiplicavam-se os incitamentos à tomada dos enclaves franceses e portugueses. Nehru, em nome do pacifismo, resistia a soluções drásticas mas encontrava-se sob pressão crescente no parlamento e na imprensa para agir de forma decisiva contra os resquícios do colonialismo na Índia. Ao mesmo tempo, o governante indiano tomara consciência dos receios que a integração pura e simples na Índia suscitava entre grande parte dos goeses e modulava o seu discurso prometendo-lhes uma larga dose de autonomia.
A diplomacia portuguesa tentava neutralizar a campanha indiana internacionalizando a questão. A 3 de abril, uma circular enviada pelo MNE aos postos no estrangeiro denunciava perfídias e mentiras propagadas por Nova Deli. A 12, o próprio Salazar veio a terreiro. Num discurso transmitido pela Emissora Nacional, longo, argumentado e repassado de ironia, o ditador português respondia diretamente a Nehru e afirmava, sem pejo, os direitos de Portugal sobre os seus territórios ultramarinos. À moda do tempo, Salazar envergava as roupagens do ocidental, verberando a Europa por se sentir «envergonhada» dos atos dos seus descobridores, cujos vestígios procurava «o mais discretamente possível apagar». A verdade, porém, acrescentava, «é que progresso se mede ainda em toda a parte pelo grau de ocidentalização que se atinge e as regressões se verificam no sentido contrário». A terminar o discurso, Salazar invocava sem ambiguidades a aplicabilidade dos tratados de aliança luso-britânicos às colónias e citava igualmente o artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte, que prevê a possibilidade de consultas entre os signatários «sempre que estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das partes».
O Governo português não era tão ingénuo nem estava tão desfasado das realidades da política internacional que acreditasse poder contar com apoio militar britânico na eventualidade de uma agressão militar indiana contra as suas colónias. A Grã Bretanha já o recusara no caso de Macau e, por maioria de razões, o faria relativamente a Goa. Porém, apegado como sempre a argumentos jurídicos, não queria desperdiçar esse trunfo diplomático. As cláusulas dos tratados de aliança serviam pelo menos para pressionar Londres e obter vantagens políticas: o apoio da Grã-Bretanha a uma discussão do assunto em sede da NATO e declarações públicas que ajudassem a travar os ímpetos indianos.
Em Londres, Teotónio Pereira falou com Anthony Eden a 8 de abril, mas o foreign secretary esquivou-se a qualquer compromisso. Em finais de abril, Paulo Cunha aproveitou uma reunião do Conselho da NATO em Paris para apresentar as queixas e preocupações portuguesas e insistir com Eden. O Governo indiano também queria conhecer a posição de Londres e apurar quais eram exatamente as obrigações legais da Grã-Bretanha à luz dos tratados assinados com Portugal. O agravamento progressivo da crise e as pressões convergentes mas contraditórias de Portugal e da Índia obrigaram o gabinete britânico a debruçar-se sobre o assunto.
Em memorando discutido e aprovado em 5 de maio, Londres reconhecia a Salazar razão jurídica quanto à aplicabilidade da aliança e do artigo 4.º do Tratado de Washington. Politicamente, porém, seria «inconcebível» que a Grã-Bretanha prestasse apoio militar a Portugal contra a Índia. Qualquer discussão da questão ao abrigo do artigo 4.º do Tratado de Washington seria também altamente inconveniente, só servindo para «enfurecer» Nova Deli.
A Grã-Bretanha estava entre Cila e Caríbdis. Londres estava não só dividida entre os seus interesses e obrigações respetivamente para com Portugal e a Índia, mas também quanto aos méritos do caso. Acolher as pretensões de Nehru seria estabelecer um precedente que poderia facilmente ser invocado contra a própria Grã-Bretanha. Dar razão a Portugal seria apoiar uma posição que Londres considerava uma teimosia sem futuro.
Definida a posição, havia que dissuadir Portugal de invocar publicamente a aliança, para poupar a Londres o embaraço de admitir que não podia honrar um compromisso cuja validade reconhecia. Caso Lisboa insistisse nesse caminho, «inutilizaria toda a boa vontade possível deste Governo». Foi essa a mensagem transmitida a Teotónio Pereira pelo número dois do Foreign Office, Selwyn Lloyd, quando recebeu o embaixador português a 1 de julho. A posição inglesa foi recebida sem surpresa. Na verdade, o Governo português queria apenas declarações públicas de Londres para tentar suster Nova Deli. Mas nem essas conseguia obter.
A tensão no terreno continuava a subir. A 20 de julho, o governador de Damão comunicou para Lisboa «informações vagas que levam a supor a possibilidade de acontecimentos graves iminentes em Dadrá e Nagar-Aveli». Depois de inicialmente ter sido impedido sob pretextos burocráticos de se deslocar aos enclaves para verificar o que se passava, conseguiu finalmente visitá-los a 21, deparando-se com «fortes preparativos bélicos» que prenunciavam uma invasão.30 Forças indianas tinham cercado os territórios para impedir qualquer resistência a uma invasão de satyagrahas. No dia seguinte, uma coluna de voluntários – ou, nas palavras de Craveiro Lopes, «uma horda de bandoleiros a soldo» – tomou Dadrá. A ocupação não foi pacífica: a meia dúzia de polícias portugueses presentes no enclave resistiu; houve tiroteio, de que resultou a morte do subchefe Aniceto do Rosário e do guarda António Fernandes, ambos oriundos da Índia portuguesa. Consumado o ato, no dia 23 um grupo liderado por Francisco Mascarenhas, um goês da oposição baseado em Bombaim, entrou na sede do Governo, onde «partiram e rasgaram os quadros com as fotografias de Suas Excelências o Marechal Carmona, General Craveiro Lopes e General Benard Guedes e queimaram a Nossa Bandeira; depois colocaram uma fotografia de Gandhi».
A comoção em Lisboa foi imensa. O Governo português receava que a invasão de Dadrá fosse apenas o prelúdio de uma investida global para provocar a derrocada do Estado Português da Índia. A Lisboa chegavam notícias, através de Bombaim, de que o sucedido em Dadrá se repetiria em Nagar-Aveli. Para tentar averiguar o que estava a acontecer, o Governo enviou o Eng. Jorge Jardim para o terreno em missão secreta, a primeira de uma longa série. A imprensa indiana noticiava estar em preparação para 15 de agosto uma grande marcha de satyagrahas sobre Goa, Damão e Diu.
A máquina diplomática pôs-se em ação para tentar travar, e se possível inverter, o rumo dos acontecimentos. Salazar escreveu pessoalmente ao embaixador do Reino Unido em Lisboa, Nigel Ronald. Foram ordenadas diligências em Londres, Washington, Paris e no Rio de Janeiro. O Conselho da NATO foi posto ao corrente da situação. Em Nova Deli, Vasco Garin apresentou «o mais formal protesto» contra a «agressão», pediu que fossem levantadas as restrições que impediam o trânsito de portugueses pelo território para permitir às forças militares e às autoridades presentes em Damão restabelecer a ordem nos enclaves e advertiu as autoridades indianas de que qualquer nova incursão contra territórios portugueses seria reprimida de forma «intransigente».
A queda de Dadrá inspirava as maiores apreensões e foi imediatamente aproveitada pelo regime para uma campanha de propaganda nacional e internacional contra a «agressão» indiana. Porém, na vastidão da Índia, Dadrá não passava de um minúsculo grão de areia. O enclave era composto por três aldeias, com uma população de 3000 pessoas e uma fronteira de 10 quilómetros com a União Indiana. Perante o mundo, Lisboa apresentava a invasão do enclave como uma agressão deliberada, comandada por Deli. Mas é possível que Nehru tenha andado a reboque dos acontecimentos e que a iniciativa tenha partido dos grupos de oposição goesa em Bombaim, apoiados pelo governo do Estado.
A 28 de julho, a União Indiana respondeu formalmente aos protestos portugueses. Como seria de esperar, negava categoricamente queixas, factos e acusações e polemizava, acusando o Governo português de ser responsável do que se passara em Dadrá devido ao seu caráter repressivo do regime. Sobre o problema de fundo, alegava que «o Governo português está sem dúvida consciente de que as suas políticas repressivas estão desfasadas dos desenvolvimentos que estão a ocorrer no mundo, e em particular na Ásia. Em vez de fazer declarações acerca da defesa das suas colónias na Índia, devia aceitar a vontade do povo para uma fusão e reciprocar o desejo reiterado da Índia para um acordo pacífico e honroso».
Se em vez da «vontade do povo» se invocasse a «vontade do Governo indiano», nada haveria a dizer. Mas a «vontade do povo» era, nas circunstâncias, um conceito equívoco. Para o «povo» indiano, absorver Goa, Damão e Diu seria, quando muito, uma questão de orgulho nacional. Quanto ao «povo» do Estado Português da Índia, a sua vontade de ser absorvido, ou a falta dela, ficou por apurar – mas não é seguro que houvesse, da parte da maioria dos goeses, um particular anseio de serem absorvidos pela Índia.
Há que reconhecer, todavia, que essa consideração, que tem inibido a Grã-Bretanha de negociar alguns dos seus territórios, como Gibraltar ou as Falkland, não devia importar grandemente a Salazar, para quem «a vontade do povo» sempre contou muito pouco. A intransigência de Salazar em relação ao império não tinha por base a vontade ou a conveniência das populações locais. Qualquer cedência em relação ao império colonial era-lhe intolerável por uma questão de princípio. Não estava disposto a abrir mão do que considerava uma herança sagrada. Não se tratava de um calculo estratégico. A teoria do dominó estava ao serviço da rigidez ideológica, e não na sua origem. Para Salazar, resistir até ao fim constituía um imperativo moral.
A 30 de julho, por sugestão de Salazar, Craveiro Lopes reuniu o Conselho de Estado. Salazar pediu expressamente o respaldo dos conselheiros para a política seguida até aí e fez uma exposição sobre o caso em apreço, que analisava três cenários e excluía dois: era impensável que a Índia desistisse dos seus propósitos; era contrário às doutrinas pacifistas de Nehru lançar uma operação militar com forças regulares. Restava a terceira hipótese – as investidas com «voluntários». Contra essas, Portugal dispunha-se a resistir por todos os meios: politicamente, no palco internacional e, se necessário, no local, pela força.
Mas houve algum debate sobre o fundo da questão – a intransigência quanto à negociação ou a cedência das colónias? Na ausência das atas – desapareceram todas desde 1954 até 197540 –, o relato mais completo é o de Marcelo Caetano. Nas suas memórias, Caetano achou que «não valia a pena» referir as opiniões expressas pelos 13 conselheiros presentes, salientando apenas a de Armindo Monteiro e a sua própria. Armindo Monteiro, com o seu desassombro habitual, recomendou, para o futuro, uma opção tipicamente imaginativa, embora porventura pouco prática: sugeriu uma mediação do Paquistão para a edificação de um estado cristão em Goa, uma espécie de nova divisão do subcontinente segundo linhas religiosas. Talvez não fosse exequível, mas era uma forma de buscar uma saída para o impasse. Marcelo Caetano recomendou apenas um ajustamento tático: convinha não alimentar na opinião pública mitos heroicos sobre a capacidade portuguesa de travar militarmente uma investida, reduzir as forças presentes no território ao mínimo indispensável para uma resistência «simbólica» e manter todos os canais abertos com a Índia, tentando atrasar o inevitável. Ficamos sem saber se as outras vozes ampararam unanimemente a posição de Salazar, mas parece improvável que se tenha gerado um debate de fundo sobre a posição portuguesa. Não era o estilo do regime.
A polémica com a Índia estava ao rubro. Sucediam-se comunicados e contracomunicados. O Governo português dramatizava ao máximo a situação. Paulo Cunha cancelou uma visita programada com longa antecedência ao Brasil. No dia 30, Portugal decidiu expulsar o cônsul-geral da União Indiana em Goa, Vicente Coelho, e o seu vice-cônsul. Nova Deli alegara que um grupo de «desperados» os queria matar. Portugal assegurou-lhes proteção, mas exigiu, ato contínuo, que fossem retirados. O consulado indiano era um centro de intriga contra Portugal e as suas relações com as autoridades portuguesas eram péssimas. Em retorsão, Deli expulsou o cônsul-geral de Portugal em Bombaim, Emílio Patrício, e o seu adjunto, Ressano Garcia, que controlavam uma rede de espionagem da oposição goesa na cidade. A campanha diplomática intensificava-se, em Washington, em Londres, no Rio de Janeiro, em Madrid e junto dos restantes aliados da NATO e dos países da América Latina.
A 2 de Agosto de 1954, depois de várias peripécias, caiu Nagar-Aveli. O segundo enclave era mais importante do que Dadrá – 40.000 habitantes repartidos por 70 aldeias e uma importante cultura de arroz. A operação, mais ambiciosa, mobilizou várias centenas de indivíduos armados, que subjugaram algumas dezenas de guardas portugueses. Dias mais tarde, Nehru declarou publicamente que «naturalmente sabia que havia quem quisesse fazer isto há muito tempo, mas sermos acusados de o termos organizado ou de termos fornecido armas e estacionado tropas não passa de fantástico nonsense»43. É possíve que o Pândita tenha sido surpreendido pela invasão de Dadrá, mas não é plausível que o mesmo tenho sucedido relativamente a Nagar-Aveli, ocupado dez dias depois, após uma vasta campanha internacional lançada pelo Governo português que Nehru não podia ignorar. Não consta, de resto, que tenha procurado travar ou impedir estes movimentos de satyagrahas, ao contrário do que fez depois, com grande sucesso, relativamente a Goa. Mas o facto de não os ter impedido não significa necessariamente que os tivesse incitado ou sequer que os aprovasse. Nehru estava consciente das repercussões internacionais negativas destes atos, que Portugal tentava explorar ao máximo, mas ao mesmo tempo encontrava-se sujeito a fortes pressões internas que condicionavam a sua liberdade de ação.
A tensão entre a Índia e Portugal começava a concitar as atenções mundiais. A diplomacia portuguesa jogava todos os seus trunfos. Em Londres, Teotónio Pereira, em coordenação estreita com o seu colega paquistanês, procurava a todo o custo obter uma declaração pública do Governo inglês e inverter a onda de artigos favoráveis a Deli na imprensa. O Governo português tivera uma ideia hábil para tentar dissuadir a União Indiana dos seus propósitos e envolver a Grã-Bretanha na disputa: o envio de observadores internacionais para as fronteiras de Goa, Damão e Diu. A missão de observação deveria ser liderada pela Grã-Bretanha. Paulo Cunha falara pela primeira vez do assunto ao embaixador britânico a 1 de agosto. Dias depois, Teotónio Pereira formalizou a iniciativa junto do seu interlocutor habitual, o número 2 do Foreign Office, Selwyn Lloyd. A diplomacia inglesa ficou apreensiva com a hipótese de ser confrontada com tal pedido e, para o tentar evitar, decidiu por fim pronunciar-se publicamente sobre a disputa. A 7, após diligência em Nova Deli, o Foreign Office publicou uma declaração, decidida e emendada pelo próprio Churchill. Ao comunicado preparado pelo Foreign Office recomendando que se evitasse o uso da força, o estadista inglês acrescentou uma frase de maneira a abranger também o recurso aos voluntários. Teotónio Pereira soltou um suspiro de alívio. «A maré virou aqui», escreveu a Salazar. «Os jornais vêm óptimos. Ganhou-se esta batalha.»
Em Londres decerto, mas em Deli? Para Lisboa, as intenções de Nehru permaneciam incertas. A 8, Portugal avançou com a sua proposta de enviar observadores internacionais para a fronteira de Goa, pedindo resposta a Nova Deli até ao dia 10, atendendo às notícias que continuavam a apontar para uma grande marcha de satyagrahas a 15 de agosto. Ao mesmo tempo que tomava esta iniciativa, Salazar insistia na polémica com a Índia. A 10, ainda à espera da resposta indiana, o chefe do Governo disparou mais uma saraivada de argumentos contra Nehru – e de apelos ao dirigente indiano. Num longo discurso integralmente dedicado à questão de Goa, Salazar rebateu, um a um, os argumentos de Nehru por forma a estabelecer o direito de Portugal a conservar os seus territórios.
Mas que importa ter razão jurídica quando não se tem razão política? A política internacional não é apenas, nem sequer sobretudo, feita de direitos. Ainda é preciso ter força para os impor. E Portugal já não a tinha. O próprio Salazar o reconhecia ao afirmar que «o direito permanece o direito, mesmo que não haja força bastante para impô-lo». Restava por isso apelar a Nehru para não empreender uma ação em tudo contrária ao seu proclamado pacifismo, que lhe valeria «a reprovação da consciência geral».
O apelo de Salazar era supérfluo. Poucos dias depois da queda de Dadrá e antes da invasão de Nagar-Aveli, o primeiro ministro indiano escreveu a Morarji Desai, o ministro-chefe do estado de Bombaim, advertindo-o contra a tentação de procurar replicar em Goa, a 15 de agosto, o que sucedera em Dadrá. Nessa carta, Nehru argumentou também que era preferível resolver primeiro com a França o caso de Pondichéry. Na sua opinião, uma vez eliminados os enclaves franceses, a pressão sobre os portugueses seria muito maior.
A decisão indiana foi comunicada à embaixada de Portugal em Deli no mesmo dia em que o ditador português pronunciava o seu discurso. A Índia aceitava, dentro do prazo estipulado, a proposta portuguesa de enviar observadores internacionais para o terreno – com uma pequena nuance: não se tratava de averiguar a situação nas fronteiras, mas nas próprias possessões portuguesas.
A nota chegou às mãos de Vasco Garin acompanhada de um cartão de Nehru, que anunciava a intenção de a publicar, tal como Portugal fizera com a sua proposta. A polémica continuava, mas a decisão do Governo indiano – que sublinhava também a sua vontade de resolver pacificamente o diferendo – marcava um recuo claro na escalada de tensão. Apesar de alguns pequenos incidentes, o dia 15 de agosto de 1954 passou sem a temida invasão. O Exército português assumiu uma posição recuada, por detrás das forças policiais indígenas. Na fronteira, a Polícia indiana, por ordens de Nehru, separou os goeses dos indianos, impedindo estes de prosseguirem.
A imprensa indiana prometera uma marcha com milhares de manifestantes. Por fim, apenas cerca de 50 atravessaram a fronteira, sendo duramente reprimidos pela Polícia portuguesa. Em Goa, a população manteve-se apática e indiferente, quando não hostil, à agitação. Para a imprensa internacional, os acontecimentos foram uma deceção e um anticlímax.
Em Lisboa suspirou-se de alívio. Perdera-se Dadrá e Nagar-Aveli, mas salvara-se Goa, Damão e Diu. Em Deli, Nehru foi acusado de sucumbir à pressão ocidental. Do lado de cá, a propaganda portuguesa, denunciando como hipócrita o pacifismo de Nehru, recolhia uma adesão crescente na imprensa internacional. Sensível aos danos que o caso infligira à sua reputação, Nehru proibiu formalmente em fim de agosto a participação de indianos em futuras marchas sobre Goa, Damão ou Diu, circunscrevendo assim a libertação daquelas províncias a algo que apenas dizia respeito às suas populações.53 Ao sentir que ganhara vantagem no duelo diplomático com a Índia, o Governo português tentou tirar partido da situação, intensificando a ofensiva diplomática junto dos seus aliados e a campanha pública em defesa das suas posições.
Em carta ao ministro português em Bruxelas, comentando uma missiva enviada a Nehru por Paul Henry Spaak em apoio da posição portuguesa, Salazar afirmava ter «visto com alguma surpresa que a simples decisão de resistir nos tem conciliad numerosas simpatias e despertado em muitos países grande interesse e apoio moral». O Governo português registara, contudo, uma omissão que considerava grave: a dos Estados Unidos da América. Em plena crise com a União Indiana, desgostado com o silêncio de Washington após a queda de Dadrá e Nagar-Aveli, Paulo Cunha convocou o embaixador americano em Lisboa ao Palácio das Necessidades e passou-lhe uma severa descompostura. A atitude de Washington causara em Lisboa «uma grande amargura» e uma «tremenda deceção» e não deixaria de «afectar gravemente» as relações entre os dois países na NATO e nos Açores. O Departamento de Estado levou o aviso a sério e determinou ser necessário um esforço de reaproximação a Portugal.”


















