Portugal das Maravilhas é um livro sobre como os estrangeiros veem e vivem em Portugal. Mas é também uma viagem pela experiência pessoal do jornalista Enrique Pinto-Coelho. Filho de mãe portuguesa e de pai espanhol, Enrique desmonta, neste capítulo que aqui pré-publicamos, os preconceitos que existem dos dois lados da fronteira entre Portugal e Espanha. E explica como vivia, na sua infância e adolescência, numa espécie de melhor dos dois mundos: aquele que vai de Madrid ao Algarve.

Enrique Pinto Coelho é o autor de Portugal das Maravilhas/ Foto: Susana Moreira Marques
Bigodes, Aljubarrota e verões azuis
A minha infância são invernos em Madrid, verões em Portugal. Autocarros de manhã cedo em ruas com nomes franquistas, tardes ensolaradas na avenida 25 de Abril. Um relógio-termómetro a piscar temperaturas negativas, nuvens de escapes e aquecimentos centrais no bairro de Salamanca. Carneirinhos na praia do Guincho, cones no Santini.
Uma infância de memórias ibéricas: arquitetura neogótica, colégio Nuestra Señora del Pilar; módulos pré-fabricados, Escola Secundária da Cidadela, em Cascais. Fontes com deusas romanas e descampados com amoras silvestres. Ruas cartesianas com churrerías, traseiras térreas com eucaliptos e figueiras. Lagartas e baratas, formigas e búzios.
Madrid eram nove meses, uma gestação. Portugal um trimestre, uma estação.
Último dia de aulas, nunca mais me esqueço. Tinha nove ou dez anos e estávamos todos no pátio, brincando e discutindo pelas coisas do costume – “devolve-me a minha caderneta”, “agora é a tua vez de ficar à baliza”. Jorge Larraz, um menino mau de uma turma inimiga (ele era aluno da A, eu pertencia à E), perguntou-me à frente de todos:
– ¿Dónde te vas de vacaciones?
– A Portugal.
– ¿Te vas a Portugal? Pero si huele mal…
A chalaça, com rima e tudo, deve ter sido um sucesso, porque recordo risotas e uma sensação de impotência. Como explicar que a piada era, na verdade, uma estupidez monumental, um disparate sem qualquer fundamento?
Senti que devia ter lutado, mas fui incapaz de fazer o que quer que fosse. O auditório, composto sobretudo por crianças que passavam férias na província, no pueblo dos avós, não estava decerto preparado para compreender as maravilhas e as subtilezas dos meus verões junto ao mar, num país com uma língua e uma cultura semelhantes às espanholas mas que, inclusive para mim, ficava a anos-luz, noutra galáxia.
Como escreveu Ruy Belo um ano antes de eu nascer, Madrid era – ainda é – “uma das cidades do mundo mais distantes de Lisboa”. As viagens com a família, na carrinha Renault 12 verde-militar, lotada até ao teto, eram épicas. A minha irmã mais nova ia deitada ao comprido no banco de trás, por cima dos outros quatro irmãos. Antes de partir, os que estavam por baixo escolhiam o assento e tentavam evitar certas partes do corpo da atravessada:
– Eu quero cabeça!
– Tudo menos rabo!
– Eu quero a janela do pai!
– Eu quero a da mãe!
A epopeia demorava nove ou dez horas, por vezes muitas mais. O meu pai, que apesar de ter bigode era o único 100% espanhol da família, parava frequentemente em bares de estrada triados ao longo dos anos, e que nós conhecíamos de ginjeira. Se o engarrafamento à saída de Madrid fosse longo, a primeira interrupção era Navalcarnero ou Talavera de la Reina. Depois, era raro falharmos o bocadillo num boteco debruçado sobre o Tejo, no topo de uma falésia. Segundo a lenda familiar, o meu pai teria mergulhado no rio, uma única vez, num dia particularmente tórrido; mas eu não me lembrava do episódio ou, se calhar, não era do meu tempo, e pedia sempre para irmos nadar. Nunca fomos.
Esta etapa no Tejo ainda é uma das mais bonitas do caminho, pois atravessa o Parque Nacional de Monfragüe, na província de Cáceres – a massa de água a esgueirar-se nos desfiladeiros, águias e abutres pairando sobre montanhas e montados. A antiga estrada transpõe também o Guadiana em Mérida, e novamente no centro de Badajoz.
Na maior cidade da Raia, era frequente descansarmos na Venta Don José. Venta: nome antigo que o tempo substituiu pelo anglicismo bar. Lembro-me de várias coisas: dos pinchos de tortilla que ainda hoje se vendem por lá, das fotografias a preto-e-branco nas paredes amareladas, e de ter bebido ao balcão uma garrafa de Surfing, sucedâneo hispânico de Sprite, que os nativos pronunciavam “su-fi” (e Sprite, “es-prai”).
Na altura não havia autoestradas nem computadores de bordo, mas sabíamos que estávamos perto do fim quando a minha mãe entoava um fado. Normalmente, o fenómeno ocorria no tabuleiro da Ponte 25 de Abril, mas, às vezes, a impaciência tomava conta dela e começávamos a ouvir Canoa à passagem por Montemor-o-Novo, ou Menina das tranças pretas nas imediações do Fogueteiro.
Engraçado: antes de ter quaisquer noções sobre fado ou saudade, a minha única referência para o lamento, em forma de canto, era o flamenco, uma arte que costuma associar-se à energia e à vitalidade dos espanhóis – frequentemente, por oposição à melancolia portuguesa encarnada pelos(as) fadistas, uma imagem que Amália Rodrigues não se esforçou em desfazer quando disse: “Tenho tanta tristeza em mim, sou pessimista, niilista, tudo o que o fado exige num cantor, eu tenho”. Para mim, enquanto criança, ninguém fazia esgares mais desgarrados nem ais mais ridículos do que os cantaores flamencos. Costumava parodiá-los para regozijo das minhas irmãs, mas hoje sou um aficionado de ambos os géneros (e de todos os outros blues, de qualquer país).
Se o caminho fosse de regresso, a minha mãe alertava-nos com frequência para as primeiras palavras que iríamos ouvir do lado espanhol da fronteira: coño ou joder. Habituada ao puritanismo linguístico lusitano, a mãe reprovava o falar desbragado do espanhol médio, a tendência para pontuar as frases mais banais – não digamos as discussões – com todo o tipo de obscenidades. E era raro a previsão falhar. No primeiro bar ou estação de serviço onde decidíssemos parar, o mais certo era alguém dizer: “Coño, Paco. ¿Cómo estás?”, ou: “¡Hombre, Manolo! Hacía tiempo que no te veía, joder”.
A matriarca. Nascida “quase na Madragoa e um pouco fadista”, como gosta de dizer, a minha mãe conheceu o meu pai num hotel de Pontevedra, a mais portuguesa das províncias galegas. Um hotel de luxo numa pequena ilha das Rias Baixas, diga-se, porque, naquela altura, no início dos anos 1960, as famílias de ambos, bem posicionadas e em sintonia com os respetivos regimes, ainda tinham dinheiro para esse tipo de férias (pelo menos, de vez em quando).
Conheceram-se no minigolfe do hotel. Tinham 17 anos e o relato original diz que se beijaram “como se beija nos filmes”. Casaram-se seis anos mais tarde, depois de um noivado à moda antiga – isto é, perscrutado em permanência pelos carabinas, os controladores enviados pelos meus avós, normalmente os irmãos mais novos dos noivos.
Entretanto, a minha mãe aprendera espanhol numa escola com a ajuda de um talento natural para as línguas e livros como Historia de España – Primer grado. Algumas décadas mais tarde, esse mesmo manual veio parar às minhas mãos e passou a formar parte do meu acervo ambulante. Impresso em 1961, ainda tem o selo “nihil obstat” do censor eclesiástico e um tom imbuído da ideologia do “nacional-catolicismo” do regime franquista. É um livro pequeno, com capa dura e 144 páginas. As lições são curtas e incluem uma reflexão final emoldurada a laranja, um “interrogatório” para os alunos e excertos de hagiografias, batalhas, poemas épicos e outros conteúdos por vezes instrutivos, quase sempre altamente demagógicos.
Os habitantes pré-históricos da Espanha (que, nos mapas até ao capítulo 10, ocupam a totalidade da Península Ibérica) já tinham nacionalidade. O segundo capítulo diz assim: “Os espanhóis primitivos eram toscos e ignorantes; não sabiam ler nem escrever porque não havia escolas nem tinha sido inventada a escrita”.
Lição 4, página 24: “Viriato, herói da independência pátria, que não foi nunca vencido, salvou-se do massacre de Galba, mas jurou vingar-se”.
Lição 6: “No ano 711, os muçulmanos atravessaram o estreito de Gibraltar comandados por Tárik, com desejos de apoderar-se de Espanha”.
Lição 12, O império da Hispanidade: “A imensidão da Oceânia era um mistério. Ninguém tinha dado a volta à Terra nem descoberto o Mundo Novíssimo. A Espanha cobriu-se de glória ao realizar estas empresas. Os heróis foram Hernando de Magallanes [sic] e Sebastián de Elcano”.
Lição 14: “Ao morrer sem sucessão o rei de Portugal, correspondeu esse reino a Filipe II, mas teve de empregar as armas para fazer valer os seus direitos. Numa guerra de três semanas apoderou-se de todo o território, fez a sua entrada triunfal em Lisboa, e rapidamente conquistou para si a simpatia dos portugueses”.
Lição 15, texto de José María Pemán sobre a “Separação de Portugal”: “Portugal não tinha dado sinais de rebeldia desde que Filipe II unira o seu território à Espanha. A união fora feita no momento de maior esplendor da coroa de Espanha. Era um orgulho, naquela altura, formar parte do Império Espanhol e contribuir para as suas maiores empresas comuns. Além disso, Filipe II tinha feito gala, em relação a Portugal, do seu tato e prudência. […] O sábio Rei esperava que a união dos dois povos se fizesse, pouco a pouco, sobre a única base possível: o amor, a mútua confiança e, sobretudo, a cooperação nos grandes ideais. […] [A] separação de Portugal, como toda a decadência da Espanha neste reinado, não é mais do que ‘revolução política’; desarranjo e debilidade interna”.
Resumindo: a Espanha já existia na pré-história; é, portanto, anterior à escrita e a qualquer forma de organização política, mas o seu território coincide com aquilo a que chamamos “Península Ibérica”. Portugal surge misteriosamente no final do século XV, e alguns dos heróis nacionais dos portugueses – como Viriato ou Fernão de Magalhães – são, de acordo com este livro, espanhóis. Pertencer à Espanha no reinado de Filipe II era um privilégio, e o rei invasor, graças à sua inteligência e sensibilidade, conquistou de imediato o amor dos portugueses, que apesar de tudo restauraram a independência – não por méritos próprios, mas por causa da inabilidade dos governantes espanhóis. Noutras passagens, o texto descreve os fenícios como um povo cuja “avarícia e rapacidade originaram uma guerra contra os espanhóis” ou afirma que “os historiadores” retratam Maomé “como um epilético, como um doente sujeito a crises nervosas, que são as suas revelações”, um “farsante” ou um “político hábil” (no final do mesmo parágrafo admite que “outros, enfim, acreditam na sua sinceridade”).
O grau de distorção ideológica do texto é tal que dispensa qualquer análise, mas a visão dos estrangeiros em geral, e dos portugueses em particular, ajuda a compreender algumas das situações que a minha mãe teve de enfrentar na Espanha franquista. Não precisava de se afastar muito de casa. O porteiro do nosso apartamento, no elegante bairro de Salamanca (entre as ruas de Serrano e Velázquez), tinha sido um dos operários que construíram o prédio – um homem sem estudos, oriundo de uma aldeia e inserido no Grande Êxodo Urbano, como boa parte dos compatriotas depois da guerra civil.
Chamava-se Miguel e tinha um Seat 127 verde-alface, estacionado sempre à porta. A decoração do carro, idêntica à dos táxis nos filmes de Almodóvar, mereceria um capítulo à parte: assentos forrados a pele sintética de zebra, bola a imitar um aquário na alavanca das mudanças, tiras para retirar a eletricidade estática sob o para-choques traseiro… um verdadeiro tuning à espanhola. Miguel podia ser muito antipático com as crianças e as mulheres, mas era subserviente com todos os señores da comunidade de vizinhos, incluindo o meu pai. Também era autoritário e particularmente grosseiro com as duas únicas estrangeiras do prédio: a professora alemã de matemática, do sétimo andar, muito nossa amiga; e a professora portuguesa do 5.o C, a casa onde cresci.
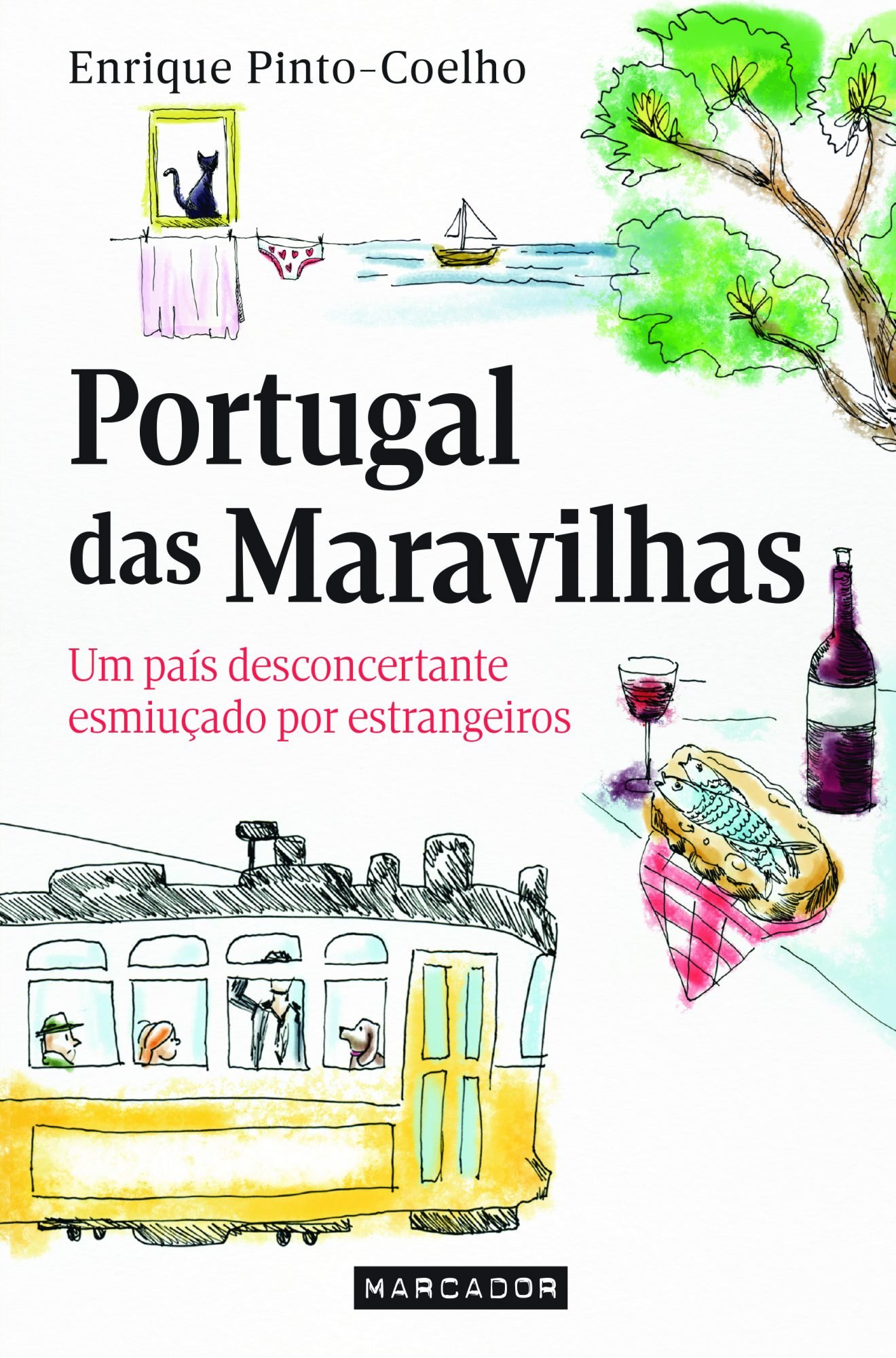
O livro Portugal das Maravilhas, da editora Marcador, já se encontra à venda
A minha mãe teve cinco filhos. Eu sou o quarto e o único rapaz e, salvo erro, todas as gravidezes foram acompanhadas por médicos da Sanitas, uma das companhias privadas mais exclusivas do país. O pediatra sempre elogiara a atitude da paciente enquanto grávida e as suas virtudes maternais. Depois de anos de uma “ótima” relação profissional-cliente, o médico começou a tratar a minha mãe por tu. Mas, no dia em que ela fez o mesmo, ele voltou imediatamente ao muito mais formal usted, o que deixou a minha mãe perplexa e ofendida, “numa situação tipo amo-criada”.
O centro de saúde do bairro ficava na nossa rua, a menos de dois quarteirões de distância. O médico de família era, segundo a minha mãe, um “antiportuguês típico” que dizia coisas como: “Você não pode ser portuguesa: não é feia e não tem bigode nem pelos nas pernas”. Noutra ocasião, o mesmo tipo comentou que era uma pena a minha mãe não ser alemã, porque nesse caso poderia ensinar uma língua útil aos filhos.
– Portuguesa? O português não serve para nada – sublinhou.
– No te preocupes, mamá – disse a minha irmã Beatriz à saída da consulta. – Eu gosto muito de saber português, porque, graças a isso, posso entender as canções brasileiras…
É provável que estas palavras, proferidas por uma grande fã da MPB – como todos lá em casa – não tenham representado um grande consolo para a minha mãe, que sempre se queixou de outro “tópico absurdo” ouvido em Madrid. Se as portuguesas são feias, os portugueses são vistos, quase invariavelmente, como homens bonitos. “A ser verdade, os genes da beleza só seriam herdados pelos filhos”, argumenta.
O tópico da fealdade das portuguesas é tão antigo e está tão enraizado que ainda hoje os comediantes espanhóis mais sofisticados o repetem. Berto Romero, um dos mais divertidos e brilhantes, começa assim um monólogo colocado no YouTube em 2014: “Portugueses, lusitanos… Sei que eles não se ofendem com as piadas. São uma cultura alegre! Basta ouvir um fado para saber o que é a alegria…” O sketch continua com o costumeiro tom paternalista e lugares-comuns sobre o galo de Barcelos e Cristiano Ronaldo, mas o leitmotiv é o eterno bigode das portuguesas. “Não se sintam mal. Se até as vossas mulheres são melhores do que as nossas… Sim, digo isto do fundo do coração. Mulheres maravilhosas que, ao beijar-te, também te escovam o fato…”
No clip do YouTube, as imagens de fundo passam diapositivos da Torre de Belém, guitarras portuguesas, toalhas e azulejos. Mas a imagem mais recorrente é a de uma modelo com bigode, curiosamente muito parecida com Sara Carbonero – a famosa jornalista casada com Iker Casillas, a mais rutilante contratação do Futebol Clube do Porto para a época 2015-2016.
Ciente da minha irritação com estas patetices, um dos meus melhores amigos espanhóis – poliglota, cosmopolita e leitor compulsivo de ensaios e romances – enviou-me uma imagem através do WhatsApp. Era uma montagem com o cabeçalho da revista ¡HOLA! e um título que dizia “Primeiros dias de Sara Carbonero no Porto”. Por baixo, declarações (autênticas) da jornalista: “Estou a adaptar-me muito bem”. Carbonero aparece em primeiro plano com uma paisagem do Porto por trás e a previsível tira de pelo negro no lábio superior.
Mais reveladoras e sinceras do que quaisquer estereótipos sobre os vizinhos lusitanos foram as declarações dos pais de Iker Casillas ao jornal El Mundo, horas depois de se ter confirmado a transferência do guarda-redes do Real Madrid para o FCP. Apesar de terem assinado um contrato milionário que os impede de falar mal do filho, na entrevista – que teve repercussão internacional – José Luis e Mari Carmen despejaram tudo o que lhes passou pela cabeça:
Jornalista – Mas não está contente por ele ir para o Porto?
Mari Carmen Casillas – O Porto? Por amor de Deus. Quando estava à procura de casa em Roma, liguei-lhe e disse-lhe: “Iker, o que é que estás a fazer? Tu não vais a lado nenhum”. Agora imaginem para o Porto… É uma equipa de Segunda B para uma pessoa da categoria do Iker. Um campeão do mundo não pode acabar no Porto. Podia ter acabado onde quisesse e não me importava que fosse no Barça, porque são uns senhores. Mandaram-no para uma vaporeta em vez de para uma máquina a vapor.
José Luis Casillas – Não falo com o meu filho, mas desejo-lhe o melhor e não quero que ninguém abuse dele. Só quero que o aconselhem bem para que não acabe a limpar urinóis como aquele campeão do mundo alemão [Andreas Brehme] ou arruinado como o Vítor Baía.
Brehme, herói da final ganha pela Mannschaft no Mundial de 1990, em Itália, tinha uma dívida de 200 mil euros no final de 2014 e foi vítima do género de maldades que só a pior imprensa sensacionalista sabe fazer. Baía tem uma fundação, vai regularmente aos Globos de Ouro vestido com laços de cetim e nada indica que esteja falido. Horas depois da entrevista, Casillas sentiu-se na obrigação de enviar através do Twitter uma mensagem, reproduzida em parte pela imprensa: “Vítor, boa noite. Espero não incomodar, sou eu, o Iker Casillas. Queria desculpar-me pelos comentários que fizeram os meus pais em Espanha. Peço-te milhões de desculpas”. A maioria dos órgãos de comunicação social portugueses reagiu de forma exemplar, sem fazer sangue de uma ferida fácil de aprofundar. O antigo guarda-redes do Porto não ficou atrás. “Vendo o que é a relação dos próprios pais com o Iker, não me merece qualquer comentário, acima de tudo pelo respeito que tenho pelo Iker”, declarou. “Acima de tudo, por isso. Quero é desejar-lhe muitas, mas muitas felicidades nesta sua nova etapa.”
Ainda no rescaldo da nova contratação, Pinto da Costa fez declarações surpreendentes: “Nunca tinha conhecido uma estrela de futebol com tanta humildade e simplicidade”, confidenciou a um jornal espanhol. O comentário do presidente do clube é também um excelente contraponto à opinião preconcebida sobre a altivez dos espanhóis, uma ideia tão estendida quanto a da congénita modéstia dos portugueses. Segundo o comediante Berto Romero, que a dada altura do referido monólogo fala por cima de um gigantesco postal do Padrão dos Descobrimentos, os espanhóis têm de reconhecer que os portugueses são mais humildes. “A explicação é simples: quando Deus distribuiu o ego, em Espanha decidimos dividi-lo entre os 40 milhões de habitantes. Os portugueses decidiram entregar tudo ao Cristiano Ronaldo”.
Romero escolheu o CR7 para o gracejo, mas não teria ficado mal servido com José Mourinho.
No início desta década, uma produtora espanhola encomendou-me a organização de um casting em Lisboa. A ideia era recrutar, através de entrevistas de rua, uma série de candidatas para um anúncio de pasta de dentes de uma multinacional. Juntei e formei uma equipa de entrevistadoras, que, seguidamente, começaram a procurar candidatas em pontos muito frequentados na cidade, como o Chiado e as Amoreiras. Após responderem a um breve questionário e assinarem um termo de responsabilidade, as melhores candidatas (que deveriam ter “entre 30 e 42 anos”) eram filmadas respondendo a uma última pergunta e, acima de tudo, mostrando um grande sorriso.
As respostas filmadas eram determinantes para fazer a triagem entre as centenas de mulheres abordadas ao longo de duas semanas. Quando enviei a primeira remessa de vídeos para a produtora (que estava a realizar exatamente o mesmo casting nas ruas madrilenas), a responsável da agência de publicidade ligou-me para perguntar onde tínhamos encontrado candidatas tão absolutamente fantásticas. “Devo confessar que, em Portugal, as mulheres captadas são muito mais bonitas e têm melhores dentaduras que em Espanha”, confirmou depois por escrito.
Embora eu soubesse, por experiência própria e desde a minha infância mais remota, que as portuguesas são pelo menos tão bonitas quanto as espanholas (ou, para o caso, tão feias), a confissão da publicitária foi verdadeiramente memorável. Nunca antes ouvira nada parecido vindo de Espanha, mas, entretanto, já li que hoje as portuguesas se depilam mais e melhor do que a generalidade das europeias (provavelmente por influência das esteticistas brasileiras, de acordo com as mesmas fontes).
Num artigo publicado pela extinta revista Atlântico em meados da década passada, anexei um pequeno “glossário de espanholês” para esclarecer dúvidas sobre expressões idiomáticas e “desfazer estereótipos” entre portugueses e espanhóis. Uma das entradas do glossário, intitulada “Salero e bigodes”, ironizava sobre as visões que ambos têm das mulheres do país vizinho: “A mulher espanhola é acessível, arranja-se muito, tem caráter, fala sempre aos berros e é muito salerosa. A portuguesa tem bigode e desconhece os mistérios da depilação (um boato idêntico circula no Reino Unido sobre a mulher espanhola). Os clichés sobreviveram ao século XX e espalham-se com uma facilidade insultuosa, apesar da realidade. […] Em Espanha, o estereótipo do salero (‘comportamento ou atitude graciosa’) costuma aplicar-se às gentes do Sul, nomeadamente de Sevilha”.
O artigo contém muitas outras observações sobre a relação entre os dois países, um assunto que sempre me interessara por razões óbvias. Fala de café, caramelos e outros best-sellers de fronteira, como as toalhas e a gasolina; da incompreensível má fama que a comida espanhola tem entre muitos portugueses; dos erros mais comuns em portunhol; da crónica falta de jeito dos espanhóis para as línguas e da injustificável simpatia ou solidariedade que muitos portugueses ainda tinham, à data, pela ETA.
O texto principal procura uma explicação para o afastamento histórico entre as duas nações e resume um debate sobre o iberismo suscitado por uma sondagem do então recém-estreado semanário Sol, segundo a qual a maioria dos portugueses votaria a favor de uma hipotética união ibérica. O artigo chamava-se “De costas bem voltadas” e dissertava sobre a dificuldade para entender as relações ibéricas, em particular “o iberismo e o amor-ódio de alguns portugueses em relação aos espanhóis”, mas também outros fenómenos como “a ignorância, a prepotência e o paternalismo de muitos mal chamados hermanos“. No fundo, era uma tentativa de mediação entre o país onde nasci e o país das férias, entre a meseta do meu pai e o litoral da minha mãe – uma empreitada tão quixotesca quanto edipiana.
Descobri entretanto, lendo um texto sobre o especialista em assuntos ibéricos Gabriel Magalhães, que também me sinto, como ele, um “agente duplo peninsular” ou um “centauro ibérico”. Magalhães defende que o iberismo é um anacronismo e, por isso, define-se como um defensor da peninsularidade, entendida como “um projeto cultural: uma atitude que tem como objetivo desfrutar da imensa riqueza das nossas diversidades”.
Magalhães nasceu em Luanda, cresceu no País Basco e na Galiza e estudou literatura em Salamanca, antes de se tornar professor na Universidade da Beira Interior e escritor. O meu percurso – infância espanhola, vida profissional portuguesa – foi quase paralelo, com a diferença de que o professor é “irremediavelmente português” e eu estou mais perto de sentir o contrário.
Nasci 12 meses e 11 dias antes da Revolução dos Cravos, a 14 de abril de 1973 (uma data que os espanhóis associam à Segunda República, a breve etapa democrática que precedeu a guerra civil e a ditadura de Francisco Franco). O parto ocorreu dois anos antes da morte do Generalísimo, na clínica Virgen del Mar. O meu pai – “monárquico até à medula”, como costumava dizer – foi porventura a pessoa que menos gostou da data do meu nascimento, mas também a mais feliz, porque, finalmente, à quarta tentativa, tinha um descendente masculino.
As primeiras memórias que tenho de Portugal são do bairro da Torre, em Cascais. Durante o PREC, dois irmãos da minha mãe emigraram para o Brasil. O único que decidiu ficar receava que a moradia com jardim no Restelo não fosse um lugar seguro para a minha avó, e por isso alugou um discreto apartamento junto ao hotel Cidadela, onde passámos juntos boa parte dos meus primeiros verões. O apartamento ficava num bloco igual a tantos outros. O bairro tinha pracetas e descampados, casas com árvores de fruto e amoras silvestres, muitas canas, figueiras e mimosas. Vivíamos praticamente na rua, a brincar às escondidas e à apanhada, a andar de bicicleta, a visitar as casas dos vizinhos. Também apanhávamos ameixas e partíamos pinhões, porque a zona estava povoada de pinheiros-mansos. Naqueles dias, era frequente ver grupos de todas as idades com pedras da calçada numa mão, resina na outra, pó de pinheiro na boca e pinhas vazias amontoadas aos pés.
Lembro-me de ouvir histórias trágicas na Boca do Inferno e de ter muitos pesadelos com as ondas do Atlântico; das aventuras nas Furnas do Guincho, onde o meu pai ia comer marisco e às vezes podíamos visitar os viveiros ocultos sob as rochas; dos passeios e banhos no paredão, que não eram frequentes porque as praias tinham fama de estar contaminadas.
A casa era pequena, mas tinha um gira-discos e um baú cheio de vinis dos meus tios com música variadíssima: de Carlos Paredes a Andrew Lloyd Webber, de Demis Roussos a Richard Wagner. Muitos sobreviveram e alguns talvez valham hoje pequenas fortunas, mas, mesmo singles como o 45 RPM de La yenka, eram mais divertidos do que a maioria dos conteúdos televisivos. O grande, pesado e curvado ecrã emitia raridades a preto-e-branco que nunca antes vira e que nunca voltaria a ver: anúncios estáticos feitos com simples brochuras, desenhos animados do Leste apresentados pelo inefável Vasco Granja… mas também Topo Gigio e super-heróis norte-americanos que não passavam em Espanha, como o Quarteto Fantástico. Outra coisa que não havia na TVE eram as novelas, e ainda sou do tempo em que, a seguir à modinha da Gabriela, Portugal parava durante quase uma hora.
Logicamente, as crianças não eram muito de Gabriela. O que realmente nos enchia de alegria, o programa que esvaziava a praceta uma vez por semana, chamava-se Jogos sem fronteiras, do não menos inefável Eládio Clímaco. Para uma criança habituada à TVE, era um privilégio ver séries britânicas (e em versão original!) como ‘Allo ‘Allo! ou Black Adder. E era estranho ver conteúdos espanhóis adaptados ou traduzidos, como o programa Um, dois, três ou a célebre série Verão azul. As legendas – este debate surgiria ao longo da minha vida vezes sem conta – eram sem dúvida melhores do que as insuportáveis dobragens espanholas, mas estas, por sua vez, davam dez a zero às primeiras dobragens portuguesas, que, se não estou em erro, apareceram na Abelha Maia. Hoje, as dobragens portuguesas ganham prémios internacionais, mas consta que um dos problemas daquelas primeiras experiências era que, em vez de crianças, utilizavam adultos para sonorizar as personagens infantis. Seja como for, o meu cérebro nunca conseguirá apagar completamente aquelas dobragens tão farçolas quanto exageradamente anasaladas.
Em julho, o circo vinha à pequena cidade. O melhor de tudo era que os artistas se instalavam na nossa praceta com as suas rulotes e recrutavam crianças para que ajudassem a montar a tenda – e, às vezes, até as grades do túnel que levava as feras até à pista central. Em troca, ofereciam bilhetes grátis para o espetáculo. Era sem dúvida o maior espetáculo do mundo ver os trapezistas, os monociclos e outros prodígios como as bicicletas penny-farthing, mas era melhor ainda montar a banca do algodão-doce, aprender a fazê-lo e comê-lo sem qualquer restrição.
Controlar a máquina do algodão-doce é o sonho de qualquer criança e foi possível graças a uma das minhas namoradas da infância. Chamava-se Gertrudis, Trudi para os amigos. Era a filha mais nova de uma família de artistas com raízes espanholas, uma talentosa e multifacetada menina loira com as mesmas ganas de brincar dos outros meninos de seis anos, mas sujeita aos horários e às obrigações dos restantes membros da companhia. Através dela, a minha pandilha conseguia aceder aos bastidores do circo e ver coisas que mais ninguém via, como os burros velhos amarrados que desapareciam ao ritmo do apetite das feras. Tinham um aspeto tão miserável e inspiravam tanta compaixão que não descansávamos enquanto não estivessem abastecidos de couves, cenouras e baldes de água que carregávamos pelo mato.
As férias dentro das férias eram no Algarve. No final dos anos 1970, a minha avó começou a alugar uma moradia de dois andares na Manta Rota, uma aldeia a dez quilómetros da foz do Guadiana. Tinha jardim e um enorme terraço, de modo que ninguém dava importância ao facto de ser uma cópia das outras quatro casas da D. Palmira, a visionária que tinha antecipado, em várias décadas, o boom turístico da zona.
Passávamos lá agostos inteiros. No início, o único lugar onde se podia abastecer o frigoríico era o supermercado do Sr. Humberto, uma verdadeira instituição. Vendia quase tudo, e nada era rigorosamente incompatível: no móvel do fiambre podia haver, por exemplo, pilhas; os collants tanto podiam estar junto à fruta como por baixo do vinho, ou talvez pendurados do teto como as bolas de praia e os camaroeiros. Também íamos lá buscar, uma vez por semana, o jornal espanhol ABC, porque o do Sr. Humberto era um dos poucos endereços postais reconhecíveis para o carteiro. As filas e as confusões na caixa ganhavam proporções lendárias, entre outros motivos porque “caixa” neste caso designava uma simples gaveta. O dinheiro dos clientes ia parar a umas sacas que o Sr. Humberto atulhava com notas, que, uma vez cheias, seguiam de mota pelo mesmo sistema utilizado para as bilhas de gás, os garrafões e os pães de grande porte: entre os joelhos e/ou debaixo dos braços do Sr. Zé, o irmão mais novo do patrão.
Nos raros dias em que o supermercado fechava, a minha avó ia buscar leite recém-ordenhado a um estábulo e depois fervia-o três vezes em casa. Naquela cozinha era frequente haver carreiros de formigas tão longos e difíceis de exterminar quanto os enxames de moscas ziguezagueantes que flutuavam à entrada da casa. Os quartos eram um forno e um tormento, porque o sol era impiedoso durante o dia, e de noite não podíamos abrir as janelas para não deixar entrar as melgas, que ainda assim acampavam a seu bel-prazer.
Ainda assim, quase nunca nos queixávamos, porque as jornadas na praia eram inesquecíveis. Os relatos dos peixes-aranha, das conquilhas na maré baixa ou dos berbigões e das ostras na ria Formosa podem parecer banais para os portugueses que viveram aquela época, mas eram absolutamente invulgares para um grupo de crianças que passava a maior parte do ano entre as quatro paredes de um apartamento madrileno, a várias centenas de quilómetros do mar. Íamos pescar à ria, furar ondas gigantes nas marés vivas. Nas dunas havia conchas de dimensões pré-históricas, camaleões e carochas que subiam pelos nossos braços, um ou outro nudista ocasional. Fazíamos pistas para brincar às caricas, sofisticadas cabanas de canas secas, buracos na areia mais largos e maiores do que os nossos pais.
As praias quase não tinham fim nem pessoas à vista, mas um dos momentos altos daqueles verões azuis, passados com dezenas de primos e amigos de todas as idades, eram as visitas a Ayamonte, na fronteira com Vila Real de Santo António. A única forma de atravessar o Guadiana (sem fazer um desvio absurdo pelas endiabradas curvas da serra do Caldeirão) era apanhar o ferry, uma travessia de 15 minutos que podia demorar horas por causa das intermináveis filas de pessoas e carros. Ayamonte, em tempos uma pacata aldeia de pescadores, fervilhava com a procura do crescente turismo internacional. O escudo ainda valia mais do que a peseta, e os portugueses abarrotavam as lojas e os pequenos supermercados em busca dos míticos caramelos e torrões, mas também de azeite, chocolates e muitas outras coisas mais baratas, melhores ou inexistentes em Portugal, como as águas-de-colónia gigantes e os whiskies que os adultos compravam aos garrafões.
Esta terra andaluza era uma espécie de óvni colado à fronteira, tão diferente do Sul de Portugal que mal dava para acreditar: as ruas cheias de sombra, cobertas por toldos estendidos entre os prédios – uma ideia genial que, incompreensivelmente, nunca pegou no Algarve; as esplanadas para comer presunto ibérico e choquinhos fritos, os bares barulhentos com o balcão à pinha e o chão coberto de cascas de pevides, crustáceos, beatas, guardanapos, migalhas e serradura. Por contraste, os comércios do lado português da fronteira eram um sossego, mas também tinham uma oferta menos diversiicada e menos sucesso na venda a retalho. Ainda assim, os espanhóis cruzavam o rio atraídos pelo café, as toalhas e outros produtos que ainda hoje fazem parte da mitologia lusitana em Espanha, como a loiça de cores extravagantes e os lençóis bordados.
O meu pai, que não gostava de ir à praia, delirava no mercado de Vila Real de Santo António, onde podia comprar douradas, amêijoas e outras iguarias a preços irrisórios para um residente em Madrid. Mas, tirando exceções como ele e alguns poucos aventureiros, Portugal continuaria a ser um enigma para a maioria dos vizinhos ibéricos até, pelo menos, à primeira década do século XXI.
Num daqueles agostos mágicos, conhecemos duas primas afastadas. Faziam parte de um grupo de pós-adolescentes que se tinha alojado num casebre junto à praia da Lota, sem água, nem luz, nem chuveiro. Havia ratos e buracos no telhado, usavam camping-gás e água do poço aquecida ao sol numa banheira, mas a renda devia ser mínima e as penúrias eram compensadas pelos milhões de estrelas à noite e pelos dias longos e cálidos nas praias semidesertas.
Nos restantes meses, as nossas primas (que afinal eram três e tinham um irmão mais novo da minha idade) viviam numa mansão no Estoril, três andares com anexos, jardim e garagem na rua da Inglaterra. As festas em casa da minha tia Teresa eram divertidíssimas: vinham cantores, atrizes e outras figuras do meio artístico, ouvia-se jazz, soul e outros géneros musicais ausentes das rádios espanholas. Também se cantava e se dançava muito, e havia sempre coreografias e números importados dos musicais londrinos ou da Broadway.
A prima mais velha, Madalena, participou uma vez num intercâmbio de estudantes e trouxe uma norte-americana para a casa familiar no Estoril. Chamava-se Libby e a sua visita foi marcante, porque nunca tínhamos visto uma mulher tão alta e com os pés tão grandes, mas sobretudo porque ela ficara surpreendida por haver eletricidade e água corrente em Portugal, um país largamente ignorado – viemos a saber – pelos seus compatriotas.
Uns metros mais acima, na mesma rua da Inglaterra, residiam o avô e outros familiares do atual rei de Espanha. Villa Giralda era um dos últimos redutos do exílio da realeza europeia, que teve a sua época dourada durante a Segunda Guerra Mundial, quando a costa oeste lisboeta se encheu de famílias reais, estrelas de cinema, escritores como Antoine de Saint-Exupéry (que descreveu Lisboa como um “paraíso triste”) e espiões como Dunšan Popov, o agente duplo sérvio que esteve na origem de James Bond.
No Estoril assisti também, pela primeira vez, a uma campanha política. Lembro-me de ver o meu primo, que devia ter seis ou sete anos, como eu, a agitar entusiasmado bandeiras e cartazes da Aliança Democrática, e de ter ouvido falar de um tal Sá Carneiro. A redoma Cascais-Estoril-Algarve e o facto de só virmos a Portugal nas férias mantinham-nos afastados da agitação política da época, mas não o suiciente para ignorarmos os murais com foices e martelos e as mensagens a favor da APU ou contra os Estados Unidos: “yankees go home”, “nato rua”.
Em Cascais, a visita ao Santini e à Tchipepa era um ritual. Além de serem melhores do que qualquer gelataria que eu conhecesse em Madrid, ambas estavam inseridas em centros comerciais (ou melhor, galerias), que também não tinham paralelo no bairro de Salamanca – hoje, uma espécie de meca para alguns betos portugueses, vá-se lá saber porquê.
Outra coisa que me chamava a atenção eram os preços disparatados de algumas das montras nos corredores mal iluminados daquelas galerias, com brinquedos quase sempre importados dos Estados Unidos e do Norte da Europa. Eram os anos dos primeiros computadores pessoais, dos vídeos Betacam e das consolas antepassadas do Game Boy. Uma dessas lojas vendia jogos para computadores Spectrum, cassetes regravadas com carregamentos que podiam demorar horas e nunca acontecer, mas que ainda assim eram os heraldos de um admirável mundo novo. Não que eu tivesse algum desses problemas ou maravilhas tecnológicas em casa, porque só tive um PC na viragem do século, mas ia-me entretendo com as máquinas de outros meninos – os amigos do meu primo no Estoril, por exemplo, que viviam em quartos com vista para jardins com piscina e garagens com carros antigos e portas automáticas. Neste mundo de tios e tias, que davam só um beijo na cara e diziam “encarnado” em vez de “vermelho”, as meninas vestiam-se quase à rapaz, com camisas aos quadrados, calças de ganga e sapatos de vela – nada a ver com as pijas espanholas, muito mais ousadas, produzidas e devotas de saias.
Nas festas de anos, quando não eram organizadas nas casas dos aniversariantes, os convidados tinham de pagar a sua parte do jantar, lanche ou almoço – um costume tão inusitado para os estrangeiros como aceitável para os locais, inclusive os mais ricos proprietários estorilenses. Lembro-me também das gincanas na Quinta da Marinha, provas que incluíam pistas escondidas em buracos de golfe e perguntas sobre a geografia e a história nacional executadas por crianças que levavam a mão ao peito quando ouviam os acordes do hino da República. E de Sintra, alta sobre as brumas oceânicas, que, nas minhas primeiras aproximações – antes de começar a desvendar os seus mistérios – tinha uma aura ainda mais solene e orgulhosa.
Mesmo para um estudante de primária, não eram de admirar a estranheza e a revolta perante as palavras de Jorge Larraz:
– ¿Te vas a Portugal? Pero si huele mal…
O Portugal que eu conhecia tinha mar e montanha, palácios e fortalezas, microcomputadores e descapotáveis. Era o verão, a luz e o calor frente aos dias curtos e cinzentos, a liberdade e a amplitude frente aos horários e aos trabalhos de casa. O Atlântico também não tinha oponentes à altura, mas Madrid, ao menos, costumava ter neve, e muito mais do que agora.
Tanto o Tejo como a cadeia montanhosa que abastece a sua bacia hidrográfica sulcam a Península como uma dupla cicatriz inclinada. A forma mais óbvia de observar ambas as linhas é percorrer o caminho que une as capitais ibéricas (de longe, o que mais vezes trilhei na minha vida). A autoestrada serve perfeitamente, mas o comboio que corre em paralelo foi, em tempos, muito melhor.
Comecei a viajar no Lusitânia sozinho na adolescência, toda uma aventura. Paradoxalmente, por causa das longas paragens e dos lanços em marcha lenta, o veloz Talgo demorava quase 12 horas a chegar ao destino. A contrapartida era que tínhamos tempo para jantar, ler, dormir, tomar o pequeno-almoço e conhecer todos os outros passageiros se tivéssemos lata para isso, incluindo os funcionários do comboio e o crescente número de turistas.
Agora que penso nisso, os estrangeiros do Lusitânia (isto é, os não peninsulares) foram a minha primeira janela para o resto do mundo. O comboio entre Madrid e Lisboa era útil para perceber melhor as diferenças entre as nações vizinhas e o chocante desconhecimento mútuo, mas também para ter uma noção de quão diferentes éramos dos outros europeus e dos norte-americanos, australianos, etc., que faziam o trajeto. A cafetaria fechava tarde, abria cedo e era um ótimo lugar para ouvir diálogos e encontrar pessoas que nunca teria conhecido no bairro de Salamanca ou nas arcadas do Estoril. Histórias reais de pessoas que viviam em lugares como Entroncamento ou Évora-Monte, relatos de salários baixos em Espanha que eram ainda mais baixos em Portugal, de portugueses que emigravam ou iam visitar a família a algum país europeu, quase sempre França, Luxemburgo ou Suíça.
A chegada a Lisboa podia ser (hoje, às vezes, ainda é) digna de um documentário sobre vidas marginais. No átrio, nas escadas e no largo em frente à fachada de Santa Apolónia, era frequente encontrar bêbados a deambular, pedintes em condições extremas, burlões que ofereciam falsa droga e outras situações que se misturavam com o cheiro a maresia, o gasóleo dos autocarros e os grasnos das gaivotas.
Tinha acabado de fazer 18 anos quando os meus pais se separaram. A minha irmã mais nova e eu instalámo-nos em Portugal pela primeira vez a seguir ao verão, mas a vida escolar quase não mudou, porque ambos fomos estudar para o Instituto Espanhol, em Algés, que tem as mesmas regras e matérias de qualquer escola em Madrid ou Sevilha. E, nos primeiros meses, a minha vida pessoal também se manteve num ambiente essencialmente espanhol, porque comecei a namorar com uma miúda que vinha de Santander, tal como o banco onde o pai dela trabalhava. Tinha duas irmãs, vivia numa mansão em Cascais e dizia coisas como “Ibes Sanlauren” (Yves Saint-Laurent). Embora não tenha a certeza, é provável que também fosse uma das muitas pessoas que me perguntaram o significado do “ks-ks” que ouviam nos autocarros. Levei algum tempo até descobrir que se tratava do habitual “com licença”, uma expressão desconcertante para muitos espanhóis – sobretudo quando utilizada para desligar o telefone.
Aos fins de semana organizávamos festas no casarão familiar, aproveitando as frequentes ausências dos pais, ou então saíamos em tropel por Cascais. Era muitas vezes o único rapaz num grupo de adolescentes com saias bastante mais curtas do que as das portuguesas e doses superiores de batom, base e álcool no sangue, um cocktail explosivo que causava todo o tipo de estragos. Uma noite, fomos ao Bellburger, uma hamburgueria no centro da vila. Havia mais um grupo de alunos do Instituto Espanhol e, quando percebi que estavam a ser intimidados por outros clientes (pelo simples facto de não estarem a falar português), tentei mediar, fazendo gala do meu bilinguismo.
Convencido de que a crise tinha ficado resolvida, virei as costas e pedi um hambúrguer para a minha namorada e outro para mim. Depois só me lembro de receber um puxão pelas costas e de ver o bar transformado num pandemónio. A pancadaria acabou quando os agredidos bateram com a porta, mas ainda fui a tempo de ouvir um empregado dizer: “Isso acontece por serem espanhóis”. Soube mais tarde que os agressores eram “meninos do râguebi de Cascais”, e que um deles tinha sido meu amigo e companheiro de brincadeiras na infância.
Vivi um ano na Linha, mais concretamente entre Cascais e Algés, com paragens frequentes nas casas dos meus novos amigos do Estoril, São João e Carcavelos. Estava prestes a terminar o equivalente ao 12.º ano e, na altura, nem me passava pela cabeça continuar os estudos em Portugal. Consegui uma vaga no curso de jornalismo da Complutense de Madrid, por isso, só voltei a estudar em português seis anos mais tarde.
Com 24 anos fui admitido no programa Erasmus da Universidade de Coimbra e, além de me inscrever nas cadeiras obrigatórias, matriculei-me em Língua Portuguesa Registos Escritos e Língua Portuguesa Registos Orais. Foram as primeiras e únicas aulas na língua da minha mãe, que, apesar de ser portuguesa, falava sempre em espanhol com os filhos, a não ser na presença de outros lusófonos durante as férias. Depois de passar vários anos na faculdade mais feia do mundo (a lenda conta que o pesadelo de betão que aloja os estudantes de ciencias de la información, em Madrid, é inspirado numa prisão brasileira), a cidade universitária de Coimbra parecia um sonho: escadarias monumentais, estátuas e azulejos; faculdades harmoniosas e bem alinhadas que eu ainda não atribuía ao Estado Novo (e menos ainda a Cottinelli Telmo); o Paço das Escolas com a Cabra e a Biblioteca Joanina; as vistas sobre o Mondego… A Lusa Atenas era pequena e provinciana, mas não menos encantadora, romântica e boémia.
Coimbra também era um paraíso para os universitários estrangeiros. Os nórdicos sentavam-se ao sol, nas melhores esplanadas, e mal podiam acreditar que, pelo preço de uma cerveja em Munique ou Copenhaga, conseguiam beber cinco ou seis finos. Havia escandinavos e germânicos, muitos italianos, espanhóis e irlandeses, alguns franceses e belgas. Nas cantinas, pelo mesmo montante de um mau bocadillo e um refrigerante na Complutense, comia-se um menu com três pratos, que, nalguns casos, eram de qualidade igual ou superior a um restaurante médio (por exemplo, se a escolhida fosse a Cantina dos Grelhados).
Os felizardos que tinham conseguido ficar numa república pagavam rendas ridículas, e os valores, por vezes, incluíam uma refeição caseira preparada diariamente por uma cozinheira como deve ser. O meu amigo Nelson morava na Rás-te-Parta, num quarto enorme com janelas para a rua da Matemática. O prédio tinha um terreno nas traseiras – perfeito para as incontáveis festas – e, no último andar, havia uma estrambótica biblioteca, formada pela decantação de livros abandonados pelas sucessivas gerações de estudantes.
No meu círculo, o entusiasmo por estas “reais repúblicas” era tão unânime quanto a aversão pelos costumes e os trajes académicos. Aos poucos, fomos apurando as diferenças entre as praxes integradoras (ou pelo menos inofensivas) e as outras, mas ainda assim nunca alinhámos em cantorias, desfiles ou paródias dos morcegos.
Para facilitar a adaptação, os erasmus tinham direito a um mês de alojamento a expensas da universidade. De início, estive numa residência de estudantes com muitos inquilinos de Cabo Verde, Guiné-Bissau e outros países que me pareceram exóticos (à data, a presença de africanos na Complutense era residual, e Madrid ainda não era uma cidade cosmopolita).
Depois aluguei uma casa na rua das Flores com dois espanhóis numa situação igual à minha, salvo pelas matérias estudadas: filosofia e belas-artes. O prédio tinha umas águas-furtadas, um quarto por andar e uma daquelas casas de uma só assoalhada encaixada no rés do chão. Neste esconso, semelhante a um nicho, morava a D. Amélia, que não era a nossa senhoria mas agia como se o fosse. A casa pertencia a uma família de emigrantes, que, como muitas outras naquela zona do país, tinha delegado numa vizinha a gestão do aluguer e a manutenção da propriedade.
A D. Amélia encarnava na perfeição o atavismo das donas coimbrãs denunciado por muitos erasmus. Quando convidámos os nossos amigos a beber um chá na mansarda recém-estreada, tentou impedir que as “meninas” entrassem com o resto do grupo. Berrou, gesticulou e, finalmente, furiosa por ter sido ignorada, esmurrou a porta de entrada com tanta força que partiu um caixilho.
Foi o primeiro de uma longa lista de incidentes. Rapidamente, confirmámos que a liberdade não fazia parte dos direitos dos inquilinos, porque a governanta tinha uma chave para entrar quando lhe apetecesse, queria fazer a limpeza para vasculhar ainda mais à vontade e inventava todo o tipo de desculpas para ir visitar-nos.
Insistia, por exemplo, em preparar-nos pratos típicos, apesar de declinarmos sempre – e cada vez com argumentos mais rebuscados. É verdade que os rissóis e os pastéis de bacalhau que fritava eram uma categoria, mas depois de ter mencionado que um dos petiscos que mais gostava de cozinhar era à base de pombos, que caçava no chão da nossa rua, passou a inspirar-nos ainda mais temor e repulsa.
A porta em frente à nossa dava para uma casa de hóspedes gerida por um casal de holandesas. Não havia mais de meia dúzia de metros entre os dois prédios (mal cabia o barulhento camião do lixo todas as madrugadas), mas ambos pertenciam a universos antagónicos: móveis escuros e naperões de um lado, madeira clara e cores alegres do outro; separação sexista versus tolerância absoluta; mas também rendas baixas frente a preços norte-europeus, desafogo em vez de zonas comuns.
Nas aulas, os forasteiros aprendiam novas matérias, tradições como o “quarto de hora académico” e tratamentos tão afetados quanto difíceis de memorizar como “Magnífico Reitor” ou “Professor Doutor”. O mais irónico é que um dos expoentes deste país dos doutores era um professor que tinha feito a tese sobre o 25 de Abril, um especialista na revolução do povo que exigia para si um tratamento elitista. As mulheres docentes escasseavam, mas havia porventura mais alunas do que alunos – um sinal de que, mesmo no ambiente ultraconservador da universidade, algumas coisas estavam a mudar.
Na primavera, o dinheiro da bolsa começou, como certas equações, a aproximar-se de zero. Vi-me obrigado a arranjar um emprego, e a solução apareceu nas coordenadas mais inesperadas: durante uma noite de copos no Bairro Alto lisboeta. Graças a outra amiga do Instituto Espanhol, o meu primeiro trabalho como jornalista foi a falar castelhano, numa rádio multilingue, criada para os visitantes da Expo‘98.
Nos meses febris que antecederam o evento, Lisboa parecia um estaleiro gigante, uma Torre de Babel com trabalhadores vindos de todos os cantos do país e da Europa, sobretudo de Espanha. O dinheiro corria a rodos e a mão de obra não chegava para cobrir a insaciável oferta, um quadro de bonança sem qualquer paralelo antes ou depois do evento. A Exposição Mundial serviu para muita coisa e deveria ter ajudado a relançar a alegada vocação marítima de Portugal, tal como anunciava o tema escolhido (“Os oceanos: um património para o futuro”). Mas também não foi desta, porque entretanto surgiu um novo projeto que voltou a virar o país de costas para o seu maior recurso natural e de frente para novos cantos de sereia: a construção e renovação de dez estádios de futebol para organizar o Euro 2004, uma competição que durou três semanas, gerou graves prejuízos e acabou com o anfitrião derrotado numa final trágica.
Depois da Expo, o meu percurso levou-me a Madrid, Paris, Lanzarote e de novo Madrid. Em 2001 passei seis meses em Dublin, uma cidade onde redescobri prazeres como escrever poesia e andar de bicicleta. Numa manhã em Ravensdale Park, na casa que partilhava com trabalhadores de até cinco nacionalidades diferentes, chorei, emocionado, quando vi na Euronews a trasladação de Amália Rodrigues para o Panteão.
Comecei a escrever como jornalista em português n’O Independente, que já há muito perdera o prestígio – ou, pelo menos, o impacto – dos anos em que fora comandado por Miguel Esteves Cardoso e Paulo Portas. O semanário estava nas mãos da que seria a última diretora, Inês Serra Lopes. A redação, situada no penúltimo andar do moribundo Centro Comercial Portugália, era um tanque de crocodilos cercado de processos por difamação.
O meu primeiro artigo foi sobre política espanhola, mais concretamente sobre a fulgurante ascensão de José María Aznar a delfim de George W. Bush e a retórica belicista de ambos os governantes (que desembocaria, meses mais tarde, na famosa Cimeira dos Açores). Rapidamente, tornei-me o “espanhol de serviço” na casa, alvo de todo o tipo de comentários e consultas sobre “nuestros hermanos” – expressão que sempre me irritou, por ser batida e pela inexistência de uma demonstração de amizade ou cumplicidade equivalente; o mais parecido que se encontra em Espanha é “Menos mal que nos queda Portugal“, um chavão de origem incerta e significado ambíguo, que tanto pode revelar carinho como sobranceria ou paternalismo. Se um barco de pesca espanhol invadia águas portuguesas, ou se um camionista de Bragança era atingido por furar uma greve na Galiza, eu teria garantidamente de dar explicações a um ou vários interlocutores, enquanto alegado embaixador do reino vizinho. Era raro passar uma semana sem que alguém mencionasse a Padeira de Aljubarrota ou pronunciasse o velho provérbio: “De Espanha, nem bom vento nem bom casamento”.
Este antiespanholismo – mais brincalhão do que coerente, mais provocador do que nocivo – era encenado por duas ou três personagens com mais insistência e verosimilhança do que as outras. Uma delas, porventura a mais resmungona, costumava proclamar que, se dela dependesse, mandaria construir um túnel para chegar a França sem passar por Espanha.
O reverso deste lado gozão era a xenofobia e o racismo genuínos de alguns dos meus colegas e uma inexplicável simpatia pela ETA, partilhada por muitos portugueses fora daquela redação. Os membros da Euskadi ta Askatasuna (País Basco e Liberdade) beneficiaram em Portugal, pelo menos até há pouco tempo, de uma visão romântica, que ignorava as vítimas e apresentava os crimes como um mal necessário numa suposta luta pela liberdade. Essa imagem difusa ainda flutua nas cabeças de alguns portugueses, com destaque para determinados setores da política (de direita e de esquerda) e da imprensa.
Ao longo da década seguinte, observei – dentro e fora do âmbito profissional – muitos outros exemplos de incompreensão e desconfiança entre as duas nações ibéricas, mas também uma curiosidade crescente e até uma certa cumplicidade na política externa. Os portugueses nunca deixaram de mostrar interesse pelo único país vizinho – algo perfeitamente natural, que torna ainda mais inexplicável o facto de os portugueses, apesar dos avanços recentes, continuarem a ser um mistério para a maioria dos espanhóis.
A indiferença ou falta de interesse pela vida portuguesa está longe, porém, de ser um exclusivo dos mal chamados “hermanos“; é praticamente universal e subsiste em pleno auge do turismo, numa altura em que as cidades de Lisboa e Porto parecem tomadas por espanhóis e franceses. Convenhamos: o que se passa neste pequeno retângulo só está no radar dos chamados PALOP e das minorias cultas do Brasil e de mais meia dúzia de países. A Espanha olha sobretudo para a França, a França para a Alemanha, e a Alemanha tem uma perspetiva sobre a Europa semelhante à dos Estados Unidos sobre o resto do globo.
Numa rara visita a Coimbra (a esmagadora maioria das reportagens internacionais começa e acaba em Lisboa), tive a oportunidade de conhecer, com vários anos de atraso, o ambiente universitário que teria vivido se não tivesse começado a trabalhar na Rádio Expo durante o Erasmus. Por coincidência, encontrei uma amiga dinamarquesa, que estava a fazer uma pós-graduação numa das faculdades, e decidimos ir juntos à nossa primeira Serenata Monumental. Confesso que nem sequer sabia que se tratava da festa que inaugura a Queima das Fitas, ou que não era costume aplaudir. Invadiram-me todo o tipo de sensações. Era quase impossível escapar, porque as imediações da Sé Velha coimbrã estavam abarrotadas de capas negras. E mesmo que quiséssemos fugir, a minha amiga e eu estávamos petrificados, tal como os outros espectadores: tudo naquele largo românico parecia de cera sob a luz amarelada dos candeeiros. Depois de cada música havia uma longa pausa silenciosa, como se, em vez de um espetáculo ao vivo, estivéssemos a ouvir um vinil de Madredeus – ou melhor, de José Afonso, uma vez que as vozes femininas continuam interditas em Coimbra.
Aquele concerto sepulcral, tão alegre quanto uma missa negra mas não isento de beleza, será sempre recordado por aquela dupla de intrusos como uma das mais representativas manifestações da portugalidade. Ambos já tínhamos percorrido o Brasil e, no final da serenata, concluímos que seria difícil encontrar uma antítese mais perfeita do Carnaval brasileiro – a celebração da nudez e da libertinagem, das cores e dos enfeites, das danças desenfreadas e dos ritmos selváticos; o festival dos excessos, em suma, frente ao comedimento absoluto.


















