Quando se procura um livro que ajude a compreender as razões dos milhões de americanos de zonas relativamente pobres que votaram Donald Trump em estados que habitualmente elegiam presidentes democratas o livro de J. D. Vance surge invariavelmente entre as leituras obrigatórias. O testemunho deste jovem advogado, em forma de autobiografia, é uma viagem ao mundo dos trabalhadores industriais, a maioria deles brancos e com poucas qualificações — aqueles que formam a “white working class” –, que assistiram impotentes à desindustrialização de regiões que, não há muitas décadas, eram prósperas e conheciam o pleno emprego. É um território devastado, uma sociedade em ruínas, comunidades destruídas pela droga e pelo álcool, famílias desfeitas e gente presa numa cultura de dependência.
J. D. Vance escapou quase milagrosamente à lógica autodestrutiva que parecia engolir tudo à sua volta — engolira a sua própria mãe, engoliu quase todos aqueles com quem brincou nas ruas ou estudou em escolas desqualificadas e sem disciplina — e, depois de uma passagem pelos Marines e a entrada em Yale, mudou literalmente de mundo. Hillbilly Elegy, o intraduzível título original deste livro — de que a seguir publicamos o capítulo introdutório –, é ele mesmo uma homenagem a essas comunidades, uma elegia aos “hillbilly”, como orgulhosamente se autodesignam os descendentes de irlandeses e escoceses que, nas colinas dos Apalaches, nas suas minas de carvão e na sua indústria pesada, conheceram os anos de ouro do boom económico do pós-guerra. São os descendentes dessas gerações de operários industriais que, depois de terem assistido à deslocalização das fábricas onde os seus pais e avós tinham trabalhado, se viraram para Donald Trump, apoiando com entusiasmo o seu discurso anti-globalização.
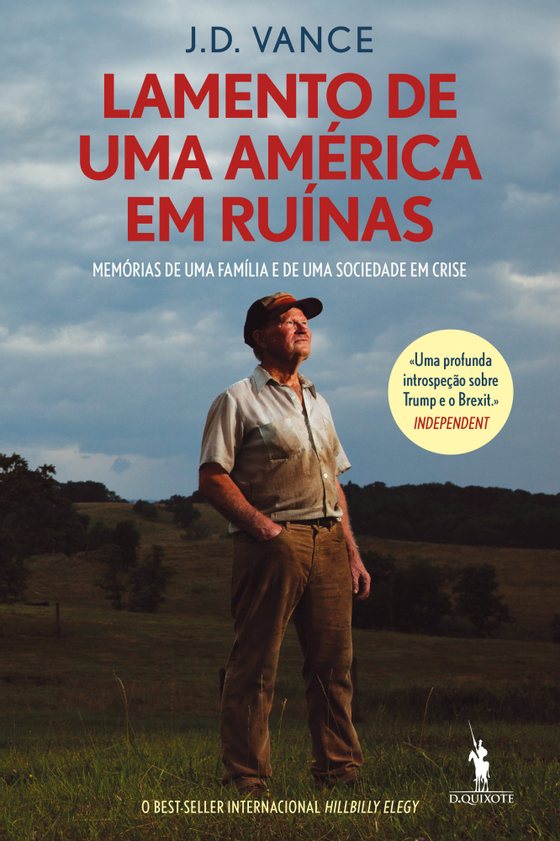
“Lamento de uma América em Ruínas”, de J.D. Vance (Dom Quixote)
“O meu nome é J. D. Vance e acredito que devo começar com uma confissão: acho a existência deste livro um tanto absurda. Diz na capa que se trata de um livro de memórias, mas tenho 31 anos e sou o primeiro a admitir que não realizei nenhum feito grandioso na vida, certamente nada que justifique que um estranho pague para ler algo sobre mim. O melhor que já fiz, pelo menos no papel, foi formar-me na Yale Law School, algo que o J. D. Vance de 13 anos teria achado uma loucura. Mas cerca de duzentas pessoas fazem a mesma coisa todos os anos, e acredite, não vai querer ler sobre a vida da maioria delas. Não sou senador, governador nem ex-ministro. Não fundei uma empresa de milhões de dólares nem uma organização sem fins lucrativos que mudou o mundo. Tenho um bom emprego, um casamento feliz, uma casa confortável e dois cães cheios de energia.
Ou seja, não escrevi este livro por ter conquistado algo de extraordinário. Escrevi este livro porque conquistei algo assaz comum, o que não acontece com a maioria dos rapazes que tiveram a mesma educação que eu. Cresci pobre, no Cinturão da Ferrugem, numa cidade do Ohio produtora de aço, que tem perdido empregos e a esperança, como uma hemorragia, desde que me lembro. Tenho, no mínimo, uma relação complexa com os meus pais, um dos quais lutou contra a toxicodependência durante quase toda a minha vida. Foram os meus avós, que não acabaram o ensino secundário, que me criaram, e poucos membros da minha família frequentaram a universidade. As estatísticas dizem que os rapazes como eu têm pela frente um futuro sombrio: com sorte, conseguirão evitar o subsídio de desemprego; se tiverem azar, morrerão de uma overdose de heroína, como aconteceu com dezenas deles na minha pequena cidade natal só no ano passado.
Eu era um desses rapazes com um futuro sombrio pela frente. Quase fiquei a meio do ensino secundário. Quase cedi à raiva e ao ressentimento profundos que todos à minha volta sentiam. Hoje, as pessoas olham para mim, para o meu emprego e para o meu diploma de uma universidade da Ivy League, o grupo das oito universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, e supõem que sou alguma espécie de génio, que só uma pessoa realmente extraordinária poder ter chegado onde cheguei. Com o devido respeito por essas pessoas, acho que essa teoria é um disparate. Quaisquer que sejam os meus talentos, quase os desperdicei antes que algumas pessoas que me estimavam me resgatassem.
Esta é a verdadeira história da minha vida, e foi por isso que escrevi este livro. Quero que as pessoas saibam o que é quase desistir de si mesmo e por que motivo alguém faria isso. Quero que as pessoas percebam o que acontece nas vidas dos pobres e o impacto psicológico que a pobreza espiritual e material tem nos seus filhos. Quero que as pessoas compreendam o Sonho Americano com que eu e a minha família nos defrontámos. Quero que as pessoas entendam qual é a verdadeira sensação da mobilidade social. E quero que as pessoas percebam algo que só aprendi recentemente: quando temos a sorte de viver o Sonho Americano, os demónios da vida que deixámos para trás continuam a perseguir-nos.
Existe um componente étnico que nos espreita do fundo da minha história. Na sociedade americana que tem consciência das questões de raça, o nosso vocabulário normalmente não vai além da cor da pele de alguém: «negros», «asiáticos», «brancos privilegiados». Às vezes, essas categorias amplas são úteis, mas para compreender a minha história é preciso prestar atenção aos detalhes. Posso ser branco, mas não me identifico com os «brancos protestantes e anglo-saxões» do Nordeste dos Estados Unidos. Pelo contrário, identifico-me com os milhões de americanos brancos da classe operária, descendentes de escoceses ou irlandeses, que não possuem um diploma universitário. Para essa gente, a pobreza é uma tradição familiar – os seus antepassados trabalhavam à jorna na economia esclavagista do Sul, depois como meeiros, e mais recentemente como operários. Os americanos chamam-lhes «saloios», «labregos», ou «escumalha branca». Eu trato-os por «vizinhos», «amigos» e «família».
Os descendentes de imigrantes escoceses e irlandeses são um dos subgrupos mais característicos na América. Como disse uma vez um observador: «Ao viajar pelos Estados Unidos, fiquei impressionado com os escoceses-irlandeses, a subcultura regional mais persistente e imutável do país. As suas estruturas familiares, a religião, a política e a vida social continuam inalteradas, comparadas com o abandono indiscriminado das tradições que ocorreu em quase toda parte.» Essa distinta aceitação da tradição cultural vem acompanhada de diversos traços positivos – um sentimento de lealdade muito forte, uma dedicação feroz à família e ao país –, mas também de muitos traços negativos. Não gostamos de forasteiros nem de gente diferente de nós, quer a diferença esteja na aparência, nos atos ou, o que é ainda mais importante, no modo de falar. Para me compreender, terá de compreender que, no fundo, sou um saloio escocês-irlandês.
Se a etnia é uma face da moeda, a geografia é a outra. Quando a primeira onda de imigrantes escoceses e irlandeses chegou ao Novo Mundo no século xvii, estes sentiram-se profundamente atraídos pelos Montes Apalaches. A área é enorme – estende-se do Alabama à Geórgia a sul, e do Ohio até à região norte do estado de Nova Iorque –, mas a cultura dessa região é extraordinariamente coesa. A minha família, oriunda das colinas do Leste do Kentucky, descreve-se como saloia, mas o Hank Williams Jr. – nascido na Luisiana e morador do Alabama – também se identificava assim no seu hino rural branco: «Um rapaz do campo consegue sempre sobreviver.» Foi a nova orientação política da região dos Apalaches, que era democrata e passou a ser republicana, que redefiniu a política americana depois de Nixon. E é na região dos Apalaches que a sorte dos brancos da classe trabalhadora parece mais sombria. Baixa mobilidade social, pobreza, drogas, divórcio; a minha terra natal é um ponto central de miséria.
Não é de surpreender, então, que sejamos um bando de pessimistas. O surpreendente é que, de acordo com algumas pesquisas, os brancos da classe trabalhadora sejam o grupo mais pessimista da América. Mais pessimistas do que os imigrantes latinos, muitos dos quais vivem em pobreza extrema. Mais pessimistas do que os afro-americanos, cujas perspetivas de avanços materiais continuam a arrastar-se atrás das dos brancos. Embora a realidade permita algum grau de cinismo, o facto de saloios como eu serem mais pessimistas em relação ao futuro do que muitos outros grupos – alguns dos quais são claramente mais miseráveis do que nós – sugere que algo mais está a acontecer.
E acontece, de facto. Estamos mais isolados socialmente do que nunca, e passamos esse isolamento para os nossos filhos. A nossa religião mudou – construída ao redor de igrejas com forte ênfase na retórica emocional, mas fracas em termos do tipo de apoio social necessário para permitir que rapazes pobres tenham êxito. Muitos de nós abandonamos o mercado de trabalho ou escolhemos não procurar melhores oportunidades. Os nossos homens sofrem de uma crise de masculinidade peculiar, na qual alguns dos traços que a nossa cultura inculca em nós são exatamente aqueles que dificultam o sucesso num mundo em constante mudança.
Quando menciono as dificuldades da minha comunidade, geralmente oferecem-me uma explicação que diz mais ou menos isto: «É claro que as perspetivas para os brancos da classe trabalhadora pioraram, J. D., mas estás a pôr o carro à frente dos bois. Há mais divórcios, menos casamentos, e são menos felizes porque as suas oportunidades económicas diminuíram. Se eles tivessem mais empregos, as outras áreas das suas vidas também iriam melhorar.»

O autor, J.D. Vance
Eu pensava o mesmo antes, e quis desesperadamente acreditar nisso durante a minha juventude. Faz todo o sentido. Não ter emprego é stressante, e não ter dinheiro suficiente para viver é mais stressante ainda. Quando o centro de produção do Midwest industrial se esvaziou, a classe trabalhadora branca perdeu tanto a sua estabilidade económica quanto a vida familiar e o lar estável que resultam dela.
Mas a experiência pode ser um mestre bem difícil, e ela ensinou-me que essa história de insegurança económica está, na melhor das hipóteses, incompleta. Poucos anos atrás, durante o verão antes de entrar na Yale Law School, procurei um emprego a tempo inteiro para financiar a minha mudança para New Haven, no Connecticut. Um amigo da família sugeriu que eu trabalhasse para ele numa empresa de dimensão média de distribuição de pavimento cerâmico perto da minha cidade. Pavimento cerâmico é algo extremamente pesado. Cada peça pesa entre um quilo e meio e três quilos, e elas são embaladas geralmente em caixas com oito a doze peças. A minha principal tarefa era colocar as embalagens sobre um contentor e prepará-lo para ser despachado. Não era fácil, mas pagavam 13 dólares à hora e eu precisava do dinheiro, então aceitei o emprego e fiz o máximo de horas extra que pude.
A empresa de pavimento cerâmico empregava cerca de doze pessoas, e a maioria dos empregados já trabalhava lá há muitos anos. Um dos tipos tinha dois empregos a tempo inteiro, mas não porque precisasse: o segundo emprego na empresa de pavimento cerâmico permitia que ele corresse atrás do sonho de ser piloto de aviões. Treze dólares à hora era bom dinheiro para um homem solteiro na nossa cidade – um apartamento decente custa cerca de 500 dólares por mês – e a empresa aumentava os empregados regularmente. Quem trabalhasse lá há alguns anos recebia pelo menos 16 dólares à hora numa economia em recessão, o que representava um rendimento anual de 32 mil dólares – bem acima da linha de pobreza, mesmo considerando o rendimento total de uma família. Apesar de oferecer empregos relativamente estáveis, os gestores da empresa não conseguiram preencher a vaga no armazém para a qual fui contratado com um antigo funcionário. Quando saí, trabalhavam três homens no armazém; com 26 anos, eu era o mais velho de todos.
Um homem – chamemos-lhe Bob – entrou para o armazém poucos meses depois de mim. O Bob tinha 19 anos e a sua namorada estava grávida. O gerente ofereceu gentilmente à namorada do Bob um emprego no escritório, a atender os telefones. Eram os dois péssimos funcionários. A namorada faltava um em cada três dias, sempre sem avisar. Apesar de ter sido alertada várias vezes, a rapariga não mudou o seu comportamento e foi dispensada poucos meses depois. O Bob faltava ao trabalho mais ou menos uma vez por semana, e chegava sempre atrasado. E ainda por cima costumava ir três ou quatro vezes por dia à casa de banho, demorando mais ou menos meia hora de cada vez. Aquilo tornou-se tão mau que, no final do meu período na empresa, um outro funcionário e eu até brincávamos com a situação: acionávamos um cronómetro quando ele ia à casa de banho e anunciávamos o tempo em voz alta para todo o armazém ouvir – «Trinta e cinco minutos!», «Quarenta e cinco minutos!», «Uma hora!».
O Bob acabou por ser despedido também. Quando isso aconteceu, gritou furioso com o supervisor: «Como me podes fazer isso? Não sabes que a minha namorada está grávida?!» E não foi o único: pelo menos mais duas pessoas, inclusive o primo do Bob, perderam o emprego ou pediram a demissão durante o curto período que passei no armazém desta empresa.
Não podemos ignorar histórias como esta quando falamos sobre igualdade de oportunidades. Economistas laureados com o Prémio Nobel preocupam-se com o declínio das indústrias do Midwest e com o esvaziamento do núcleo económico dos trabalhadores brancos. O que eles querem dizer é que o que antes era feito pelos operários nas indústrias americanas passou a ser feito noutros países e que empregos de classe média são difíceis de conseguir por quem não tem um diploma universitário. Está certo, também me preocupo com isso. Mas este livro trata de outra coisa: do que acontece na vida de pessoas reais quando a economia industrial vai mal. Fala sobre como essas pessoas reagem às circunstâncias adversas da pior maneira possível. Fala de uma sociedade que cada vez mais encoraja a decadência social em vez de a combater.
Os problemas que vi quando trabalhei no armazém dessa empresa têm raízes muito mais profundas do que tendências e políticas macroeconómicas. Um grande número de homens jovens que não gostam do trabalho pesado. Bons empregos nos quais ninguém quer ficar por muito tempo. E um rapaz com todos os motivos para trabalhar – uma futura esposa para sustentar e um filho a caminho – deixou fugir um bom emprego com um excelente seguro de saúde. E o que é mais perturbador: quando o Bob perdeu o emprego, achou que foi algo que lhe fizeram. Existe uma falta de poder – um sentimento de que se tem pouco controlo sobre a própria vida e um desejo de culpar toda a gente menos a si mesmo. Isso é diferente do cenário económico mais amplo da América moderna.
Vale a pena ressaltar que, embora tenha como foco o grupo de pessoas que conheço – brancos da classe trabalhadora da região dos Montes Apalaches –, não estou a defender que merecemos mais solidariedade do que as outras pessoas. Esta não é uma história sobre o motivo por que os brancos têm mais de que se queixar do que os negros ou qualquer outro grupo social. Dito isto, espero que sejam capazes de fazer, por meio deste livro, uma avaliação de como classe social e família afetam os pobres, sem basearem as vossas opiniões num prisma racial. Para muitos analistas, termos como «rainha da segurança social» provocam imagens injustas da mãe negra preguiçosa, que vive à custa do auxílio do Estado. É fácil perceber que existe pouca relação entre essa imagem e os meus argumentos: conheci muitas «rainhas da segurança social»; algumas eram minhas vizinhas, e todas eram brancas.
Este livro não é um estudo académico. Nos últimos anos, William Julius Wilson, Charles Murray, Robert Putnam e Raj Chetty escreveram trabalhos interessantes e baseados em pesquisas rigorosas, que demonstram que a mobilidade social caiu nos anos 1970 e nunca se recuperou realmente; que algumas regiões dos Estados Unidos se saíram bem pior do que outras (pasmem!, a região dos Montes Apalaches e o Cinturão da Ferrugem saíram-se muito mal); e que muitos dos fenómenos que vi na minha própria vida existem por toda a sociedade americana. Posso discordar de algumas das suas conclusões, mas eles demonstraram de forma convincente que a América tem um problema. Embora eu use alguns dados, e embora às vezes me baseie em estudos académicos para provar um ponto de vista, o meu objetivo principal não é convencer-vos de um problema já documentado. O meu objetivo principal é contar uma história verdadeira sobre que tipo de sentimento esse problema causa, quando se nasce com ele pendurado ao pescoço.
Não posso contar esta história sem invocar o elenco que fez parte da minha vida. Assim, este livro não é apenas uma autobiografia pessoal, mas sim familiar – uma história de oportunidades e da mobilidade social vista pelos olhos de um grupo de rústicos da região dos Montes Apalaches. Duas gerações atrás, os meus avós eram extremamente pobres e estavam apaixonados. Casaram-se e mudaram-se para o Norte na esperança de fugir da pobreza extrema que os cercava. O neto deles (eu) formou-se numa das melhores instituições de ensino do mundo. Esta é a versão curta. A versão longa está nas páginas seguintes.
Embora às vezes mude os nomes das pessoas para proteger a sua privacidade, esta história é, do que me lembro, um retrato fiel do mundo que conheci. Não há personagens inventadas nem atalhos narrativos. Onde foi possível, comprovei os detalhes com documentos – boletins escolares, cartas manuscritas, anotações em retratos –, mas tenho a certeza de que esta história é tão falível como qualquer lembrança humana. De facto, quando pedi à minha irmã para ler um esboço inicial deste livro, isso provocou uma conversa de meia hora sobre a possibilidade de eu ter deslocado cronologicamente um evento. Fiquei com a minha versão dos factos, não porque desconfie da memória da minha irmã (na verdade, creio que a memória dela é melhor do que a minha), mas porque acho que há algo a aprender no modo como organizei os eventos na minha cabeça.
Também não sou um observador imparcial. Quase todas as pessoas sobre as quais vão ler estão cheias de defeitos. Algumas tentaram assassinar outras pessoas, e umas poucas foram bem-sucedidas. Algumas abusaram dos filhos, física ou emocionalmente. Muitas usaram (e ainda usam) drogas. Mas amo essas pessoas, mesmo aquelas com quem evito falar para preservar a minha sanidade. E se eu deixar a impressão de que existem pessoas más na minha vida, então peço desculpa, tanto a si quanto às pessoas assim retratadas. Porque não existem vilões nesta história. Existe apenas um bando desordenado de saloios que lutam para encontrar o seu caminho – tanto por eles mesmos quanto, com a graça de Deus, por mim também.”















