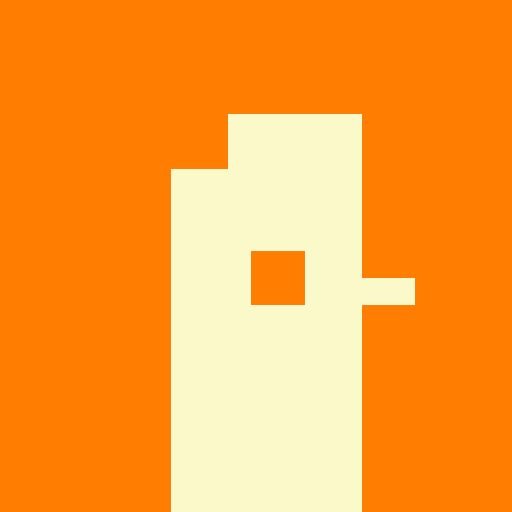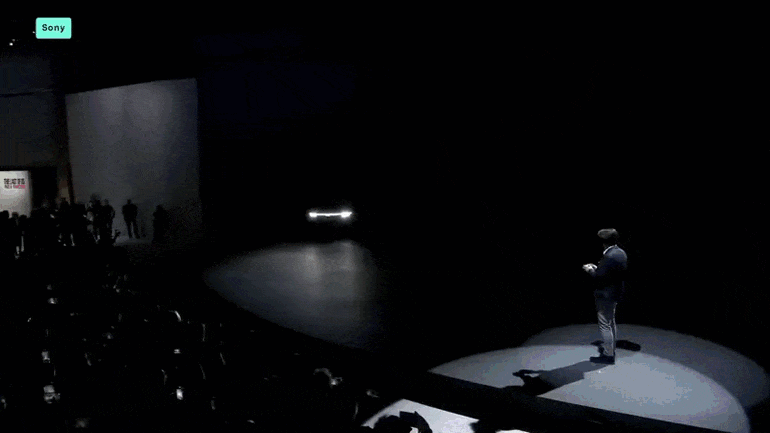“10 anos aqui…” – disse-lhe eu suspirando – “é a minha segunda relação mais longa”.
E ela respondeu “Pois, a primeira é com a Nintendo, não é?”.
“Desculpa, é a 3ª, a Nintendo desde 1991, depois a relação que estava a pensar, e a seguir os 10 anos que trabalho aqui.”
Foi com esta breve conversa com a minha colega Danny aquando do nosso décimo aniversário de serviço à casa, que me lembrei que a minha relação com a Nintendo é mesmo a mais longa que já tive. Ao mesmo tempo a mais pura, a menos complicada, no fundo, o meu primeiro amor, e diz o povo que não há como o primeiro.
Tudo começou naquele longínquo Natal em que os meus pais nos ofereceram a Nintendo Super Set, quatro comandos, “Super Mario Bros.”, “Tetris” e “Nintendo World Cup”. A partir daí foi uma (boa) desgraça. Eu nunca mais a larguei. As horas que passei com ela (ainda está lá, em casa dos meus pais, na sua caixa, com cabos torcidos e partidos, não funciona, mas está lá…) com os meus irmãos e amigos, meus e deles, estarão sempre guardadas no meu coração. Houve outras, mais novas e bonitas. Ainda há… estão em minha casa, algumas, outras seguiram o seu caminho. Mas todas Nintendo. (Quer dizer… duas não foram. Uma Sega Saturn e uma Dreamcast, mas essas não contam, eram tipo… primas. Eram da família.) A minha paixão pela Nintendo é tão grande que no outro dia quando me sugeriram emprestar uma consola de outra marca para eu analisar um jogo baseado numa série de animação que sou tão fã ao ponto de ter um personagem tatuado no braço, eu recusei. Ia ser como levar “a outra” para casa, não quero que a que está ligada à TV fique com ciúmes. Jogar um bocadinho numa ou outra de vez em quando noutro local, ou ver um jogo nelas é tranquilo, mas ali em casa não vou trai-la. Nunca…
A (minha) Nintendo, sempre esteve lá para mim, em todos os pontos da minha vida, bons e maus, em casa e fora, ela já foi confidente de segredos e apaziguadora de raivas, quebra-gelo de desconhecidos e proporcionadora de discussões (especialmente no “Mario Kart”…), dissolvente de atritos e companheira em tempos de solidão, até foi entretenimento de viagem. Ela esteve sempre lá. Em todos os momentos marcantes, e deixou-me as suas marcas. Algumas, literalmente na pele. Infelizmente em pleno século XXI quem usa tatuagens ainda é visto de uma maneira preconceituosa. Assim como quem afirma que gosta de videojogos. Na sociedade portuguesa, e não só, o que aparentamos ser é muito mais valioso do que aquilo que realmente somos, aquilo que combatemos e batalhamos todos os dias.
Duas das minhas cinco a oito tatuagens são “da Nintendo” e marcam-me todos os dias, assim como ela, e os seus jogos, marca o meu passado, o meu presente, a minha vida. Lembrando algo que a Alexa diz no meu artigo favorito do Rubber, “os jogos são tatuagens”. E as tatuagens, as outras, aquelas a sério na pele, são como medalhas que nos lembram dos níveis que passámos, dos bosses que derrotámos. São como cicatrizes de batalhas virtuais, ou às vezes reais.
Em “A Decadência da Mentira”, Oscar Wilde diz “A vida imita a arte muito mais que arte imita a vida”, e não querendo criar uma discussão digo que os videojogos são uma forma de arte, e como qualquer arte há o bom e o mau, o comercial e o “artístico”, mas isso são contas de outro rosário. Existe um paralelismo enorme entre jogos e a vida, nós os jogadores aprendemos muito com eles. Eu podia escrever durante horas acerca do que aprendi a jogar ao longo dos meus muitos anos de jogador, mas vou apenas dizer o ponto mais importante. Aprendi a perder. Porque é isso que acontece na vida, perdemos. Constantemente. Quase todos os dias vamos perdendo algo, mas aprendemos com isso, nos jogos e na vida, a não desistir, a levantar e continuar em frente, sem códigos, sem ajudas, apenas mais fortes mais duros, no objetivo de chegar aquele castelo onde pode ou não estar a princesa. E quando passamos por um nível mais complicado, ou um boss, lá metemos mais uma medalha, mais um ou outro achievement. E essas às vezes são em forma de tatuagem.
Cada um de nós, à sua maneira, precisa de um escape para manter a nossa sanidade mental e física. É nos videojogos que eu me refugio da vida real, sempre foi, desde novo, desde aquela primeira Nintendo. Foi ela que nunca me abandonou quando precisei, uma presença constante, em primeiro ou segundo plano, para o melhor e pior, na doença e na saúde mesmo como uma tatuagem, no coração, na alma, e quem me tirar isso, é como se arrancasse um pedaço meu, da minha identidade, da minha pele. Podem achar exagerado, ou até um pouco louco, mas não temos todos nós algo assim? Livros, filmes, músicas? Outras marcas e cicatrizes? Outras relações e tatuagens?
João Machado, Rubber Chicken