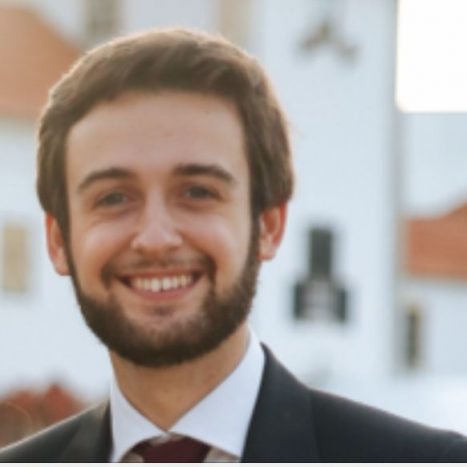Título: “O Pavilhão Púrpura”
Autor: José Rodrigues dos Santos
Editora: Gradiva
Páginas: 697
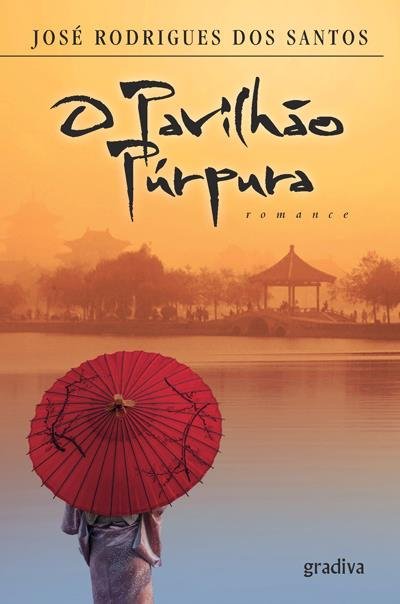
Diz-se de uma anedota que à primeira tem graça, à segunda passa e à terceira maça. Dado que não é difícil aproximar o livro de Rodrigues dos Santos da anedota, e que passar a pente fino já António Araújo o passou, pedimos desde já desculpa pela inevitável maçada deste texto.
De pouco vale vincar os já bem marcados recursos linguísticos do jornalista, tão parcos que levam a que a todas as adolescentes se lhes encurvem as formas e se lhes encham os peitos. Enchidas são estas 700 páginas com lugares-comuns, banalidade literária e informação debitada a esmo, num simplismo ao mesmo tempo cândido e sobranceiro, paternalista e infantil.
Justiça lhe seja feita: Rodrigues dos Santos já conseguiu passar do mau estilo à simples sem-saboria. As metáforas atrozes, como “Estou a ver as artes dessa (…) desavergonhada. Abocanha a tua árvore de carne e torneia-te a haste até o fruto te rebentar”, proferidas por raparigas em saturninas sessões de estudo, já são raras. Rodrigues dos Santos refreou o seu pendor poético, mas reforçou a sua inclinação pedagógica. Este pavilhão púrpura, aliás, não é bem um romance: está mais para Wikipédia em diálogo, tal a quantidade de informação histórica condensada em conversas. José Rodrigues dos Santos pôs mais afinco em mostrar que consegue responder a um exame nacional de História do que em construir um romance. Por todas as bocas distribui conceitos históricos mal manejados, opiniões que destrinçam in loco causas económicas e sociais para tudo o que está a acontecer, e uma estranha auto-análise que leva a que as personagens se enquadrem a si próprias como um arquétipo social de uso jornalístico.
Uma rapariga diz: “Sou uma moga, uma rapariga moderna. Em França chamam-nos garçonnes, na América somos as flappers e na China as modeng xiaojie. Tal como todas as mogas, ouço jazz, leio literatura, tiro fotografias diante da ponte Sukiya e pratico a gimbura para frequentar os cafés da Ginza onde se discute arte e política”. Não sabemos se Rodrigues dos Santos, num erudito jogo literário, quer remeter para o teatro teológico medieval, em que personagens como a Avareza ou a Ganância se apresentavam e declamavam as suas acções típicas; pode também acontecer que, mais modesto, remeta para um simples guia de conversação japonês-português. O certo é que pôr uma personagem a falar assim provoca uma revolução literária que só tem paralelo na originalidade de uma rapariga que escolhe para passatempo dirigir-se constantemente à mesma ponte para tirar fotografias.
Esta, no entanto, sempre fala de si própria. Porque quando as personagens se põem a discutir a cena política – isto é, sempre – o resultado parece ser o ajuntamento de todos os nomes de subcapítulos de um livro sobre os antecedentes da segunda guerra mundial, disfarçados por truques toscos como principiar as frases por “não sabes que…?” ou “não te esqueças que…”. “Deixe-me lembrar-lhe que o Kuomintang avançou já no ano passado com a reforma agrária sonhada pelo honorável Sun Yat-sem, tendo sido reorganizado o registo de propriedades, que estava num absoluto caos por causa das sucessivas guerras civis. Agora queremos acabar com uma série absurda de taxas e entregar a terra aos lavradores…”, diz um; noutro exemplo, desta feita português, Salazar informa: “A seguir ao Instituto Superior Técnico iremos construir um edifício para o Instituto Nacional de Estatística e outro para a Casa da Moeda e outro ainda para albergar a Faculdade de Letras. Depois será a vez de concluir os bairros sociais da Ajuda e do Arco do Cego e a seguir iremos lançar outros bairros de casas económicas com rendas mais baixas na Madre de Deus, na Encarnação, no Alvito, em Caselas, na Calçada dos Mestres, na Serafina e no Vale Escuro. E olhe que não me esqueço das estradas, caro major. Vou dar ordens para se construir uma marginal até Cascais e a primeira autoestrada de Portugal, concebida à maneira das autoestradas alemãs, destinada a ligar Lisboa a um grandioso Estádio Nacional que também iremos erguer em estilo grego clássico”. O ditador continua a ditar – nas suas próprias palavras fictícias “não é tudo!” – mas nós, além de zoilos insensíveis às maravilhas deste estilo, somos cábulas impenitentes que privamos os leitores à tão necessária instrução das obras do Estado Novo.
O método torna-se mais engraçado quando José Rodrigues dos Santos usa estes programas políticos para demonstrar a argúcia dos seus heróis. Diante de um imbróglio internacional, os seus inteligentíssimos prevêem miraculosamente o desenrolar da História contemporânea. E por muito embrenhado que Rodrigues dos Santos esteja nos ambientes do seu romance, não deixamos de saber o que se passou com a Rússia, a China, o Japão ou Portugal nas décadas de 30 e 40, pelo que as capacidades divinatórias dos seus heróis não impressionam por aí além.
História mas pouco
O problema é que, se não nos impressionam com as suas qualidades de arúspice, não podem impressionar com mais nada. Todo o colorido do romance se escora nestas revelações de factos teoricamente escondidos e numa pretensa agilidade mental – de que o autor tanto se ufana — para descobrir segredos e conspirações encapotados debaixo da História. Dado que os factos só são novos para quem nunca ouviu falar deles, e que o autor deve ser o único animal com orelhas que os nunca tinha ouvido, tudo o resto perde o interesse.
O romance de José Rodrigues dos Santos, de facto, não tem História. O seu enredo consiste, como acontece em tantos romances históricos desde o tempo de Rocha Martins, em pôr, por uma série de benesses do destino, personagens comuns no centro dos acontecimentos importantes do seu tempo. As quatro histórias relatadas têm pouco mais do que isto. A personagem portuguesa, a par de umas conversas com Salazar, segue os nacional-sindicalistas de Rolão Preto e pouco mais; os Russos são vítimas da prepotência soviética e fogem do jugo de Estaline com um elaborado plano que consiste em corromper todos os guardas com uma fonte inesgotável de dólares; os chineses servem de alavanca para inúmeras conversas sobre eugenia e o japonês já apimenta um pouco o romance; a sua grande história particular passa pela forma como conseguiu levar uma rapariga a perdoar-lhe a bigamia secreta: o visionário romântico – anotem apaixonados – fez uma serenata e tudo foi perdoado.
Enfim, personagens formatadas, enredo com a complexidade de uma aventura infanto-juvenil e estilo pouco mais do que pobre. E dizemos pouco mais do que pobre – e não simplesmente pobre – porque de súbito o leitor se depara com umas elevações literárias que surpreendem o incréu adormecido pelas outras páginas. Repentinamente, a prosa passa de pobre a económica, a doutrina de filosofia barata a pensamento conciso. Melhora o vocabulário, refina a construção, garrem-se as imagens. E no entanto, esta prosa depurada, que o autor encabou no meio do seu discurso pastoso, não deixa de parecer estranha, como que requentada. Quando Salazar, em conversa com Carmona, lhe explica que “fora do são nacionalismo, fora da nação e do amor da pátria não há força militar, apenas exércitos de parada ou hordas organizadas para a pilhagem”, a frase, apesar do seu elevado requinte literário, não deixa de parecer requentada a quem já leu o “Elogio das Virtudes Militares”, incluído no primeiro volume dos discursos de Salazar, em que este explica: “Fora do são nacionalismo, fora da noção de amor à pátria não há, pois, vida nem força militar: há exércitos de parada ou hordas organizadas para a pilhagem”. Teria Salazar, nesse momento, percebido o efeito dramático das suas palavras, rememorando-as durante meses, para as proferir de novo diante de uma assembleia marcial? E quando, pouco depois, ensina ao mesmo Carmona:
Não há nada que o Homem considere mais sagrado que o seu pensamento e chego a concordar que a censura é uma instituição defeituosa, injusta por vezes, sujeita ao livre-arbítrio dos censores, às variantes do seu temperamento, às consequências do seu humor”?
Trata-se de algo que decorou para debitar diante de todos os governantes da nação? É que nas entrevistas a António Ferro ensina o seguinte: “não há nada que o Homem considere mais sagrado do que o seu pensamento e a expressão do seu pensamento” e “chego a concordar que a censura é uma instituição defeituosa, injusta por vezes, sujeita ao livre-arbítrio dos censores, às variantes do seu temperamento, às consequências do seu mau humor”. De uma conversa para a outra, só o humor dos censores se transforma em mau humor, e a correcção sintáctica existente na entrevista de Salazar com António Ferro passa a erro na transcrição de Rodrigues dos Santos, já que se diz “mais sagrado do que” e não “mais sagrado que”. Em tudo o resto, a memória de Salazar é admirável. Mais admirável ainda, só a escolha de Rodrigues dos Santos que, depois de tanto escrúpulo para copiar textualmente palavras de Salazar e as verter para outros contextos, depois de tanto cuidado para não pôr o Homem de Santa Comba a dizer o que não disse, tome a liberdade de pôr na boca dele expressões como “Olaré” e “bico calado”, dirigindo-se a um major do exército.
O livro podia empolgar, apesar de todas as contradições, de todos os absurdos e da banalidade literária. Mas ao seu enésimo livro, José Rodrigues dos Santos já toma para si – com o mesmo escrúpulo com que tomou para Salazar as suas palavras – aquilo que prometemos para este texto: já maça.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.