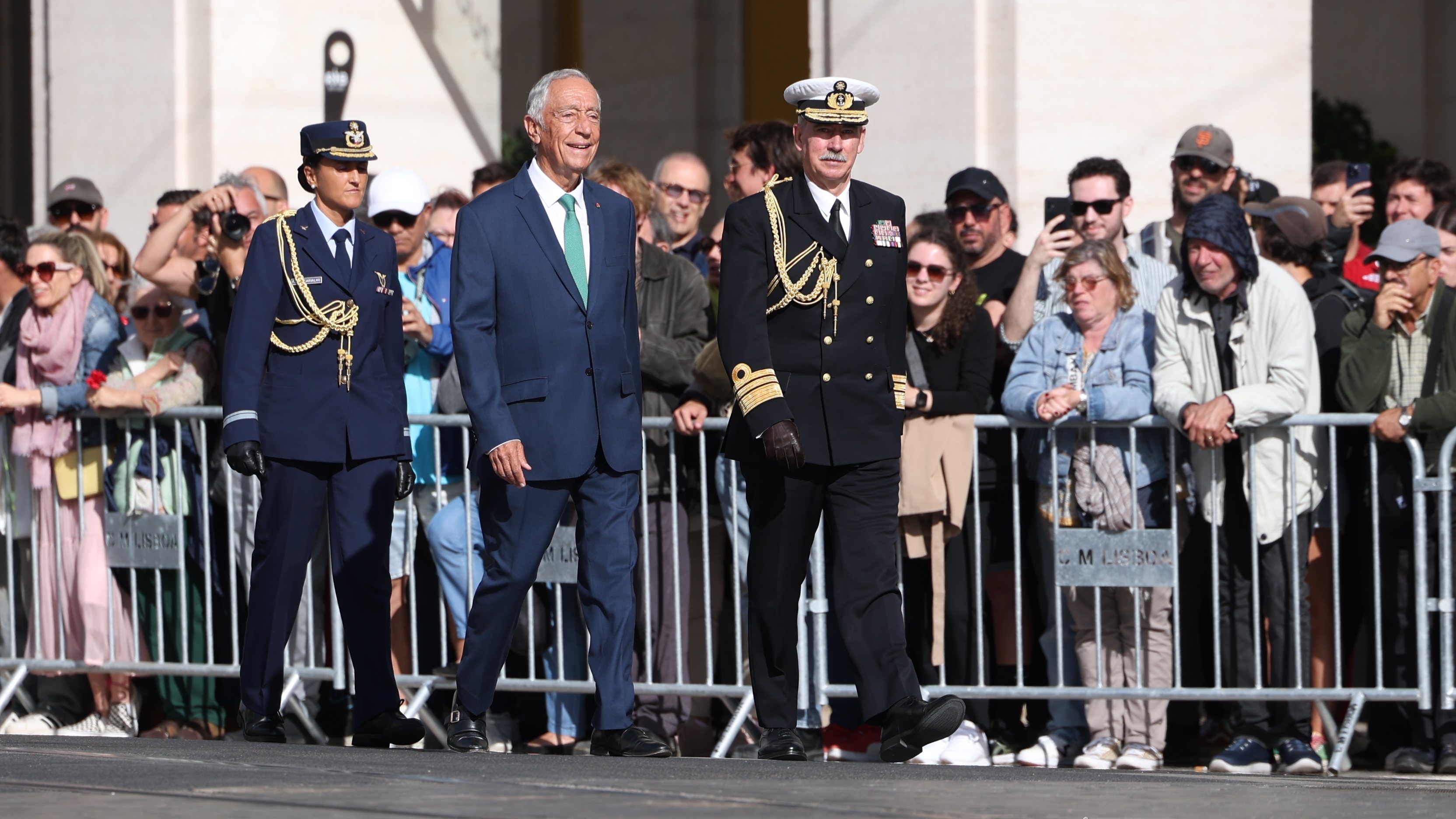Devido a um problema de hipersensibilidade à luz, Abbas Kiarostami andava sempre com uns óculos escuros que não nos deixavam ver-lhe bem os olhos. Os seus filmes são também assim, nunca se expõem ou revelam completamente, há neles sempre algo que não conseguiremos ver, perceber, decifrar. O cinema de Kiarostami não é de exposição, é de elisão; não é narrativo, é sugestivo; não é explicativo, é alegórico; não é artificial, é artificioso; não é prolixo, é minimalista; não é transparente, é enigmático; é discretamente humanista, mas não rasgadamente “humanitário”; é cerebral sem nunca ser estéril; e sendo quase sempre realista, é também profundamente poético e subtilmente espiritual. Apesar de formalmente pertencer à chamada Nova Vaga do cinema iraniano surgida nos anos 60, Abbas Kiarostami representa, por si só, um cinema específico dentro do do seu país. E o facto de ter tido formação de “designer” gráfico e de também ser pintor, ilustrador, fotógrafo (em especial de paisagens) e poeta, ajuda a iluminar os seus filmes.
A figura de estilo preferida de Kiarostami é a elipse, por vezes levada ao ponto da opacidade, e de nos levar julgar que esta forma oblíqua de filmar e de contar mais não é do que a maneira dele iludir e contornar a vigilância e a censura do regime teocrático iraniano. Poderá ser assim até certo ponto, mas a linguagem, a estética e a personalidade cinematográfica do realizador de forma alguma se limitam ou esgotam nesta intenção. Como ele disse numa entrevista, “O governo iraniano não tem qualquer relação com os meus filmes. Não está especialmente interessado neles. Talvez este tipo de cinema não seja muito interessante para eles”. Ao contrário de outros colegas seus, Kiarostami nunca teve atividade contestatária pública e ficou no Irão até muito tarde (foi dos poucos cineastas a não abandonar o país após a revolução de 1979 que levou o ayatollah Khomeini ao poder), embora tivesse decidido, a contragosto, abandonar a sua Teerão natal há alguns anos e rodado os seus dois últimos filmes em Itália (“Cópia Conforme”, 2010) e no Japão (“Like Someone in Love”, 2012).
https://youtu.be/nM_8TPLMCOU
Sendo também “político”, o seu cinema jamais o é no sentido mais vulgar, panfletário, óbvio ou incendiário da palavra. Em “Dez” (2002), por exemplo, Kiarostami pega de estaca duas câmaras digitais dentro de um automóvel (vários dos seus filmes passam-se dentro de carros – em “O Sabor da Cereja”, de 1997, um homem anda à procura de quem o ajude a suicidar-se, sem que nunca seja explicado porquê, e depois a enterrá-lo -, “o meu carro é o meu melhor amigo”, gostava de dizer o realizador) conduzido por uma mulher nas ruas de Teerão, e várias pessoas, homens e mulheres, vão entrando, conversando com a condutora e saindo. Através dos animados diálogos que se travam, vamos sabendo alguma coisa sobre o que significa ser iraniano e viver no Irão contemporâneo.
Alguns dos seus filmes são construídos em redor de crianças, a que não é alheio o facto de Kiarostami, no final dos anos 60, ter ajudado a formar e dirigido o departamento de cinema do Instituto para o Desenvolvimento Intelectual de Crianças e Jovens Adultos (Kanun), em Teerão, onde iniciou a carreira de realizador. Entre esses filmes estão as suas duas primeiras longas-metragens, “Tadjrebeh” (1973) e “O Passageiro” (1974), e “Onde Fica a Casa do Meu Amigo?” (1987) ou “E a Vida Continua…” (1992). Estes dois, juntamente com “Através das Oliveiras” (1994), formam a chamada Trilogia de Koker, por se passarem na aldeia iraniana do mesmo nome.
Neles, Kiarostami dá também largas à sua veia (semi) documental, e ao gosto por mesclar realidade e ficção e pôr em cena realizadores que são em parte personagens ficcionais, em parte prolongamentos e representantes de si mesmo. A figura do realizador volta a aparecer noutro filme “rural”, o críptico mas belíssimo “O Vento Levar-nos-à” (1999). E já antes, em 1990, em “Close Up”, o cineasta havia contado a história real de um cinéfilo de Teerão que se fazia passar por outro nome maior do cinema iraniano, Mohsen Makhmalbaf, de quem era grande admirador. (Não esquecer também que Kiarostami escreveu em 1995 e 2003, respectivamente, e os argumentos de “O Balão Branco” e “Sangue e Ouro”, ambos realizados pelo seu ex-assistente Jafar Panahi).
Um dos mais surpreendentes e brilhantes filmes de Abbas Kiarostami é sem dúvida “Shirin” (2008), onde o realizador filma 114 atrizes iranianas e uma francesa (Juliette Binoche) a ver e a emocionarem-se com uma fita sobre a história amorosa de Koshrow e Shirin, heróis de um poema persa do século XIII. Uma fita que nós, espectadores, nunca vemos, apenas ouvimos. Sobre o ser uma homenagem a várias gerações de actrizes iranianas e uma celebração do feminino através dos rostos das mesmas, “Shirin” é ainda um filme única e inconfundivelmente “kiarostamiano” na sua inventividade e arrojo conceptual, e na exploração das relações entre o cinema, quem o faz e aqueles que o veem, dentro de um filme e no seu exterior. Eis como Abbas Kiarostami conseguia fundir experimentalismo formal, emoção arrebatada, reflexão intelectual, humanidade tangível e cinema puro dentro de um mesmo filme.
Jean-Luc Godard escreveu: “O cinema começa com D. W. Griffith e acaba com Abbas Kiarostami”. Segundo Martin Scorsese, “Kiarostami representa o mais elevado grau artístico a que o cinema pode chegar”. Quando o confrontaram com estes dois elogios frases, o realizador iraniano respondeu: “Uma tal admiração talvez seja mais apropriada quando eu morrer”. Ainda bem que essa admiração foi assim tão clara e veementemente expressa quando Kiarostami ainda era vivo, por ilustres colegas cineastas como Godard e Scorsese, mas também por críticos e estudiosos de cinema e por cinéfilos anónimos de todo o mundo.