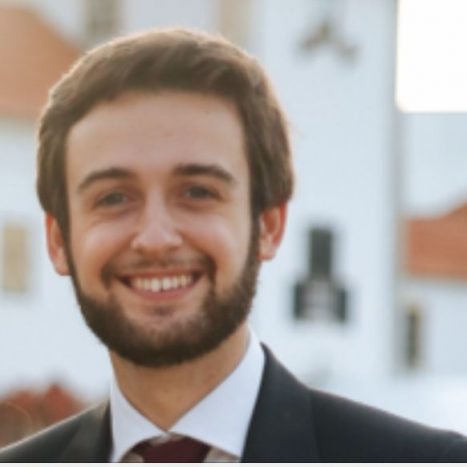Título: “Eu Sou A Árvore”
Autor: Possidónio Cachapa
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 248

“Não se pode fazer boa poesia a partir de uma ideia tola”. Assim resumia Claudel, numa conferência de 1927 sobre religião e poesia, a sua opinião a (des)respeito dos movimentos pagãos, meio animistas, meio essencialistas, que estiveram na moda durante o século XIX. Artur Corvelo, na Capital, chegou a experimentar este pomo amargo, abrilhantado pela serpente, que Claudel tão pouco considera. “Este tema não é bom nem mão, é simplista”, continua. “Não é a mesma coisa que a Vénus de Milo sobreviva como estátua ou como calçada”, a transformação da matéria é suficiente para que alguém deixe de ser aquilo que é.
Poderia tal romagem aos altares da literatura católica servir para contestar a tese principal de Possidónio Cachapa neste Eu sou a Árvore, em que Samuel, personagem principal, tem a subtileza e brutalidade passiva de uma árvore, além de um amor por elas que facilita a identificação. No entanto, mais do que contestar a ideia de fundo ou o problemático anseio de Samuel – esses, de uma forma ou de outra, são contestados pelo autor, já que o anelo campestre da personagem provoca a derrocada da família – interessa-nos explicar que o limite de uma literatura é, muitas vezes, provocado pelo limite das suas ideias. Possidónio Cachapa tenta muitas vezes dar umas descrições cruas das vidas das personagens, resgatar (já que o ambiente é agrícola) ao mero racha-lenha mudo os sofredores, os atormentados, os mortos e os anónimos que sofrem sozinhos as tribulações de todo o povo de Deus. Marca um pontilhado doloroso, miniatura, mas as calamidades são sempre exteriores: não resulta, da morte de um marido ou do campear no jardim-escola, mais do que aquilo que já tínhamos antes. E se estes dramas ainda resultam nas personagens secundárias (embora não acrescentem nada à história), revelam as suas fragilidades mal crescem em importância.
Possidónio Cachapa escreve como quem pedincha por lágrimas. Tudo é muito sentimental, ou trágico ou merencório, meio melado e meio nojento, como uma espécie de resto de algodão-doce colado às bochechas de uma criança já suja. A tentar fazer voz grossa enquanto contém o choro. Ora, a neura das suas personagens não é própria de ronhosos do destino, mas sim de mimados; é, como a poesia do século XIX bem nota, aos desocupados que vêm as vontades vagas de fugir, os choros diluvianos, as acusações de ausência muito teorizadas. Os espancados não querem fugir do mundo em geral, querem fugir de quem lhes bate, sem preparar um discurso de despedida que comova a plateia. Mas pior do que isto é o método usado para arrancar tumultos sentimentais aos corações mais reticentes. Se a literatura antiga fazia palpitar os corações com discursos grandíloquos e pomposos, a forma hodierna de apelar ao sentimento passa, sobretudo, por apelar ao nojo.
Sexo e excremento são as formas de aparentar um mundo sofrido, como se arrastar tripas soltas pelas páginas fosse a melhor forma de mostrar que a escrita não é superficial. Em Possidónio Cachapa, então, o apelo ao sexo é quase maior do que na artilharia 1. Nas trezentas e cinquenta páginas do livro, há pelo menos quinze referências directas às proezas sexuais das suas personagens (se entrarmos em desejos e quejandos passam as trinta), de todas as maneiras e feitios: a relação de uma perda de virgindade que não satisfaz o rapaz, já que na página a seguir está a masturbar-se, sexo num ferro velho, uma breve história das actas sexuais de Samuel a que se segue um mais aprofundado estudo genealógico – já que as preferências dos pais também são estudadas -, cenas mais alarves, com um profeta que sonha rebentar com os ganchos do soutien a uma mulher e que acaba por fazê-lo, cenas mais cândidas, com um menino a sonhar tocar a “pichinha” do outro, reincidências de casais, portentosos “jactos de esperma” que engravidam a filha de Samuel, sexo homossexual, sexo imaginado, e isto se fizermos vista grossa às mãos marotas que entram nos biquínis, às erecções que volta e meia despontam, às primícias adolescentes e à linguagem mais atrevida.
Nesta, então, o catálogo é sinistro. Há uma espécie de atracção incompreensível por tudo o que venha das redondezas genitais ou eróticas que leva a que haja vaginites pelo meio, descrições esquisitas como “sacou da pilinha extraordinariamente branca”, maçãs que lembrem seios, camisas de noite muito curtas a deixar “ver as cuecas que lhe tapavam o sexo” (não é isto que fazem todas as cuecas? Então serve para quê a menção), menstruações várias que comprazem um rapazito e inserções de nudez completamente despropositadas. Laura, filha de Samuel, conta-lhe às tantas uma história de como a mãe salvou a filha mais nova de um lobo. Enquanto a mãe corre para a fera, Laura vai enriquecendo a descrição com a notícia de que os botões da camisa tinham saltado, o que permitia que os seios saltassem. Ora, que acrescenta à história a visão dos seios maternos, à laia de Liberdade conduzindo as suas criancinhas?
A personagem principal até podia ser interessante, no seu jeito incompreendido, e a história podia ser fértil: no fundo, trata-se da ida de Jude e Samuel para o campo, arvorados em agricultores, e da forma como a família, ao longo da vida, foi lidando com isso. Samuel acaba sozinho na Terra que sempre amou – que amou mais do que os filhos, na opinião dos interessados – e a família vai seguindo a sua vida, sentida com a inversão das prioridades. Pela porta dos fundos entra e sai também uma história paralela, do ex-PIDE Casaca, de inverso sexo no apelido e também inverso destino ao de Rosa Casaco. No caso da personagem de Cachapa, é ele o assassinado, o que torna a sua história inútil para o corpo principal. Casaca é morto quando descobre um corpo que podia perturbar a família de Samuel, o que torna a sua passagem pela história irrelevante: mal descobriu um segredo, morreu com ele. Este Casaca, de resto, é uma personagem pouco mais do que absurda. Boçal, mesquinho, cruel, forreta, maus-fígados, colérico – e até incontinente, não vá faltar a alusão latrinária. Como que a mostrar que, como fez parte do braço armado do Inferno, tem de somar todos os defeitos que o autor conseguiu juntar e as opiniões mais estereotipadas.
Este é, aliás, um traço comum no livro. De cada vez que uma personagem mais secundária aparece, traz na boca a caricatura, fala por pregões sociais, como a arrivista Balicha com a revista Olá ou os PIDES no louvor ao Império que “andava tudo na linha”.
É pena pela virilidade contida de Samuel, pelo equívoco geracional que o levava a ter como óbvio que a terra era prova de amor pela família, e pena pelo próprio desfecho, que poderia ser uma resposta negativa à proposta de felicidade simplória do Naturalista, um anti-Walden, um anti-Emerson ou um livro negro da Cidade e as Serras.
O apelo fácil ao sonoro, ao efeito especial espanta-corações e o aproveitamento meio fútil daquilo que criou – mais interessado em pecadilhos de alcova do que no drama central – acabam por contaminar tudo. Se Possidónio fosse um mestre gongórico, pronto a torcer a língua até fazer destes segredos licenciosos a revista cor-de-rosa do Parnaso, ainda passava; mas neste tom apirosado, pegajoso, a puxar ao sentimento, não convence. Infelizmente, e depois de tanto tempo sem escrever, a colheita saiu fraca.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.