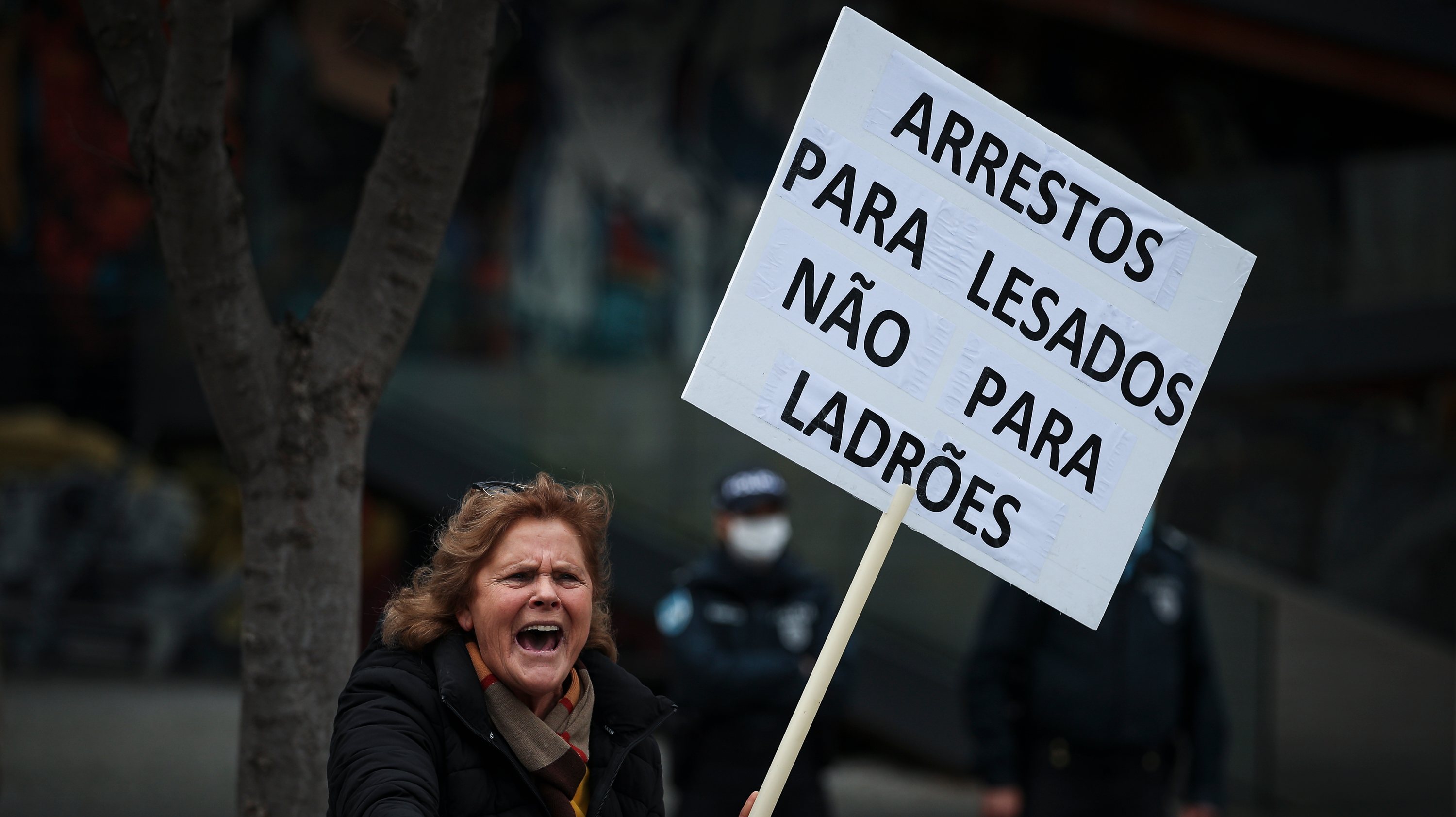No primeiro episódio da terceira temporada de “Black Mirror”, estreada no passado dia 21, o futuro surge com design assético, dominado por um sistema de pontuações que determina o estatuto e reais oportunidades das pessoas. As mesmas que se movimentam como zombies, de sorriso permanente e presas ao ecrã de telemóvel. É-nos apresentado como “futuro”, e é confortável pensar que é disso que se trata, mas se olharmos para lá do filtro usado para parecer mais bonito, há um ligeiro exagero do real, apenas o suficiente para caber no rótulo de ficção científica e não ser tão desconcertante. Porque no fundo, e embora seja quase sempre arrumado nessa categoria, “Black Mirror” não é sci-fi, tal como os livros de Philip K Dick não são ficção científica, ainda que se sirvam dessa forma para fazer passar as interrogações sobre os fundamentos do real.
[trailer da terceira temporada de Black Mirror]
A app fascizante de “Nosedive”, o primeiro episódio da nova temporada, coloca todas as redes sociais numa só. Aquele sistema de pontuações está a décimas do que é a busca de reconhecimento social online — e quanto a zombies a olhar para ecrãs de telemóvel basta andar por aí. “Black Mirror” escolhe um contexto futurista (também porque tecnologia e futuro sempre andaram de mãos dadas) mas é sobre o presente que fala, é sobre nós agora, a forma como entregamos voluntariamente as nossas vidas à tecnologia e aceitamos ficar vulneráveis. E se procuramos uma moral, ela domina o último episódio da nova temporada de seis, um verdadeiro thriller ciber-polícial com contornos ecológicos que investiga mortes por hashtag: há consequências para o que fazemos online.
De onde vem este caos?
Deve haver alguma explicação psicanalítica para o facto de uma série como “Black Mirror”, implacável na apreciação da humanidade à deriva na era digital, ter atingido os níveis de popularidade que tem. Criada em 2011 pelo britânico Charlie Brooker, ele próprio uma figura de culto dos media britânicos, que começou por escrever sobre videojogos e depois se afirmou como humorista (é o criador de “Dead Seat”, um apocalipse zombie rodado na casa do Big Brother britânico), “Black Mirror” teve as duas primeiras temporadas emitidas pelo Channel 4 e transitou para a Netflix depois de um episódio de Natal, em 2014, protagonizado por Jon Hamm (“Madmen”), sobre clones de nós próprios escravizados em tarefas domésticas e apagar as pessoas indesejáveis do nosso universo – parece tentador, não é?
Todos os episódios de todas as temporadas são retratos sarcásticos e impiedosos do mundo atual. Negros no conteúdo e no humor, refletem-nos tanto no fascínio como na dependência e ingenuidade em relação à tecnologia. E tudo começa com um episódio choque (“The National Anthem”) em que o primeiro-ministro britânico é confrontado com o dilema de ter ou não sexo com uma porca em prime time televisivo para libertar a “princesa do povo” dos raptores — sim, uma porca.
[sobre “Nosedive”]
Nada volta a ser tão claramente provocatório (ou repulsivo) mas nenhum episódio de “Black Mirror” oferece grande esperança. Os personagens estão sempre reféns dos gadgets, da internet ou de si próprios, apanhados numa teia de poderes invisíveis e paranoia galopante. Nas temporadas anteriores falou-se de ciúme agravado por tecnologia (no extraordinário e verdadeiramente incómodo “The Entire History of You” que Robert Downey Jr. estará a adaptar ao cinema), de ressuscitar mortos pela pegada que deixaram online, de avatares patetas que ascendem ao poder por vontade de multidões que não medem as consequências dos seus atos. Quase tudo é real, mesmo que não exatamente igual. Em relação a “Waldo Moment”, de 2013, o episódio do boneco inconveniente que ganha carreira politica, o próprio Charlie Brooker já disse que antecipou a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e anunciou a sua provável vitória.
O céu está na cloud
Na terceira temporada, a primeira de duas já garantidas pela Netflix, a vida projetada nas redes sociais é mais importante do que a real, a tecnologia é uma droga potentíssima capaz de alterar a nossa perceção da realidade e é também um carrasco impiedoso. Como diz uma personagem do (absolutamente terrível!) episódio 3, “não há cura para a internet”. Mas também se fala da possibilidade de um Céu na Cloud, de uma espécie de redenção por via tecnológica, numa história de amor entre duas mulheres que viajam no tempo para reviver a sua época preferida e serem felizes para sempre como nos videoclips (“San Junipero” tem uma playlist feita à medida do melhores “indutores de nostalgia”)
[uma curta entrevista com o criador da série, Charlie Brooker]
Quando criou “Black Mirror”, Charlie Brooker afirmou em entrevista ao The Guardian que queria fazer uma série que provocasse gozo e desconforto. Conseguiu-o de forma exemplar. “Black Mirror” é fascinante, os argumentos bem construídos e em cima dos desenvolvimentos tecnológicos, a narrativa dinâmica, os atores imaculados (embora Bryce Dallas Howard, a bela Lacie de “Nosedive”, acabe coberta em lama como um meme de Carrie em modo destruidor), a realização competente (mais do que isso em alguns episódios) e até a banda sonora é perfeita. Segue o modelo clássico de séries como “Twilight Zone”, “Contos do Imprevisto” ou “Hitchock Apresenta”, episódios independentes sempre com um twist final inesperado, irónicos e incisivos. Talvez seja por isso que, mesmo sendo o equivalente a levar uma tareia, ver “Black Mirror” tornou-se obrigatório. Podemos não gostar do que vemos no espelho mas pelo menos sabemos o que lá está e que não adianta meter filtros para parecer bonitinho.
E também não adianta apagar o histórico da internet, a nossa pegada online é para sempre…