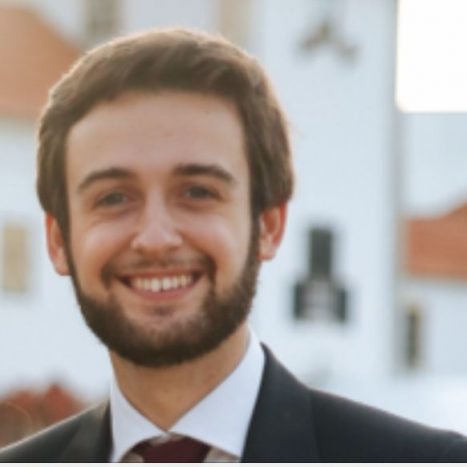Título: “O Conquistador”
Autor: Almeida Faria
Editora: Assírio e Alvim
Páginas: 185
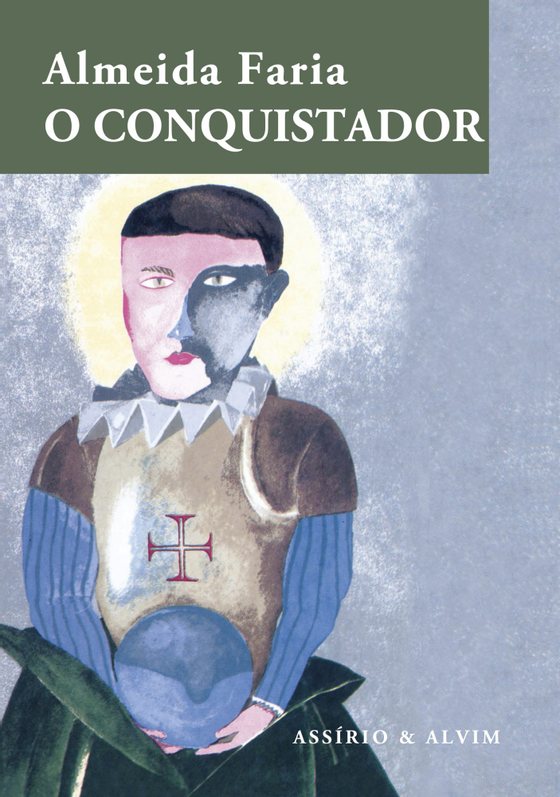
O mito é a verdade dos tolos. Com isto não afirmamos, como usam assumir outros mais tolos ainda, que o mito é uma ilusão ou uma consequência da ignorância tomados por verdade: aí seria, não a verdade, mas a mentira dos tolos.
Aquilo que queremos dizer é que o mito expressa uma verdade pressentida mas ainda não completamente desvelada. Isto é, uma verdade praticada mas, fruto da diferença entre aquilo que pensamos e o modo como agimos, ainda não percebida como verdade. Uma espécie de manifestação de um recalcamento, à moda psicanalítica, cumprindo no colectivo o papel que Freud atribuía ao sonho no individual: aquilo que o consciente veda é contornado pelo subconsciente na forma do sonho; e este recalcado seria de tal maneira forte que teria de encontrar formas alternativas de se expressar.
O mito, fora de panaceias nebulosas ou de enxúndia esotérica, traduz um fenómeno facilmente compreensível: entre um comportamento e a compreensão ou teorização desse comportamento não há seguimento imediato. Daí que as ciências Humanas tenham o seu papel (se o comportamento fosse imediatamente compreendido em todas as suas possibilidades, seria desnecessário o seu estudo) e que a mente arranje formas alternativas ao mero silogismo lógico para se expressar.
Há uma tradição iluminista, bem pedante em relação a tudo quanto não caiba em linguagem algébrica, que se entretém com diatribes acusatórias contra a falsidade dos mitos. Ora, a falsidade dos mitos não precisa de ser denunciada – ela salta à vista. O difícil é decantar a sua verdade. O escol iluminado, como toma as verdades não racionais por inferiores, pouco se dedica a este trabalho. É óbvio, porém, que não existem verdades inferiores: as razões podem defender uma verdade, podem alcançar outra, mas não criam nenhuma. É possível, para uma verdade encontrada mitologicamente, lobrigar a posteriori razões que a defendam; e é provável, também, que uma verdade racionalmente defendida tenha melhor guarda. Não é, porém, uma melhor verdade – é a mesma, talvez melhor ou pior comprovada.
A verdade dos mitos não é, portanto, uma verdade contra a razão. É uma verdade ainda oculta à razão que pode ser racionalizada se extraída do mito. Ora, este Conquistador, com ânsias de bom guerreiro, vai atrás do sentido, não de um, mas de dois mitos.
Que D. Sebastião, por ora já barbudo e curvado, já mais velho do que novo temor da maura lança, ainda tomará um sólio numa manhã de trânsito em que os tubos de escape adensem especialmente o nevoeiro, já poucos acreditarão. Que o esquivo burlador de Sevilha, Juan Tenorio ou simplesmente D. Juan, D. Giovanni ou D. João, que o homem que tanto libou aos prazeres da carne tenha de facto encarnado, menos ainda sustentarão. Talvez uns quantos tomem o desejado como esperança do ressurgimento luso e outros olhem para o Sedutor de mulheres como metáfora de uma certa concupiscência latina; esses, porém, são os que olham para o mito de uma perspectiva exterior ou, no máximo, gregária: um mito colectivo, não um mito próprio; parte da esperança ou das misérias dos povos (de que o observador, naturalmente, se exclui), mas não parte do íntimo de cada um.
O Conquistador, de Almeida Faria, é interessante pela mudança de perspectiva: não olha para um mito, é o ponto de vista de um mito. Melhor: mostra que o ponto de vista daquilo que tomamos por um mito olha para si como outro. Aquilo que vemos como um D. João sedutor de mulheres, amante de professoras e turistas, novas, velhas, tímidas e descaradas, olha para si como um D. Sebastião. As semelhanças com o jovem rei são sublinhadas pela própria personagem. Desde a lenda do nascimento, ao nome, à neblina da sua Sesimbra Natal, à exibição das semelhanças físicas diante do quadro do rei caído, Sebastião realça constantemente as parecenças. Crê, aliás, na comunhão de destinos, embora interpretada com uma luz própria: pouco lhe interessam as ressurreições pátrias, interessa-lhe apenas a ideia do seu destino de predestinado, de homem fadado para a grandeza, amado até pela Fortuna, a ponto de confiar na protecção contra a morte.
Note-se que o mito de D. Sebastião, visto de dentro, é bastante diferente do habitual: já não é uma inércia, mas um complexo de grandeza. Sebastião não espera um Messias, é esperado. Guerra Junqueiro, no prólogo ao seu D. João, dá conta da interpretação mais comum do mito do sedutor: olha-o através da sua imoralidade, do perigo deste Homem para os maridos burgueses e sebosos. Este Sebastião, porém, pode agir como um D. João por duas razões: em primeiro lugar, porque é ele o centro da profecia. É a ele que o mundo está destinado, é para ele que o mundo serve. Mas mais importante, pode agir como D. Juan porque as suas acções, enquanto Messias, são redentoras. Sebastião não está a perder raparigas – está a salvá-las dos maridos, dos dias monótonos, das existências melancólicas… Não é inocente que este D. João pé de chinelo, versão brega e provinciana do primeiro, queira especialmente Clara: é estrangeira, de um país maior e mais sofisticado, é a única que o abandona e a única que o menoriza: a única que não existe para ele e que ele não salva, a quem serve apenas de interlúdio veranil num passado adolescente. A única que não o engrandece é a que foge ao arquivo D. Juanesco.
Este D. João não é, assim, completamente imoral; em certo sentido, aliás, está mais próximo da interpretação que Kierkegaard faz deste mito, ao som da versão de Mozart. O dinamarquês trata Don Giovanni, não só como o casamento perfeito entre forma e conteúdo, mas também como um produto dialético do Cristianismo. É o casamento perfeito entre forma e conteúdo porque a música, a única arte que não precisa de nenhum significado para dar prazer, que está neste sentido livre de moral, a arte que não tem palavra nem imagem, que não toca na inteligência mas apenas nas sensações, combina com a história do Homem que vive pelo prazer, pelo mesmo imediato que a música provoca.
Este Sebastião vive com o mesmo gosto amoral pela mulher e pela sedução; vive, também, com a mesma pedantaria em relação à Igreja que, mais do que moda do século XX, é filha da ideia de Kierkegaard: D. Juan e o erotismo são criados pelo Cristianismo na medida em que a rejeição deles lhes dá forma. Sebastião tem, assim, a atitude adolescente de revolta contra a paternidade. Tem-na, no entanto, na forma própria do estádio erótico: sem erigir um edifício paralelo, concentrado apenas numas desgarradas revoltadas imediatas, rapidamente esquecidas.
Esta forma de D. João, príncipe do prazer, ganha com Almeida Faria mais um contorno curioso. A estética, o puro prazer, foi desde a antiguidade entendido como uma espécie de burla que usurpa emoções aos seus verdadeiros lugares. A sensação de angústia que uma morte encenada dá é provocada pela ideia de morte, não pela ideia de teatro – o prazer ou a dor estão, de alguma forma, associados a um significado que a arte ludibria. Este Sebastião burlador de mulheres é todo ele concebido segundo esta ideia: não são só as epígrafes de cada capítulo a tratarem da falsidade e da mentira, nem as lérias que a personagem assume contar, nem aquelas de que desconfiamos mesmo que ele as não admita; o puro prazer é o prazer falso e a inversão dos mitos pode prova-lo. Sebastião, além de enganar, também está enganado, por isso é que a sua vida de sedutor, com o seu quê de rasca, é por ele percebida como a de um Desejado. Ele dedica-se ao prazer como se estivesse a dedicar-se a algo grande; o tom bufo, meio pícaro, da novela, deve-se à compreensão que o leitor tem da personagem: por muito que ele doure a pílula, nem o nevoeiro consegue disfarçar. É, como todos, um D. João da treta.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.