Os Slowdive estão de regresso e com eles vem aquele sentimento de melancolia que, mais do que entristecer e paralisar, aconchega, faz sentir bem. Casulo sonoro que acolhe quem os quiser ouvir, não é preciso muito para se revelar. Bastam uns acordes de guitarra, uns efeitos subtis da produção, um rodar de botão misterioso que torna poéticas as massas de som. E de súbito já não estamos fora de água, banhistas existenciais a apanhar as correntes de ar da superfície. Somos mergulhadores a pesquisar os mistérios de um fundo do mar feito de subtilezas.
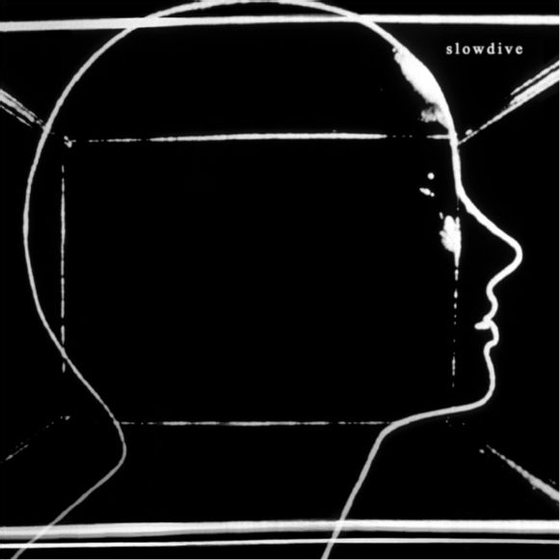
A capa do novo álbum dos Slowdive
Como diz no documentário da Pitchfork sobre a banda, Alan McGee, o homem do catálogo Creation, os Slowdive, depois de se terem tido algumas dificuldades de respiração numa época – o início dos anos 90 – interessada em bandas em enérgica fase de afirmação (como os Oasis, os Blur e os Suede), encontraram agora, passada a primeira década dos anos 2000, um tempo que os sabe acolher e celebrar sem pressas.
Eles, que deixaram de ser mimados na Creation porque as prioridades estavam viradas para Definitely Maybe e que, na altura da saída de Souvlaki, deram concertos para relativamente poucos, encontram hoje estádios disponíveis para os ouvir de olhos fechados. Em 2015, no Festival Vodafone Paredes de Coura, houve pessoas, em entrevista, a dizer às câmaras que a banda de que mais haviam gostado de ouvir se chamava Slowdive, assumindo que até ao instante do concerto não a conheciam.
Passados 22 anos da edição de Pygmalion, está aí um álbum novo, concretização natural em estúdio do bom embalo dos concertos que reuniram os elementos da banda a partir de 2014. A primeira canção é “Slomo”, com as vozes de Neil Halstead e Rachel Goswell difusas e incompreensíveis, envoltas numa espécie de neblina, mas onde se consegue distinguir uma frase de carteira de sala de aula, “give me your heart”. É o acepipe inicial deste mergulhanço lírico. Há cheirinho a maresia, como sempre acontece com os Slowdive, como que o início da viagem de quem deixa o porto em direcção a um oceano amável. O vento está de feição, anunciam-se, pelas colunas, os pequenos milagres a quem vai no barco, salpicado de boa espuma.
Encostado à primeira, “Star Roving”, que foi o single inaugural, é um tema de concerto, feel good song para ouvir ao acordar, também ela com um tom de largada. As vozes, mais umas vezes nebulosas, chegadas de um sonho que nunca acabou (como na canção dos New Order), apelam a sentimentos felizes, de distribuição universal:
“Give it away now, girl/ Can’t hold down tonight/ Every black and white/ Secret’s a blinking light/ Emma flies a kite/ Said she’s feeling love for everyone tonight”
Impecável a produção, a dar uma unidade orgânica a todas as camadas de som introduzidas. É tudo elementar mas nada é escusado. Um sopro oportuno, que nos faz sentir bem.
A canção “Don’t Know Why” começa inquieta e nervosa – na bateria — mas depois acalma a dúvida e vai dar a uma espécie de lago sonoro que remete para as etéreas sonoridades de uns Cocteau Twins, a doce agremiação de Elizabeth Fraser e Robin Guthrie (que, importa lembrar, continua, a solo, e aprofundar os seus estudos musicais sobre o sonho). E eis que chega “Sugar for the Pill”, com uns acordes iniciais que rimam com a tristeza de “Catch the Breeze”, tema de “Just For a Day”, o primeiro álbum da banda, de 1991.
A letra remete para a madura conformação com a forma eternamente irregular que têm algumas relações amorosas. Canta Halstead, aqui no papel de bardo sem ilusões nem depressões: “You know it’s just the way things are”. Mais uma vez fica o sentimento de que se está a ouvir uma canção perfeita naquilo que pretende ser – e que abriga quem a ouve. Quando acaba, dá vontade de voltar a vestir este casaco, de voltar a tomar este comprimido de mel e melancolia. Entrará com justa facilidade na lista final de um novo alinhamento do best of da banda.
O mesmo não acontecerá com “Everyone Knows”, quinto tema, cançoneta de poucas ambições, com um certo sabor a Lush, lado B no coração do disco que, imagina-se, deve crescer um pouco em concerto. “No Longer Making Time”, nova ode musical sobre temática amorosa, é um vinho com mais corpo e densidade. Em termos instrumentais, revela a segurança dos Slowdive, provavelmente conquistada ao vivo, em dosearem os momentos em que a nuvem de guitarras é necessária com outros em que não o é – em que é preferível ouvir, com nitidez, os acordes dedilhados da guitarra e o diálogo de bateria e baixo (fazendo, a espaços, recordar os melhores momentos dos The xx do primeiro álbum, que revela notável abertura em aprender com os novos).
O mesmo dispositivo de jogo — de pára-arranca, de acende-desliga canais — aparece em “Go Get It”, de seis minutos, cuja construção algo complexa cruza uma batida (cardíaca) que podia vir de uns Cure de Disintegration, uma cobertura sónica típica dos Slowdive e uma forma de cantar, digamos, menos delicada do que a que marca o registo halsteadiano (quem perceber o que ele diz ganha uma faixa extra). Mais um tema para curtir ao vivo. A oitava e última canção, “Falling Ashes”, escrita por Neil Halstead e Simon Scott (baterista), com o seu chão de piano, parece dialogar com “Daydreaming”, dos Radiohead. A letra, a certa altura, repete uma confissão: “thinking about love”. Assenta bem neste mergulho dos Slowdive em 2017, regressados com uma mistura de chama, lucidez e experiência.


















