Encontramos João Tordo num café em Lisboa, sentado ao balcão, acompanhado pelo portátil. Neste momento, está a fazer uma tradução e não a escrever um livro novo mas, apesar da música e do café cheio de clientes, não teria problema em criar ali mais uma narrativa de ficção.
Abstrair-se no barulho de fundo é fácil para o escritor de 41 anos, vencedor, entre outros, do Prémio José Saramago, em 2009, com As Três Vidas. Difícil foi terminar a trilogia que se propôs fazer em 2014, e que terminou recentemente com o lançamento de O Deslumbre de Cecilia Fluss. Uma conversa sobre a sua primeira (e talvez última) trilogia, sobre crenças e sobre “País Irmão”, a série de televisão que ajudou a escrever e que deverá estrear na RTP em setembro.
No livro que abre a trilogia, O Luto de Elias Gro, o narrador faz uma viragem aos 40 anos: deixa tudo para trás e muda-se para uma ilha. Foi mais ou menos na mesma altura que o João Tordo fez 40 anos. Vontade autobiográfica?
Não… Eu acho que estes três livros começaram um bocadinho porque eu senti a necessidade de fazer uma inversão, não só na maneira como estava a escrever e no tipo de livros que estava a escrever, mas também na maneira como eu estava a viver. [Hesita]. Do que é que eu estava à procura quando escrevi estes livros… De tentar entender porque é que eu escrevia, para que é que servia escrever e porque é que eu não conseguia escrever sem que cada livro fizesse um sentido existencial para mim.
Quando escrevi O Luto de Elias Gro, que é um livro sobre a perda, essa experiência da perda, seja o luto, seja a perda de capacidades mentais, parece-me cada vez mais complicada de fazer porque, de repente, nós vivemos num mundo em que nada se perde. Tudo está registado, tudo fica para sempre. E como o processo de perda, de aprender a largar, pode ser muito doloroso, eu queria perceber como é que se fazia. Também porque, na minha vida pessoal, eu precisava de fazer isso.
Então escreveu acerca disso.
Quando comecei esta série de três livros, a ideia foi sempre falar de uma série de experiências que eu acho que são, para mim, fundamentais, que dizem respeito à experiência de estar vivo, e como é que eu poderia retratar isso com personagens e com histórias. No Luto é um homem, depois n’O Paraíso segundo Lars D. é uma mulher de 60 e poucos anos que conta a história e que também está a passar por uma experiência de perda, embora a voz dela seja muito compassiva, e isso eu fui descobrindo durante o livro, que havia aqui uma voz feminina dentro de mim.
Acho que todos temos várias vozes, não é? Eu tenho uma voz dentro de mim que me está sempre a criticar, que me está sempre a dizer: “podias ter feito melhor, não conseguiste, como é que foste capaz”. E quando vamos dando ouvidos a essas vozes, como a desta mulher, que já estava aqui há muito tempo e que queria falar, o que aconteceu foi que havia uma série de temas que estavam relacionados com essa voz — a perda, a solidão, a aceitação –, foi essa voz que deu azo a esse livro.
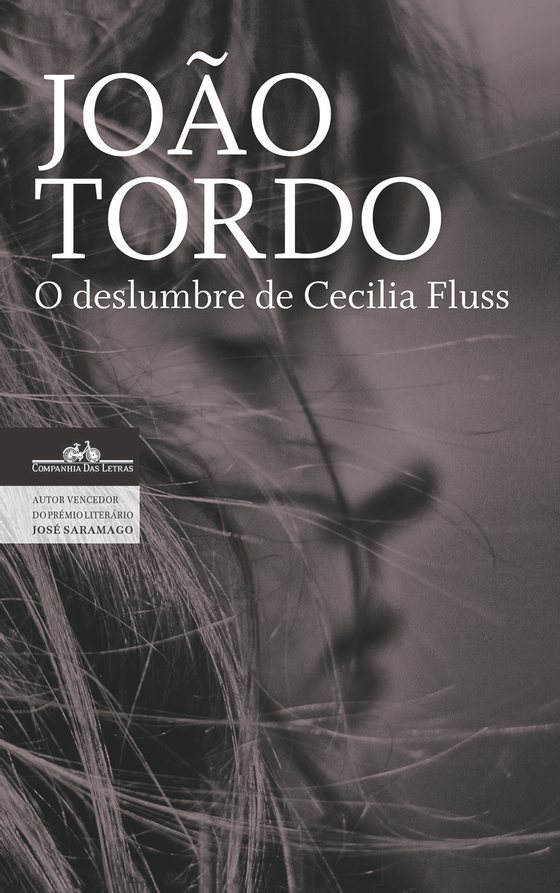
“O Deslumbre de Cecilia Fluss” foi editado em maio pela Companhia das Letras. Custa 16,50€.
Percebeu primeiro que essa voz ia ter compaixão e escolheu que fosse uma mulher a transmitir esse sentimento, ou foi a mulher que apareceu primeiro?
A compaixão surgiu porque, no princípio, eu não estava a conseguir escrever aquele livro como tendo aquela voz. Então fui à infância. E quando fui à infância, dei conta de que essa voz vinha de uma série de vozes femininas que estavam ali presentes — a minha avó, a minha mãe, a minha irmã, as minhas tias –, e a qualidade muito comum nessas vozes era essa, compassiva, de sabermos colocar-nos no sítio alheio que está a sofrer, na pele dos outros. Aí percebi: aqui está a qualidade que falta para esta história poder ser contada. Depois foi engraçado porque, quando a voz começou a sair, durante aqueles três meses eu consegui ser uma mulher de 63 anos, o que é uma coisa extraordinária, uma pessoa acordar de manhã e sentir-se uma mulher de 63 anos a contar a sua vida.
E para este último livro?
Este foi o mais difícil de escrever. Foi mesmo difícil porque, não só vinha com a carga dos outros dois, como tinha centenas de pequenos detalhes que queria fechar aqui, tinha uma lista infindável. Quer dizer, para quem não leia os livros todos e não esteja muito atento, são coisas que passam ao lado.
Sim, porque é possível ler os três livros por ordens diferentes, ou ler apenas um e não ficar com a história pendente.
Sim. E, não sendo uma narrativa progressiva, é uma narrativa circular. No fim do terceiro livro, somos remetidos de volta ao primeiro. É quase como a roda de Samsara, do Buda, em que estamos presos numa roda que se chama existência e só mudam os personagens, depois é sempre a mesma coisa [risos]. Essa ideia foi importante para estes livros porque estar preso no círculo interminável disto que se chama estar vivo… Desejo, aversão, avidez, cobiça, ganância, inveja, ira, etc. Estamos presos nisto e não sabemos sair. Às vezes convém dar um passo atrás e ver: olha, estou aqui nesta roda que está sempre a girar, sou uma das personagens mas é sempre a mesma coisa.
Foi por isso que não pôs nomes de lugares em nenhum dos livros, nem datas? Porque, independentemente do espaço e do tempo, o que sentimos é igual?
Foi a ideia à partida, escrever três livros que não tivessem geografia… E porque aprendi com alguns escritores, como Saramago, que em vários dos últimos romances escreve sem geografia e as personagens nem nomes têm. Quis fazer uma coisa parecida, escrever sem referência geográfica e tentar perceber como é que isto é universal, como é que a minha adolescência, por exemplo, que está tão retratada na adolescência deste miúdo da última história, o Matias, também pode ser uma experiência universal, não tem de ser em Lisboa. E foi difícil. Com estes três livros eu quis ver até onde é que eu conseguia levar isto. E no terceiro livro estive quase a desistir.

“Durante aqueles três meses eu consegui ser uma mulher de 63 anos, o que é uma coisa extraordinária.” © ANDRÉ MARQUES / OBSERVADOR
Porquê?
Pelo facto de ser um desafio muito grande, como pelo facto de os temas que eu estava ali a tocar me trazerem alguma dor, porque são temas difíceis, houve um momento em que achei que não conseguia acabar o livro. Nesse aspeto, a Clara Capitão [responsável pelo grupo Penguin Random House] foi muito preciosa porque me deu imensa ajuda.
Por isso é que não publicou em 2016, como estava estipulado, e o livro só saiu agora.
Sim, não o conseguia acabar [risos]. Mas depois quando cheguei ao fim tive uma sensação enorme de recompensa, por ter conseguido levar isto até ao fim mas também porque acho que é o melhor dos três livros.
Há muitos nomes que se cruzam nos três livros, mas os personagens não são os mesmos. Por exemplo, Erland, n’O Luto de Elias Gro, é um aluno mais velho do que todos e com dificuldades. N’O Deslumbre de Cecilia Fluss, é um aluno brilhante que fala de igual para igual com o professor. Porquê esta mistura?
E há um que é personagem homem nos dois primeiros romances e no terceiro é um cão.
Tem a ver com o budismo, tão presente neste último livro?
Sim, o budismo tem alguma coisa a ver com isso. Todos os livros abordam a espiritualidade num certo sentido. O primeiro livro fala de uma espiritualidade num sentido de deus como forma de presença nas nossas vidas, o segundo fala da possibilidade de ascetismo e do hedonismo como possibilidades de existência e no terceiro o budismo assume um papel preponderante porque eu comecei a interessar-me pelo budismo há três, quatro anos, e fui ler os sutras budistas, que são os sermões, e as fábulas. E as fábulas budistas, que são pouco conhecidas aqui no Ocidente porque estamos empapados de uma religião cristã, são muito giras e fazem imenso sentido.
Então, quis que o Matias, que é um personagem deste livro, tivesse contacto com elas e que isso lhe pudesse sugerir uma saída para o sofrimento em que ele vive. É um miúdo divertido, mas vive ali uma situação complicada, com uma mãe que fala uma língua que não sabes bem o que é, e com a Cecilia, que é a sua irmã mais velha que só faz disparates.
Partiu para este percurso sabendo já que seria uma trilogia, ou descobriu enquanto escrevia O Luto de Elias Gro?
Sabia, sabia. Tinha três histórias e, no princípio, achei que fariam parte do mesmo livro. Mas depois percebi: não, isto são três coisas independentes e eu tenho algo a dizer sobre cada uma delas e não cabem num só volume, então desde o princípio que sabia. Para O Deslumbre de Cecilia Fluss tinha uma ideia inicial e conhecia bem aquelas duas personagens, o tio e o sobrinho, até porque cumpro esse papel na vida real, e queria escrever sobre duas personagens que estão ligadas por mais do que sangue. E eles estão ligados por um processo de cadência das faculdades cognitivas, de memória, e nesse sentido a demência acaba por ser um tema fundamental no livro. A demência e o lado cómico desta demência. Do que é que acontece quando, na vida, vamos perdendo a capacidade de nos lembrarmos. E eu sinto imenso isso.
Perda de memória?
Sinto as minhas capacidades de memória muito mais diminuídas do que há 20 anos. Mas acho que os livros não são assim tão negros como às vezes eu tendo a falar deles. Neste, sobretudo, há um lado muito cómico das personagens, sobretudo o Matias e o tio, que entram ali num jogo quase absurdo. Há um lado cómico em colocar personagens nas situações limite porque essas situações, em última análise, mostram-nos várias coisas: que não sabemos nada, que somos muito frágeis, mas que, ao mesmo tempo, há graça nisto tudo.

“Há um lado cómico em colocar personagens nas situações limite porque essas situações, em última análise, mostram-nos várias coisas: que não sabemos nada, que somos muito frágeis, mas que, ao mesmo tempo, há graça nisto tudo.” ANDRÉ MARQUES / OBSERVADOR
A religião e a espiritualidade atravessam os três volumes. Passámos por dias em que se falou muito de religião, por causa do 13 de Maio e da vinda a Portugal do Papa. É crente em alguma religião, em algum deus?
[Pausa]. Sim, sou. Mas tenho uma crença muito particular, num deus que não tem muito a ver com um deus comercial nem um deus de pedidos e mezinhas, nem um deus que me vai trazer aquilo que quero. Mas sim, sou crente.
Budista?
Não [risos]. Nada! O Budismo não tem deuses como os conhecemos, Buda era um homem. O Budismo é, sobretudo, uma prática. Tudo o que fossem perguntas metafísicas, como se o universo acaba ou não acaba, não interessavam nada ao Buda. E a mim também não me interessam muito, até porque me parece que a sociedade ocidental passou demasiado tempo a fazer perguntas e a escrever tratados. A fé é uma questão prática. E o que é que significa ter fé? Se estiveres a observar uma pessoa que está numa corda bamba e vês a pessoa a fazer a travessia em altura. Tu estás cá em baixo e dizes: “tenho imensa fé que a pessoa consegue chegar ao lado de lá.” Fé verdadeira é subir para as cavalitas dela. É essa a diferença. Esse tipo de fé vou tentando ter. Tentando. Porque é difícil.
A certa altura da história, Matias pergunta a um professor: “‘E se Deus fosse uma jangada? Podíamos largá-la e ficávamos por nossa conta’. A ideia era assustadora. Ainda hoje é assustador. Custa-me acreditar que estamos à mercê de nós próprios, finitos e selvagens.” É o que sente?
Às vezes sinto.

“O Netflix pode criar alheamento.” © ANDRÉ MARQUES / OBSERVADOR
A experiência de fazer uma trilogia é para repetir?
Não, não. O que eu não quero é repetir esta experiência [risos]. Quero fazer outras coisas. Gostava de escrever um livro de não ficção.
Sobre?
Sobre escrever. Mas também relacionado com a minha história pessoal de porque é que eu faço isto, a experiência com pessoas que querem escrever, que frequentam cursos, por exemplo. E ir buscar a tradição literária na qual eu tento inscrever-me. Tentar perceber porque é que eu faço isto, porque é que fazemos o que fazemos, porque é que isto nos faz sentido. Não sei se vou escrever este livro agora, mas pelo menos vou tentar.
Mas antes esteve a escrever guiões para uma série que vai estrear na RTP, “País Irmão”, com Tiago R. Santos e Hugo Gonçalves. O que é que se pode saber sobre este projeto?
Nós já nos conhecemos há muitos anos e nunca tínhamos escrito nada juntos os três, embora eu já tivesse trabalhado com o Tiago noutras séries — fizemos “Os Filhos do Rock”. Mas este foi um projeto original, uma ideia que eu e o Tiago tivemos há quatro anos com o Nuno Artur Silva, mas entretanto ficou um bocado em águas de bacalhau nas Produções Fictícias, porque na altura não havia possibilidade de o concretizar, e quando o Nuno foi para a RTP telefonou-nos. Juntámos o Hugo ao projeto e escrevemos a série os três.
É uma comédia?
É. Sobre uma equipa de produção que está a fazer uma grande novela luso-brasileira, sobre a chegada dos portugueses ao Brasil em 1808. É sobre os bastidores e sobre como as nossas relações Portugal-Brasil são uma boa ideia mas, na realidade, são mais complicadas do que parecem. Isto começou por ser um mockumentary, mas não foi possível fazer nesse formato.
As séries são um fenómeno mundial e algumas fazem sombra ao cinema. Em Portugal as séries internacionais são seguidas com atenção e, no entanto, as séries portuguesas não vingam muito. Porquê?
Muitas vezes o que acontece é que estamos a escrever séries que não contemplam o facto de sermos portugueses e estarmos em Portugal. E quando tentamos seguir um modelo americano, acaba por se tornar numa coisa que faz pouco sentido cá. A mim, pelo menos. Acho que os portugueses se identificam menos com esse tipo de produto. Sobre a preponderância das séries sobre o cinema, acho que é uma pena. Eu vejo algumas séries. Não sou um consumidor ávido e cada vez menos tenho paciência para estar diante da televisão durante horas e horas a ver séries.
Havia um filósofo que dizia que estar vivo e morrer são coisas que produzem tanta perplexidade que sentimos uma necessidade enorme de estarmos constantemente alheados disso. Tem a ver com o facto de, quando não estamos a trabalhar, muitos dos nossos comportamentos passarem por desligar. Eu acho que isso é importante uma pessoa desligar. Mas não é assim tão importante ao ponto de termos criado um mundo em que estamos constantemente desligados. Eu conheço imensa gente que passa a vida a ver séries, que passa a vida no Facebook, e tudo o que faz quando não está a trabalhar é estar alheado de si próprio. O Netflix pode criar alheamento.
Um livro não pode criar alheamento?
Acho que a forma de presença que temos ao ler é muito diferente. Porque é um exercício muito mais participativo. Ao ler, usamos uma parte de nós que se acende, que tem a ver com a imaginação, que é a nossa. Com uma série de televisão não estamos a imaginar nada, estamos simplesmente a receber, receber, receber. Com oslivros, há um sentido participativo e de presença que é muito mais forte do que ver. A leitura é um exercício de estar presente, enquanto que muitas vezes as séries de televisão são um exercício de estar ausente. A coisa de que mais gosto é estar ausente, mas faço o exercício de não estar sempre. Se eu passar quatro dias seguidos a ver o “Game of Thrones”, garanto que ao fim de quatro dias estou sem noção nenhuma de quem sou. Estou completamente alheado de mim.


















