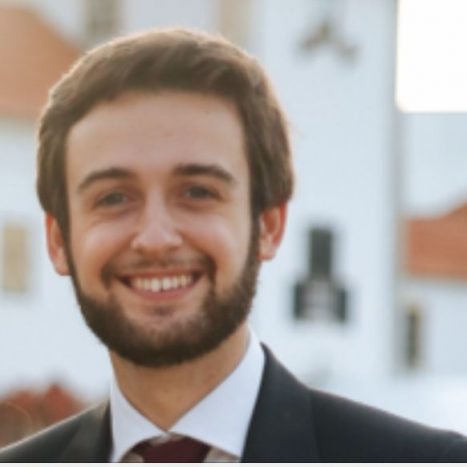Durante muito tempo, os húngaros tiveram mais importância como personagens do que propriamente como autores na literatura mundial. A imagem dos hussardos, as duas bandas coloridas de Budapeste, com tanto de europeu como de exótico, a monarquia quase sagrada, bodo rico para hagiógrafos, é apetecível para qualquer pena.
Ora, dos ademanes do Império Austro-Húngaro, do resquício do sacro Império ainda tão presente em Matias Corvino e em Estêvão I, do sofisticado Danúbio e da ilha magiar cercada pelas línguas indo-europeias, não parecia brotar literatura ao nível da região; na literatura medieval, à falta de terreno mais assinalado, tivemos de produzi-la: escorados na tese da ascendência húngara do conde D. Henrique, alguns dos nossos escritores, com Duarte Nunes de Leão à cabeça, ainda alinhavaram umas páginas sobre a Hungria; na literatura moderna, um manto de indiferença parece ter apartado o território húngaro do fascínio pelos descobrimentos ou do barroco mais espampanante; no século XIX já os escritores magiares cumprem a ortodoxia romântica e realista, imiscuem-se nas polémicas e escrevem à moda, mas continua a faltar o golpe de asa a esse lado da águia bicéfala.

“A História da Minha Mulher”, de Milan Füst (Cavalo de Ferro)
No século XX, porém, enquanto o país morre e ressuscita, tateia baratinado à procura de um rumo entre as políticas mais diferentes, a literatura ganha um ímpeto que ainda não tivera. Não somos imprudentes ao ponto de afirmar taxativamente a inexistência de grandes escritores pelos idos da história húngara; poderá haver, com certeza, até melhores do que muitos dos que ganharam fama no século XX; o que não há, porém, é uma tendência, uma forma partilhada de olhar para o mundo, à maneira deste século.
Os escritores do século XIX podem interessar-se por dramas psicológicos e pela fisiologia das personagens, podem dedicar trovas ao tempo com voz parecida ou tremer diante de aberrações da natureza; mas partilham os seus problemas e os seus fascínios com Dostoiévski e Zola, Lamartine ou Poe; quando falamos do interesse da literatura húngara no século XX falamos mais da sua originalidade do que do seu carácter húngaro. Haverá melhores olfactos para a boémia de Buda ou penas mais saudosas do império; mas ao olhar para Milán Füst, para Antal Szerb ou para Sándor Marái consegue-se encontrar um fio que interessa puxar. Não porque sejam melhores representantes da literatura húngara, ou porque não se pudesse encontrar uma ponta solta deste fio noutro lado; apenas porque, num percurso entre vários destes autores, se consegue ver, a custo, uma imagem da Hungria que talvez fuja à informação de compêndio. Não nos explica a desintegração do Império ou a ocupação comunista; mas leva a perguntar o que é que houve naquela terra, naquela genealogia partilhada, para que vários escritores olhassem para o Homem deste modo.
Nos primeiros capítulos do seus Mimesis, Auerbach afadiga-se a explicar de que forma a ficção ocidental deve provavelmente mais à Bíblia do que a Homero. O sentido de completude da Odisseia, o ensejo de explicar tudo, de analisar as causas de cada acção, contrastam com a narrativa tantas vezes partida, absurda de tão pouco explicada, do Pentateuco.
Ninguém negará a influência bíblica na literatura europeia (embora poucos a expliquem tão bem como Auerbach) e menos ainda negarão a influência judaica no centro da Europa de princípios do século. A literatura húngara não foge a essa influência e ganha com ela. As histórias de A história da minha mulher, que Milán Füst escreveu na pele de um comandante da marinha mercante, são por vezes confusas na cadência rápida de acções, enroladas no estilo e até caóticas; mas não só quadram com o género de inteligência do cómico comandante, como são pedra essencial na construção do enredo. “Que a minha mulher me engana, já eu suspeitava há muito”, assim começa o comandante. E, muito mais do que a história de uma traição, no livro revela-se a história de uma suspeita. Os sentidos velados na comunicação do casal, os jogos de ciúmes, as traições reais para responder às suspeitas, as cóleras, os mimos, a repetida ascensão e queda das paixões, toda a mente caótica do comandante quadra com o estilo algo frágil do livro. Füst tem a segurança que falta a Eça no Conde de Abranhos, por exemplo, de poder não ser percebido. A ironia passa, mas nunca é reforçada, Füst não se importa de escrever mal se o seu comandante tiver de escrever mal. A fragilidade do relato, como se percebe da leitura da Bíblia, adensa o mistério.
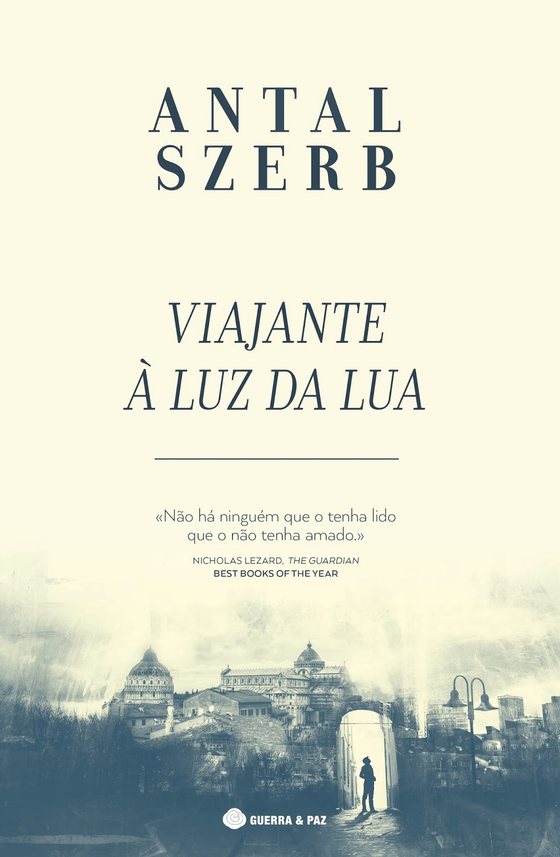
“Viajante à Luz da Lua”, de Antal Szerb (Guerra & Paz)
É isso que se nota também no Viajante à luz da lua, de Szerb. O sagrado, qualquer sociólogo de baixa extracção saberá dizer, não está apenas no impronunciável (como no nome do Senhor) mas no intocável. Daí que Mihály, a personagem principal de Viajante à luz da lua, tenha todo o seu interesse radicado na juventude, passada em casa dos misteriosos Ulpius, um par de irmãos um tanto mórbidos e sinistramente próximos. Os Ulpius têm a grandeza que nenhuma das personagens de Füst tem. Füst apanha a margem esquecida do Império, a Paris de segunda, e fuça na sociedade de burguesinhos e quadrilheiros amadores; tem o mesmo humor negro de Joseph Roth pela mesma altura, o riso que soa a desespero, sem alternativa; Szerb, porém, foge ao mesmo mundo por outro lado; os grandes espírito da sociedade dos Ulpius empolgam, impressiona a elevação dos adolescentes que se entregam ao Cristianismo de corpo e alma, os leitores de Chesterton e Maritain e as sensibilidades artísticas tão inadaptadas. Szerb perde quando sai deste registo, a prosa parece demasiado académica e causal: vemos que Mihály está a fazer a viagem para resolver o seu passado, temos um objectivo demasiado claro, uma arrumação que foge ao tal espírito judaico de que falámos.
Marái, o único destes que não é judeu, é também o que usa este espírito de um modo mais artificial. Isto é, há sempre um facto escondido na construção das suas histórias, um oculto que contamina as personagens, sim, mas está no âmago da história, não das personagens. Em Füst, há história por causa da obsessão do comandante, em Szerb por causa da personalidade do grupo dos Ulpius; em Marái, porém, a personalidade é dado por um acontecimento, e não o contrário.
Não será estranho ver escritores húngaros a moverem-se com desenvoltura nos terrenos do sagrado, a conseguirem transmitir a importância daquilo que não é dito, a vedarem para sobre-excitar a curiosidade; no país que se criou como modelo do Império de Carlos Magno, que nunca pode baixar a guarda no espírito de cruzada e lidou sempre tão de perto com os infiéis, na linhagem de monarcas com mais santos da Europa, é compreensível que a religião contamine as próprias relações sociais. Há uma propensão mística, que nas terras vizinhas degenera no fantástico, de dráculas e afins, que entra com garbo pela literatura húngara. A destes escritores não é uma literatura doutrinária, nem ideologicamente consistente: mas o sagrado do quotidiano tem um peso que soleniza mesmo a literatura cómica.
Já o comparámos com Joseph Roth, mas voltamos a fazê-lo: o riso de Roth e de Füst tem qualquer coisa de herético no modo como destroem aquilo que a vida pública tem por sagrado. Há uma diferença ténue entre um símbolo e uma carcaça; uma carcaça é vazia, um símbolo apenas significa outra coisa; Füst trata a família – como Roth o Império – como uma carcaça, uma instituição que se diverte com rituais tolos; aquilo que atacam, no entanto, é demasiado grande para aquilo que eles próprios controlam. Füst parece querer atacar um cadáver, quando na verdade ataca um símbolo, e com ele tudo aquilo que acarreta. O viajante à luz da lua, de Szerb, é comovente porque parece dar-se conta da acção, começada por Füst, que em Sándor Marái já estará concluída. Szerb vê o mundo a desmoronar-se, Marái quer saber como é que podemos sobreviver a um mundo que desmoronou. E, no entanto, parece que ninguém queria realmente destruí-lo. Podíamos fazer um paralelismo barato com a situação da Hungria ocupada (que Szerb não chegou a ver) para dizer que estes são romances sobre o pouco controlo que temos sobre a nossa vida. Não deixa de ser curioso que, quando Imre Kertesz ganhou o Nobel da literatura, o júri o tenha justificado com a forma como denunciou “a frágil experiência do indivíduo por oposição à bárbara arbitrariedade da história”. Os seus compatriotas sabem-no. E escreveram bem sobre o assunto.
Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia. Colabora no site Velho Critério.