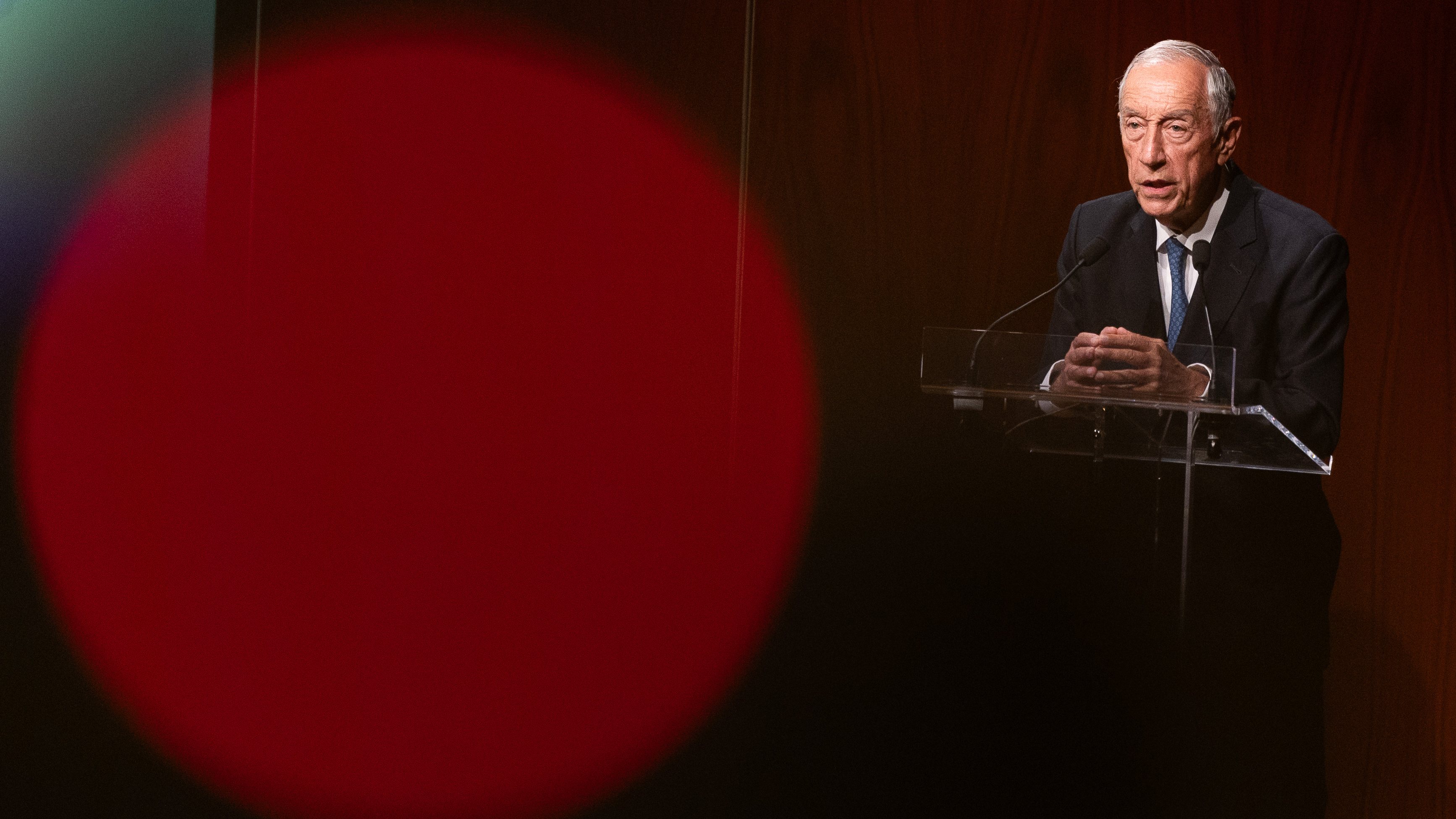Tom Petty era o músico que poucos apontam como “o meu preferido”, pelo menos não à primeira, mas é o mesmo de quem todos gostam. Sempre teve os ingredientes fundamentais para despertar na malta de emprego fixo um encantamento irrecusável: a velha graça do “vou onde esta guitarra me levar”, aquele nomadismo sedutor que depois deixamos para mais tarde, quase sempre bem para lá do último tiro de partida, já fora do tempo oficial da corrida.
Mas ele arrancou sem tretas e foi por isso que chegou onde chegou, é por isso que agora o recordamos como o Tom Petty. “Viste que morreu o Tom Petty?” Vi pois, vimos todos e trocámos posts mais ou menos doridos, com aquela do “Learning to Fly” ou o “Won’t Back Down” e por aí fora. Houve dúvidas, primeiro morreu, depois não morreu, até que no final chegou mesmo o fim. E, pensando bem, este carrossel ficou-lhe bem. Em vida trocou as voltas a muitos, quando não se soube se iria vingar ou não, se desistia ou não, se merecia fazer parte da nossa memória coletiva ou não. A resposta é sim, à memória e à morte. Depois de um ataque cardíaco. O verdadeiro heartbreaker, como a banda que comandava.
Tinha um pouco de Dylan, mas sempre foi muito menos áspero e bem mais direto no que tinha a dizer. Tinha aquele swag de Lennon, um deixa andar delicioso que nunca o impedia de se preocupar com os dilemas da existência. Marchava bem sobre os ensinamentos de Roy Orbison — uma canção é uma canção e é só isso que importa no mundo — mesmo que tenha ficado muito longe de cantar perto dos anjos com os dois pés assentes no chão.
Foi amigo à séria de George Harrison e só por isso merece todo o nosso respeito e toda a nossa inveja, em iguais doses (bem grandes, por sinal). E só queria ser como Evis Presley. Mas foi sempre um regular joe transformado em rockstar, um americano de guitarra na mão e harmónica a jeito. Um cowboy sem cavalo mas disposto a correr todos os comboios onde o deixassem entrar sem bilhete.
Tinha muita coisa mas não tinha tudo. Esteve sempre longe da perfeição mas foi isso que o tornou tão cativante. Mesmo que, volta e meia, lá arrancasse um “mas este gajo ainda aqui anda?” de cada vez que lançava um novo álbum, de cada vez que se atirava a mais uma digressão. Voz limpa quando queria era levantar pó. Uma fraca figura, estatura média, olhos claros e eternamente presos a anos de adolescência. Mas com a má vida toda no corpo, nos copos, nas drogas, essas coisas todas do costume. E que engraçado que é reparar que o próprio do Tom não era nada dado a costumes. Ou não parecia ser.
https://www.youtube.com/watch?v=B8m5p6V_NPQ
Acreditou que era um escolhido do rock’n’roll e não quis saber do ceticismo com que o pai o via, a ele e às escolhas que fazia. O pai, o tal que era vendedor de seguros, não ia à bola com as ideias peregrinas de Petty, que era Thomas Earl por nascimento, à espera de poder viver com um diminutivo que lhe permitisse correr o país como um vagabundo com estilo — e já se sabe que para isso um nome com três letrinhas apenas dá muito mais jeito.
Sabia o valor de quatro acordes bem escolhidos. Não complicava e provavelmente até sabia como fazer tudo de maneira bem mais intrincada. Mas escolhia o caminho simples, ou aquele que parece simples (há sempre quem diga que os Beach Boys faziam canções simples por isso esta discussão é claramente muito complexa). Fez canções notáveis e outras que estão sempre à espera de passar na rádio à hora do trânsito, só para serem mais uma. Juntou ambas as vontades através da maior de todas: queria ser ouvido. E se parece romântico ou lamechas é porque é mesmo assim.
O desejo criativo era o de cantar a América porque ele era americano, não necessariamente porque lhe estalava um patriotismo desenfreado por todos os poros. Era o dia a dia do homem, p’lamor de deus. Que outra coisa havia ele de fazer? Tom Petty era um gajo de amor e de noite, de dúvidas e de conforto na ausência de respostas. Era uma boa companhia de copos e de histórias (não, nunca deste lado houve confirmação oficial, mas neste tipo de bandidos as confirmações costumam vir à borla com as canções). E fez Wildflowers, que disco, senhores, que disco.
Tocou com toda a gente, teve os Mudcrutch, os Heartbreakers (de quem era patrão) e os Traveling Wilburys, superbanda das superbandas. Moldou o destino a rapazes tão dignos da nossa atenção como Ryan Adams ou Adam Granduciel (The War on Drugs), heróis indie da categoria de Cass McCombs, estrelas tão simpáticas como Dan Auerbach, dos Black Keys, e carradas de aspirantes a donos de cabelo comprido até ao dia da morte, como é quase todo o homem, mesmo os que dizem que não (cambada de aldrabões). E a melhor homenagem que teve, desde cedo e a partir de muitas vozes, foi a de ter várias canções revistas e reinterpretadas vezes sem conta. E cantar Tom Petty era um sinal de maturidade artística, que ninguém duvide.
Contas feitas, morreu cedo, mesmo muito cedo, não é treta escrita aqui à pressão porque o artista até era um bom artista e necessidade é que não não havia coisa nenhuma. Ninguém merece morrer aos 66 anos, nem o Tom Petty nem o nosso vizinho. Caramba, o meu pai tem 66 e ainda por cima sabe tocar harmónica. Não me lixem.