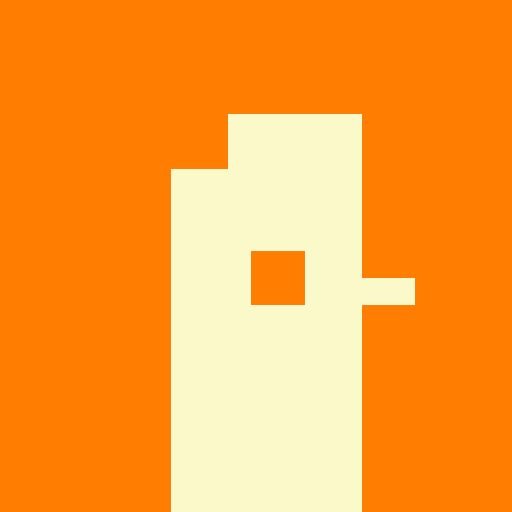Aproveitando a vinda de Mike Carey, o argumentista de comics que já trabalhou em Batman, X-Men e Fantastic Four e da sua mulher, a escritora Linda Carey ao Fórum Fantástico, um evento anual de ficção científica, que este ano se realizou na Biblioteca Orlando Ribeiro, em Lisboa, conversámos sobre a longa carreira literária, sobre Lucifer, sobre banda desenhada, literatura e o argumento que escreveu para o filme The Girl with All the Gifts, protagonizado por Glenn Close e Gemma Arterton.
Olhando para o facto que a paixão pela escrita corre na vossa família, existe um projeto em que ambos colaboraram, acompanhados por uma terceira pessoa: a vossa filha. Como foi esta experiência?
Linda Carey: Queres ouvir como tudo começou? O Mike tinha apresentado uma proposta para uns comics que iam chamar-se 365 mulheres e Jamal. Era sobre um sheik mitológico das arábias que tem um harém com uma mulher diferente para cada dia do ano. Ele é deposto por um rival que não tem qualquer interesse por elas e exila-as no deserto. A acompanhá-las está o filho do sheik, e quando o rival se apercebe disso começa a persegui-los, mas eles acabam por formar um exército e depõem-no, criando uma cidade só de mulheres.
Esta era a ideia do Mike e eu adorei-a, mas o editor não estava muito interessado nela para um comic, então eu disse: “Eu quero escrevê-lo como um romance”. Então ele pensou no assunto e disse: “Não… Eu quero escrevê-la como um romance. E tu podes escrevê-la comigo”. Neste processo entra a nossa filha, com 19 anos na altura, que quis também colaborar na escrita do romance. Já que estávamos a fazer uma colaboração inédita um com o outro e nunca tínhamos o feito antes, dissemos “porque não?” e ela deu-nos ótimas ideias para o desenvolvimento da história e muito rapidamente tornamo-nos um triunvirato de escrita.

Linda Carey, que trabalha com o marido há já vários anos, também é escritora
Mike Carey: Foi uma gestação muito longa, durante um par de anos falámos em escrever mas nunca metemos uma única palavra no papel. Planeamos, passamos muito tempo a fazer planos mas não ia a lado nenhum até que, em 2009, foi o convidado de honra numa convenção no Canadá, onde conheci dois editores canadianos: Sandra Kasturi e Brett Avery. Eles tinham a sua pequena empresa chamada Chizine e perguntaram: “Tens alguma coisa que nos queiras fazer um pitch?”. Eu disse: “Bem tenho algo que tenho falado com a minha mulher e filha”, e eles disseram “Ok, nós ficamos com ele”. De repente, tínhamos que o escrever.
LC: Em cerca de 6 meses?
MC: Um ano, deram-nos um ano.
Tinha o seu ponto de vista para a história quando a iniciou. Ter a sua filha e mulher a contribuírem em partes iguais para o desenvolvimento da história tornou-a mais completa?
MC: Acho que elas ficaram com a parte mais difícil mas também mais produtiva, que foi dar “a voz”.
LC: Criámos o elenco e a minha filha sugeriu a necessidade de incluirmos uma personagem du pont au point à história, o que acabou por ser Ren, cuja perspetiva é aquela que domina quase todo o livro. Do ponto de vista prático fomos escrevendo à vez, cada um na sua “voz” e líamos em voz alta uns para os outros, ao mesmo tempo que criticávamos o resultado.
E era coeso?
MC: No final, sim. Discutimos cada trecho até encontrarmos o que queríamos para a história. Não era nada fácil, o ponto-chave chegou quando encontrámos um estilo que todos achámos certo e todos nos sentimos confortáveis a escrever com confiança. Não acho que quem lê consiga detetar as diferenças de escrita, onde cada um acaba e o outro começa, nem que consigam ver os sítios onde um de nós para e o outro começa.
Passaram tanto tempo a deixar essa voz coletiva amadurecer. Têm planos futuros para outra colaboração?
LC: Queríamos escrever mais um romance, nós os três, mas a minha filha foi para a universidade e está a escrever um romance só dela, portanto perdemos a oportunidade.P ara já. Ela tem a sua própria carreira para construir. Trabalhar sob a alçada dos pais não é algo que um jovem adulto mais deseje [risos].
MC: No segundo livro, ela já estava a estudar na universidade e acabou por dizer-nos: “Provavelmente vou escrever menos, mas o que posso fazer quando acabarem, é harmonizá-lo, pegar em tudo e ver a continuidade”. Esta mudança de ritmo foi excelente. Para todos os efeitos, ela tornou-se na nossa editora e fez um ótimo trabalho como tal.
Comecei recentemente a ver a série Lucifer, motivado pela excelente criação de Neil Gaiman nos livros de Sandman. Mas existe uma grande diferença entre o Lucifer da televisão e aquele que Gaiman e, posteriormente, o Mike escreveram. Como vê esta diferença?
MC: Sim, acho que é algo próprio. Acho que o meu Lucifer acabou por se tornar diferente do do Neil, ainda que tenha sido respeitoso para com a continuidade. Sandman foi um feito enorme de storytelling, e usei o mesmo modelo quando escrevi a série [de BD] Lucifer, mas no final acabei por levar o personagem num caminho diferente. Acho que qualquer adaptação é sempre um reinvenção e, nesse sentido, podemos ver as falhas. O meu Lucifer é diferente do do Neil e, por sua vez, são ambos muito distintos do da televisão.
O da televisão tem um charme de playboy, que é diferente do seu Lucifer, muito mais introspetivo. No seu, percebe-se a tristeza e a solidão. No da televisão, esses sentimentos são mascarados com um comportamento exuberante.
MC: Sim, solidão é uma boa palavra. Ele nunca o admitiria, mas há uns anjos que passam para o lado dele, o que o leva a não se sentir tão isolado. Nunca o pode dizer, nem nunca admite que depende emocionalmente de outros, já que um dos seus pontos-chave é a necessidade de autossuficiência. Muito austero, quase frio, enquanto a personagem do Neil pode ser trapaceira e pode exprimir-se muito rudemente se a necessidade assim o exigir.

Quando Neil Gaiman concebeu o personagem de Lucifer para o universo de Sandman, construiu-o à imagem de David Bowie
É um David Bowie diferente [quando Neil Gaiman concebeu o personagem de Lucifer para o universo de Sandman, construiu-o à imagem de Bowie].
MC: Sim, sim, doutra era.
Tomando Lucifer como exemplo: existe nos dias de hoje um certo contágio do cinema e da televisão que condiciona editorialmente os comics. Acha que isso irá diminuir a capacidade de escrever boas histórias para os mercados mainstream?
LC: Adicionaste mercados mainstream à pergunta, porque ia dizer imediatamente que não… Para os mercados mainstream acho que sim, há um perigo. Quando os homens do dinheiro se apercebem que algo é popular, existe um certo condicionamento. Essa é uma luta que os autores devem estar prontos a travar.
MC: Isto mudou a maneira como os escritores de comics trabalham, especialmente nos Estados Unidos da América. Mudou o caminho da carreira. Antes começava-se a trabalhar com editores independentes até se ser contratado pela DC ou pela Marvel. Recebíamos “A” chamada e trabalhava-se num grande livro mainstream para a DC e para Marvel, mas agora estas editoras tornaram-se no local onde provamos quem somos e depois vamos para a Image e fazemos um livro de autor para eles, onde temos total liberdade criativa.
Trabalham juntos há quatro décadas. O vosso diálogo é o alicerce de tudo o que lemos?
LC: Eu leio a maior parte do trabalho dele. Estaria a mentir se dissesse que li tudo. Nunca li o livro sobre os Pantera, por exemplo. Mas de vez em quando, ele diz: “Tenho uma ideia e não sei como fazer”. Partilha comigo as ideias e eu tenho muito orgulho em fazer parte disso, às vezes contribuindo com algo. Mas, a maior parte das vezes, ele diz-me as coisas, testa a história, e é ele próprio que diz que “não… não funciona”. Eu sou mais um eco dele próprio.
MC: Há uma expressão quando se escreve guiões — fala-se em breaking the story, o processo de “arquitetura” na nossa mente, garantir que a história está bem construída. Uso a Linda para esse storybreaking. Ela é aquela voz cética, é para isso que a “uso”.
Ontem, ouvi-lo dizer que escrever para cinema não permite andar para a frente e para trás na continuidade, na cronologia da escrita. Os videojogos não têm esse tipo de restrições. Podem vir a ser uma aposta sua no futuro?
MC: Já escrevi para videojogos, mas tenho que confessar que não sou muito bom nisso. Há uma flexibilidade, uma perspetiva de vários ângulos em relação a contar uma história em videojogos, que temos que articular de uma forma mais solta. Podemos ir numa direção ou noutra, tem que se dar liberdade de escolha genuína ao jogador, e eu não sou bom a manter essas opções abertas. Fiz um jogo chamado X-Men Destiny, em que controlamos um ou uma jovem mutante que descobriu os seus poderes e podemos escolher se vamos fazer parte dos X-Men ou dos seus antagonistas. Em vez de uma escolha só, era suposto ter-se várias experiências que nos aproximassem de um lado ou de outro, mas foi muito difícil para mim escrever assim. Não foi natural.

Mike Carey já trabalhou em séries como Batman, X-Men e Fantastic Four
Este ano foram lançados vários jogos com um ritmo semelhante ao de filmes, onde há uma linha único para seguir. Este pode ser um caminho mais próximo do seu estilo de escrita?
MC: Sim, estaria interessado em experimentar algo assim. O outro problema que tenho quando estou a escrever para um videojogo, é que não sou um jogador, e quando não se é um consumidor não temos aquele poço de conhecimento de outras grandes histórias onde ir beber. Isso, de certa maneira, prende-nos as mãos, limita as nossas opções. Comecei a escrever comics porque era leitor de comics, desde muito cedo. O que escrevo é porque o que leio por prazer é maioritariamente Ficção Científica, Fantasia e Horror. Acredito que a melhor escrita de ficção atual é nesses géneros. Não sou um grande admirador da restante ficção, que considero na sua maioria auto-indulgente e pretensiosa. Gosto de trabalhar em meios diferentes, como dizia ontem: cada meio é uma caixa de ferramentas e quando trabalhamos noutro é como se largássemos umas ferramentas e pegássemos noutras, e isso mantém-nos frescos. Acho que o meu maior medo, mais que tudo como escritor, é cair na armadilha de contar a mesma história vezes sem fim. E há muitos bons escritores que caem nessa armadilha. E o nosso editor não se importa se começamos a remastigar a mesma história. Habitualmente estão bem com isso, porque torna-se fácil fazer o marketing. Eu não quero que isso aconteça comigo, quero continuar a fazer coisas diferentes. Acho que quando trabalhamos noutros meios, ficamos o suficiente fora da nossa zona de controlo para nos obrigar a estar alerta.
Acredita que o mercado dos comics sofre de problemas geracionais? As gerações mais novas gostam mais de manga e banda desenhada do oriente do que produção americana, britânica ou europeia. Estes géneros estão em perigo?
LC: O mercado tem mudado tanto… Há dez anos, teria dito que sim, sem dúvida. Hoje já não tenho tanta certeza. Mas também não sei o que tem aparecido que os jovens estão a ler agora. Há muita produção online sobre a qual não sabemos, coisas que os nossos filhos sabem mais do que nós. Penso que os comics ainda apelam às gerações mais jovens, e a indústria cinematográfica acredita que sim, porque continua a comprar os direitos das bandas desenhadas para fazerem filmes de super-heróis a partir deles.
MC: Isso é algo ambíguo. Começamos a ver comics publicados nos Estados Unidos e no Reino Unido em que as edições são mais uma proof of concept para um filme ou uma série de televisão do que algo com valor próprio. Andando um pouco para trás, tivemos uma geração perdida de leitores de comics quando as editoras mudaram para os mercados de venda diretos e deixaram de vender em quiosques e bancas de jornais. Ficou mais complicado para os miúdos encontrarem comics à venda, deixaram de ser coisas em que “tropeçávamos” acidentalmente, e passámos a ter de ir a lojas especializadas para os encontrar, e acho que aí é que as vendas desceram de forma desastrosa. Acho que a Linda tem razão quando diz que o aparecimento de novas plataformas e de novas metodologias de distribuição está a mudar isso.
Depois de incontáveis bandas desenhadas escritas por si, para além de romances, adaptações de televisão, videojogos, como foi chegar ao grande ecrã com The Girl with All the Gifts, para o qual escreveu o argumento adaptado com base no seu próprio romance, e ter a mítica Glenn Close como uma das protagonistas? Deve ser um momento realmente especial.
MC: É verdadeiramente espantoso. Mas The Girl with All the Gifts não tem apenas a Glenn, mas também outros nomes bem conhecidos da representação, como a Gemma Arterton e o Paddy Considine. Foi um sonho poder estar no set e ver este elenco de sonho a dizer linhas escritas por mim. Sinto-me um tipo com muita sorte.
Entrevista de Ricardo Correia, tradução de João Machado e fotografia de Isabel Lamy. Rubber Chicken