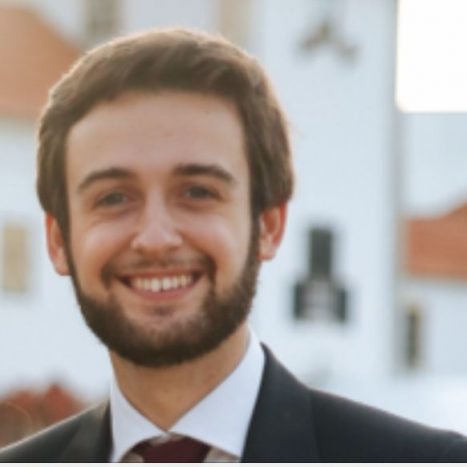Título: “Ensina-me a voar sobre os telhados”
Autor: João Tordo
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 487

Não é fácil definir o que é que implica “escrever bem”. Fora da correcção gramatical, a arte do escritor depende essencialmente de uma diferença de planos. A linguagem, o primeiro plano, não tem ferramentas suficientes para reconstruir completamente a realidade, o segundo plano. Poucas vezes as palavras precisas são as melhores para expressar a realidade no seu todo. Isto é, não há muitas hipóteses de um inconsolável herdeiro se sentir plenamente satisfeito com uma sóbria notícia necrológica da morte de um familiar. Pode sentir-se alegre se a defunta, uma megera rica, o deixar numa situação financeira mais simpática, pode maldizer os deuses se a pobre tia o acolheu com extremos de doçura na leda mas difícil infância. A descrição pura deixa sempre de fora uma grande parte do acontecimento.
A literatura é, assim, a forma que o escritor tem de encaminhar a sua mensagem por palavras que, embora com significados literais menos precisos, acabam por ser mais incisivas. Claro que este ponto de partida possibilita todo o tipo de variações. Desde o nihilista que quer denunciar a falta de precisão da linguagem e por isso usa-a nos sentidos mais literais, ao Mersault de Camus que causa estranheza precisamente pela ausência de artifício, tudo é possível. No entanto, mesmo Mersault é prova desta tese. Dizer que a mãe morreu, sem mais, não transmite ao leitor a ideia de que a mãe morreu; transmite, antes de mais, a frieza do narrador. A ausência de artifício é um artifício, uma prova de que, literariamente, as palavras ganham sempre significados que não são imediatos.
Ora, no último século, por entre milhares de correntes e teorias literárias, surgiu um modo de pensar a literatura que se afasta completamente desta tese. Claro que a crueza de Hemingway também cria segundos significados. Há o ar duro, de macho imune ao sentimentalismo, que pinga da sua escrita enxuta. Porém, mesmo em lugares já surdos às balas de soldados ou caçadores, este tipo de escrita vingou. A escrita quer-se directa, sem floreados, forte e certeira. Há, de facto, um lado interessante nesta pretensão. Como Proust, nos antípodas deste estilo, mostra melhor do que qualquer outro, há uma certa dificuldade em encontrar a palavra certa. É possível, como Proust faz várias vezes, rodear uma situação de expressões eficazes, incisivas, de tal maneira que a existência de palavras igualmente justas acaba por provar que o objectivo final de precisão ainda não foi alcançado.
É, por isso, uma pretensão interessante: nem sempre é fácil dizer as coisas familiares; mais, nem sempre é fácil dizer as coisas familiares da maneira familiar. A grande tradição jornalística, que adoptou com facilidade este projecto literário de explicar as coisas “como elas são”, é prova disso mesmo. A crítica é unânime a louvar Karl Kraus pela sua capacidade de perceber as preocupações, as modas, os chavões, comuns. Não é fácil criar um dicionário de lugares-comuns, daquilo que todas as pessoas dizem, sobre aquilo que todas pensam, no modo como todas o expressam.
O jornalismo mais certeiro, aquele que mais do que originalidade procura a banalidade no dizer, elevou esta forma às mais altas da literatura.
É também esta, em parte, a empresa de João Tordo. Escrever sem artifícios, numa língua funcional, em que não se dê por ela exactamente porque tudo está dito da maneira habitual. O seu universo literário – contínuos, escolas secundárias, professores, função pública urbana de baixa extracção – também parece encaminhar-se para este tipo de literatura. As pessoas são comuns, Tordo não as quer especialmente cultas ou inteligentes, gosta do toque desleixado das vidas miúdas; no entanto, aquilo que faz não é suficiente para as ambições do seu projecto. Em primeiro lugar, porque na fronteira ténue entre o banal e o certeiro, a língua de Tordo poucas vezes se solta do banal; as frases descritivas têm sempre a mesma cadência – “o empregado que me serviu a água sorriu sem vontade, a suar numa camisa demasiado apertada, o lacinho esganando-lhe o pescoço”; “tinha um rosto quase de rapariga, de olhos amendoados, um sorriso bonito”.
Mas além disso, João Tordo tem um feitio contrário às exigências do seu estilo. No lado mais subtil, isto vê-se pela quantidade de redundâncias nas suas frases, de vezes em que se acentua uma descrição ou frisa o sentimento de uma acção; no lado mais absurdo, vê-se pelas tentativas de disfarçar ou menorizar as referências eruditas a mata-cavalos. Num diálogo, Henrique diz: “Vai ler os filósofos de que os Ocidentais tanto gostam e até eles, na sua infinita estupidez, sabiam que a vida humana…”, o interlocutor responde “Pensava que nunca lias”, para ouvir, numa contradição estilosa “E nunca leio”. Uma empregada moldava fala de Caim e Abel, mas acrescenta, não vá alguém desconfiar da sua erudição bíblica, “Aprendi história em Igreja Ortodoxa de Moldávia”. Esta, aliás, fala com erros, mas o narrador, a confirmar que Tordo não tem feitio para a displicência, tem de acrescentar “Os verbos errados confundiram-me por um momento”, não fôssemos nós pensar que os erros não eram propositados.
Estes, apenas dois entre milhares de exemplos, mostram como o estilo de João Tordo, a querer parecer que não existe, acaba por se tornar artificial. João Tordo é, nota-se, um romancista trabalhador; os enredos estão bem desenvolvidos, vão-se entretecendo historietas com graça, ao jeito oriental e, embora não nos fascine o recurso a uma imagem constante para parecer que traz novos significados mais profundos e interligados a histórias diversas (neste caso, as ilustrações de Gustave Doré ao Paraíso Perdido), pelo menos reconhecemos que estas histórias existem de facto: foram, e isso já é uma bênção no romance contemporâneo, pensadas, têm de facto um enredo.
No entanto, até pelo seu trabalho, Tordo acaba por se tornar um romancista demasiado escolar. Isto é, a sua construção é quase didáctica: percebem-se os momentos de conhecimento das personagens, os momentos de lição de vida, os momentos de interrogação filosófica, mas todos eles são demasiado explícitos e soltos. Não se intui nada, como seria de esperar do estilo directo que Tordo quer seguir.
Neste romance, Tordo constrói uma saga familiar que vai de uma vitória japonesa a uma escola secundária de Lisboa. Esta diferença entre os dois mundos dá bem conta do problema estilístico de João Tordo. O exotismo do romance é dado pelo exotismo do Japão; a banalidade do romance é dada pela banalidade de um mundo conhecido. Isto é, Tordo é incapaz de nos dar mais do que aquilo que o mundo já nos dá. O interesse da ficção descritiva está nela própria, não naquilo que descreve; isto é, o interesse do século XIX de Eça não está no século XIX em si, mas naquilo que Eça conseguiu ver nele. O romancista criou uma linguagem que é apropriada à época e que nos dá uma ideia dela; com Tordo, parece que é o contrário: naquilo para que já há uma linguagem – os mundos exóticos – Tordo sabe usá-la; naquilo que ainda não tem, Tordo também não a cria. É o mundo que o domina, não o romancista que domina o seu mundo.