Título: “Se Esta Rua Falasse”
Autor: James Baldwin
Editora: Alfaguara
Páginas: 208
Preço: 16,90€
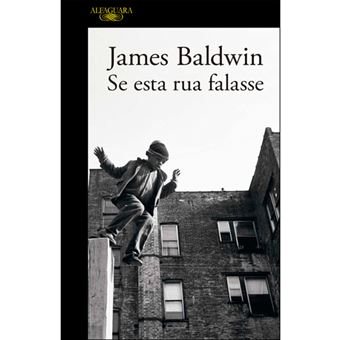
Num artigo de 1974 do New York Times, aquando do lançamento de Se Esta Rua Falasse (editado agora pela primeira vez em Portugal, a reboque do lançamento do filme homónimo de Barry Jenkins), a escritora Joyce Carol Oates protestava com todos os que definiam James Baldwin como “um escritor negro”. Joyce Carol Oates pretendia com isso sugerir que definir Baldwin, ou outro escritor qualquer, dessa forma levava a que a sua visão singular fosse interpretada como a voz de uma multidão, fazendo o valor literário do escritor depender simplesmente do valor político do mesmo.
É verdade que em certas passagens de Se Esta Rua Falasse, James Baldwin se revela um escritor por direito próprio. Mais do que um escritor negro, é um escritor que encontramos quando, por exemplo, Baldwin personifica o momento em que Tish e Fonny fariam amor pela primeira vez, colocando esse momento “a jogar às cartas, a lançar relâmpagos, a espremer pontos negros, a arrastar os pés ao voltar da escola” (p. 58), enquanto esperava que os dois jovens se apercebessem de que eram, afinal, mais do que apenas amigos. Ou quando escreve que a maior prova de que o amor de Tish e Fonny era genuíno era dada pela capacidade de ambos se rirem enquanto tinham relações sexuais. No entanto, ao contrário do que Oates afirma, estes momentos são passageiros, voltando sempre Baldwin a ser um escritor negro, como o próprio parece compreender.
Em mais do que uma entrevista, Baldwin explica que decidira mudar-se de Nova York para Paris, em 1948, porque, ao contrário do que acontecia na Europa, nos Estados Unidos era impossível um negro deixar de o ser. Dizia Baldwin que, na sua cidade-natal, a cor da sua pele o separava de si mesmo e que só saindo dos Estados Unidos poderia ver-se como era verdadeiramente e deixar enfim de ser um escritor negro (ou sequer um homem negro). No entanto, Baldwin compreenderá em Paris que deixar de ser um escritor negro, no seu caso, implicaria deixar de ser escritor. É precisamente isso que está em causa logo na primeira frase do livro, quando Tish nos diz:
“Olho-me ao espelho. Sei que fui baptizada de Clementine, por isso faria sentido que me chamassem Clem, ou até, se pensarmos bem, Clementine, uma vez que é esse o meu nome: mas não. Toda a gente me chama Tish.” (p. 13).
Baldwin está nesta passagem a mostrar que precisamos sempre de um espelho para nos definirmos a nós próprios, que não nos vemos nunca a partir de nós próprios mas por um reflexo e que é a partir desse mesmo reflexo que nos começamos a construir. Clementine chama-se Clementine, mas não é Clementine, nem Clem. É Tish. Porque é por Tish que toda a gente, sem razão aparente, a trata.
O maior problema do racismo (a seguir a todos os outros grandes problemas do racismo) é então o de falsificar uma identidade para uma pessoa, tornando-a, aos olhos de si mesma e de toda a gente, nessa nova identidade. Baldwin pode ser artista ou pedreiro, alcoólico ou sóbrio, mas não deixará de ser, antes de mais nada, negro porque é como negro que será sempre inicial e inescapavelmente percepcionado. A missão de se conhecer a si próprio, que Baldwin afirmou ser a sua principal meta enquanto escritor, é assim impossibilitada pela barreira que lhe é imposta não por aquilo que ele é, mas por aquilo que lhe é imposto que seja. Um negro.
O véu que a negritude de Baldwin impõe à sua escrita e à compreensão da sua mensagem tornar-se-ia ainda mais espesso com os assassinatos, entre 1963 e 1968, de Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King. A morte dos três grandes nomes da luta pelos direitos dos afro-americano nos Estados Unidos, que Baldwin descreve no muito recomendável documentário de 2016 “I Am Not Your Negro”, alimentaria até à obesidade mórbida esta sensação de uma negritude inescapável e invencível. E é essa sensação que não parece poder ser comunicável a um leitor ocidental europeu, por mais que Baldwin se esforce. Temos dificuldade em compreender o livre-trânsito moral que parece ser dado às personagens para roubarem o homem branco, quando é essa a única forma de garantir que Fonny não seja condenado por um crime que não cometeu. Não compreendemos o momento em que, na missa dominical, toda a comunidade canta o aparentemente sereno e pacífico “Blessed Quietness” transformando-o num violento exorcismo dos fantasmas que cada um carregava. E, acima de tudo, não somos capazes de enxergar os motivos que levam a que, depois de Fonny, revoltado com uma injustiça de que fora vítima, pegar num saco de tomates e esmagá-lo contra a parede mais próxima, Tish desate numa bizarra acção de graças:
“Graças a Deus que a parede não tem nada de especial, graças a Deus que já começou a escurecer. Graças a Deus que os tomates respingam mas não fazem barulho” (p. 145).
No entanto, são os momentos em que Baldwin se consegue elevar acima da prisão imposta pela sua negritude que constituem os maiores triunfos de Se Esta Rua Falasse. Ao longo do romance, Baldwin parece ter um enorme rancor em relação às personagens mulatas (descritas como criaturas híbridas monstruosas) e ao Cristianismo, por quererem, segundo Baldwin, perpetuar os negros na posição de inferioridade e subserviência que irremediavelmente ocupam. Baldwin parece, portanto, ver os mulatos e a igreja da mesma forma que Malcolm X via inicialmente Martin Luther King, de acordo com a descrição que Baldwin faz da relação entre os dois activistas em “I Am Not Your Negro”. Ainda assim, mesmo no fim do romance, a visão maniqueia e de confronto aberto entre os negros e o homem branco (ou entre negros e mulatos) é momentaneamente substituída por uma posição conciliatória, quando, por um segundo, Tish entrevê que Frank ama Adrienne, a sua filha mulata, e que Adrienne ama o seu pai.


















