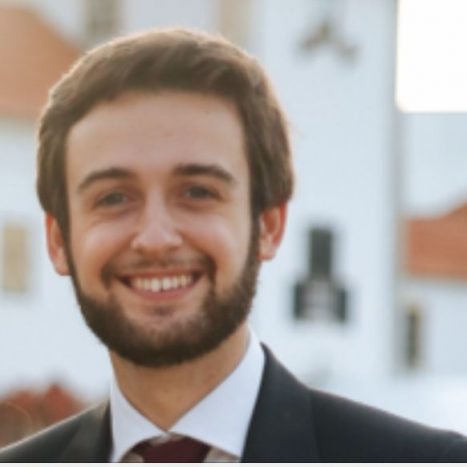Título: “O processo Violeta”
Autora: Inês Pedrosa
Editora: Porto Editora
Páginas: 230

A história, em si, é muito simples. Nos anos oitenta, a professora Violeta e o seu aluno Ildo apaixonam-se. Do romance nasce um filho e uma série de complicações. A professora, que era casada, divorcia-se e perde a custódia dos filhos, o rapaz, filho de uma Cabo-Verdiana solteira, descobre que o seu pai é o toureiro Nuno Silva Delgado, conde da Delgada.
O caso é seguido de perto por Clarisse, uma jornalista que descobre quem é o pai do rapaz – e precipita assim o encontro deles – e que pretexta uma reflexão sociológica sobre os anos oitenta e sobre um jornal, O Insubmisso, que é apenas a capa romanesca que Inês Pedrosa arranjou ao Independente.
Tudo certo, não fosse mais certo ainda, a cada linha, que Inês Pedrosa é capaz de mais. Não que fosse capaz de um livro melhor e não o tivesse feito; Inês Pedrosa é capaz de melhor e fez melhor, a cada linha está a fazer melhor do que aquilo que aparece no livro. Explicamos: Inês Pedrosa mostra o ambiente snob de O Insubmisso, com Victor, o director-adjunto “que publicava há sete anos crónicas queirosianas sobre os defeitos dos lusitanos e cintilava como vedeta de um programa televisivo semanal”, e Benedita, a impiedosa directora, que é homossexual não assumida; no entanto, consegue fazer um livro muito mais snob, literariamente exibicionista, a um nível absurdo.
Não são apenas as referências literárias, ou a ideia de que aqueles que percebem o romance pertencem, de alguma maneira, a um escol — “O leitor compreenderá a ligação entre os factos e o mito (…) se pertencer a essa fina-flor de almas sábias que encontram na hipérbole da ficção uma verdade mais cirúrgica do que a fornecida pela científica dieta dos documentos”; em todo o romance parece haver um esforço por mostrar cultura. No Universo de professores de Liceu, só se vêem grandes literatos. Desde a professora que vai ao shopping e compra uma t-shirt “com uns dizeres de Rimbaud”, a outra que, em conversa, pergunta: “As motivações das pessoas são obscuras, intangíveis… Nunca leste o Crime e Castigo, de Dostoiévski?” (note-se aquele aposto, não basta perguntar se leu o Crime e Castigo, não vá o leitor incauto desconhecer que o Crime e Castigo é de um grande autor).
O melhor é que estas referências aparecem en passant, como quem não dá importância à sabedoria. Na mesma conversa, a professora, ao ver a sua antiga aluna, lembra-se dela como “a minha especialista em revolução Industrial. Nem sempre estudavas muito, é certo, mas os teus testes tinham um certo tom de romance de Dickens que dava gosto de ler”. E se já é notável que uma aluna de liceu consiga produzir testes com “um certo tom” de Dickens, mais notável é que a rapariga, a disfarçar, de improviso, fala “do seu enleio pela figura de Oliver Twist”, das saudades da escola, e de outras coisas triviais.
A forma como os comentários eruditos entram nos diálogos é uma das coisas mais estranhas deste romance. Violeta, quando sabe que a sua amiga foi violada, também aproveita para a sua apreciação literária. Dá-lhe os Contos do Eça e acrescenta “Vais ver que te faz bem, o Eça descontrai sempre”.
Seria, em circunstâncias normais, um comentário despropositado. No entanto, o leitor percebe a subtileza. Violeta conhece bem a sua amiga. É que esta, enquanto está com uma faca apontada aos olhos, e passamos a citá-la, “só me lembrava, em itálico e tudo, do Cão Andaluz do Buñuel e do Dalí” e, enquanto estava a ser violada, consolava-se com “Faz de conta que estás a filmar os 120 Dias de Sodoma”.
Numa escola em que os professores têm tão altos pensamentos, não admira que os alunos, mesmo os mais delinquentes, se saiam com requintes poéticos como “Quieta, mula, ou ainda faço salada desses teus olhos de pantera”, ou que haja grafitti com frases como “Não perca a nova verção do Romeu e Julieta, agora com um Romeu preto e uma Julieta velha”.
Não é só nisto, porém, que Inês Pedrosa ultrapassa o seu próprio romance; é notória a denúncia que a autora faz da sociedade patriarcal, da hipocrisia religiosa e da hipocrisia de classe, do machismo e dos tecnocratas. Tudo isto são formas primárias de pensamento, que teriam uma denúncia mais convincente se não fossem encovadas num binómio constante de bons contra maus. Os tecnocratas também são ignorantes, os ignorantes também são maus, os maus são hipócritas, os hipócritas são machistas e os machistas são tecnocratas. Um editor de Economia – tecnocrata, claro está – pergunta “Quem é esse Oliveira?”, quando se fala do Manoel de Oliveira; as “mães mais modernas, que não faltavam a uma manifestação do 1º de Maio”, dizem às filhas “Eu não sou racista, filha. Coitadinhas das pessoas de cor. Mas pensa como sofreriam os teus filhos nesta sociedade antiquada”, os toureiros “cultivavam com denodo as relações íntimas com o maior número possível de mulheres” a que nunca chamavam mulheres (essas eram só as que tinham em casa)”, o coração do administrador do jornal “era uma trituradora de pobres, particularmente do sexo feminino”, Nuno, católico, quando sabe que a amante está à espera de bebé quer “resolver o problema” e, assim, temos um longo desfile de sociopatas num único romance. Os únicos homens que se safam, com bom coração, são os das minorias: Daniel, o artista, Baltazar, o irmão gay de Violeta que se matou por causa da homofobia do pai, e Ildo, o mulato.
Dos outros, ninguém escapa. Nem Victor, um vaidoso que quer encher o jornal de cunhas, nem pais ou maridos. Aliás, muito menos pais ou maridos.
Nuno e Alexandre, maridos, um é tão infiel que é capaz de criar inveja a um sultão, e o outro bate na mulher. No caso mais brando – o marido de Clarisse – o Homem só pergunta “E o que é que eu janto?” quando a mulher diz que vai ficar a trabalhar até tarde e a enche de sentimentos de culpa por não ser uma seráfica portadora do bebé que carrega na barriga. Nos pais, porém, o caso ainda é pior. Dos pais que entregam a filha a uma familiar a troco de dinheiro, ao pai de Violeta (tenente-coronel), que fecha os filhos durante vários dias em quartos de castigo e diz “livrem-se de chorar por este traste” quando o filho se suicida, ninguém se safa.
O maniqueísmo, os estereótipos, as simplificações, são mais do que muitas. “Sendo mulher, cabia a Ana Lúcia sofrer”; o irmão “estaria sempre certo, a filha estaria sempre errada”. Nunca podemos desligar destas opressões, que dão um certo ar panfletário a este romance. As personagens são boas, são más, ou são Clarisse. Clarisse é um caso aparte, por várias razões. Em primeiro lugar porque, no fundo, está a fazer o mesmo trabalho que a autora. Inês Pedrosa narra a história de amor de Ildo e Violeta, e também a história de Clarisse a narrar a história de amor de Ildo e Violeta. Depois, porque Clarisse é uma jornalista jovem que trabalha no Insubmisso. Depois, porque Clarisse é um portento de qualidades. Tem uma “promissora carreira”, como diz a directora do jornal (e acrescenta “Deus nos livre destas feministas de esquerda”), “não é filha de ninguém”, o que espanta o administrador, “chegaria longe” na Maçonaria, é frontal e capaz de perguntar ao chefe se “tens alguma condessa para a substituir?”, defendendo assim uma colega, tem resposta rápida, é corajosa, escrupulosa, proba (“não sabia que o jornalismo se fazia assim”), apetitosa, tanto para o vulgo, que lhe diz “comia-te toda”, como para o escritor consagrado que lhe pergunta “Tu não percebes que se te deitasses comigo aprenderias a escrever melhor?” e, mesmo enfrentando patrões e lutando pelos oprimidos, “tinha fama de boazinha e buliçosa”.
Esta fama, confessamos, não sabemos de onde lhe vem, tal como não sabemos o que leva Violeta, que se orienta “pelo bom senso, pelo bom gosto, pelos tons pastel”, já não dizemos a apaixonar-se por um rapaz de 14 anos, dado que essa paixão que enlouquece a mulher sensata podia ser o foco do livro, mas a dizer ao marido, a respeito dos pais: “Eles assassinaram o meu irmão, e os meus filhos não conviverão com assassinos. Se não aceitares este meu pedido, peço o divórcio”. Onde está, numa resolução tão preto no branco, o tom pastel?
Fica a sensação de que Inês Pedrosa escreve as coisas só por escrever. Também, quando Violeta vai à terapia, “A consciência de que a terapeuta se encontrava ao serviço do aparelho repressor levou-a ao mutismo”, embora, na mesma cena, com a mesma terapeuta, nos seja dito que a muda “Narrou, com fúria e entusiasmo, todas as provações passadas”. É o mesmo que se passa com Nuno, que “pelas três filhas, certamente que não” tem amor, tanto que se esquece de uma delas, quando pede a Clarisse “que se lembrasse do mal que ia fazer às filhas, duas meninas inocentes”. Porém, o pior é a distinção escolástica entre os estados de alma de Ana Lúcia, que em três páginas demorou “a entender a paixão obsessiva que rondava Ildo e Violeta”; “viu, durante meses, sem ver”; “sabia que Violeta estava apaixonada por aquele aluno, mas concentrava-se em agir como se não soubesse”; “sentia-se incapaz de conceber qualquer relação lasciva entre Violeta e um garoto”. Viu, não viu, fingiu que não via, viu sem ver, enfim.
Haveria ainda bastante para dizer, desde o vício principiante de não conseguir escolher entre várias hipóteses e, por isso, estragar respostas com excesso de informação — “Esforce-se mais, que tem menos que fazer do que eu. Não é com as suas lamúrias que me aumentará o entusiasmo, nem isso é conversa digna de uma senhora.” Isto a respeito de sexo. Se não é conversa de senhora, para que é que a tem? Ou Baltazar que “nunca desceria à vileza de comprar sexo” e, “de qualquer forma, preferia homens”. Se prefere homens, claro que nunca iria comprar sexo a uma prostituta – à discutível tese subjacente, de que o desejo consentido legitima tudo, mesmo o amor entre um jovem de 14 anos e a sua professora adulta. No entanto, quer para este processo Violeta, quer para qualquer outro processo, convém poupar algum fôlego para o caso de haver recurso.