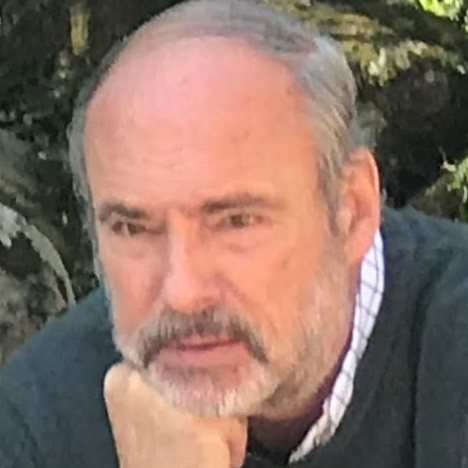Praticamente só se ouve o barulho dos motores. No “segundo andar” do Wild One corre um vento fresco que parece incomodar toda a gente menos João Morna e André Roque, os proprietários desta que é a “maior embarcação marítima turística de pesca desportiva na Região Autónoma da Madeira”. Passou pouco mais de meia-hora desde que o porto de Porto Santo ficou para trás e estamos nas águas da zona norte da ilha, depois do Ilhéu da Cal e antes de chegar ao Mar da Travessa, o trecho de água que separa os dois territórios principais desta região autónoma.
Os passageiros desta embarcação não são pescadores experientes, longe disso, foram ali parar a propósito do Festival Rota do Atum em Porto Santo, evento gastronómico promovido pelo resort Vila Baleira e que tenta servir de dinamizador desta região já por si altamente transfigurada “pela mão que a alimenta” — o turismo. O evento, como o próprio nome indica, dedica-se em exclusivo aos tunídeos que abundam por estas águas — mais sobre isso daqui a nada — e a tudo a que a eles está associado, da gastronomia à consciencialização ambiental, passando, claro, pela pesca.
Por entre o ondular que já enjoou um ou outro destes aprendizes de pescador ouve-se um barulho e os dois tripulantes saltam dos seus lugares. “Zzzzzzzzzzzzzt!” é o som que se ouve e vem de uma das dez canas de pesca que estão espalhadas pela traseira do barco. “Linha!”, grita João. Imediatamente desce para o piso-térreo do barco, entrega o leme a André e agarra na cana que deu sinal. O carreto gira a alta-velocidade até ao momento em que João se senta numa cadeira que mais parece um trono. Tem uma espécie de cinto de segurança e um encaixe entre as pernas para apoiar o cabo da cana, poiso ideal para quem está a lutar contra um animal que puxa no sentido contrário. O barulho da linha a fugir quando João começa a dar à manivela. Em poucos minutos levanta-se, de cana na mão, e põe a mão de fora do barco para agarrar num atum voador (também chamado de albacora) com pele quase metálica. “Deve ter uns sete ou oito quilos”, comenta. Minutos depois devolve-o à água.

Um dos sete atuns voadores (também conhecidos como albacoras) que se apanhou (e devolveu). Todos tinham entre sete e oito quilos. ©Diogo Lopes/Observador
Dados oficiais estimam que mais de 60% da quantidade de atum que é pescada em Portugal vem da Região Autónoma da Madeira (RAM), especialmente das águas de Porto Santo. As principais rotas migratórias deste peixe cruzam o território e tudo isto faz com que o animal em questão tenha uma posição muito importante (mas, curiosamente, algo desconhecida para quem vê de fora) na economia regional — motivo suficiente para que se aproveite o Festival como forma de conhecer melhor as ramificações deste tipo de negócio — e arte.
Atum, o “CR7” dos mares madeirenses
Segundo a Secretaria Regional de Agricultura e Pesca, entre os meses de janeiro e maio de 2019 foram descarregadas 2600 toneladas de pescado nos cinco portos espalhados pela ilha da Madeira e Porto Santo — desse total, 1500 são de tunídeos. Como tantas vezes acontece, os números são prova irrefutável. Se dúvidas houvesse da importância desta espécie marinha, dissipam-se totalmente se se tiver em conta dados como estes. Apesar dos Açores terem a fama do atum e da pescaria, a verdade é que a principal fonte deste tipo de pescado mora mais a sul e é um elemento determinante na saúde financeira da RAM, de tal modo que, por exemplo, 54% do impacto financeiro das pescas nesta zona advém do atum, comércio que em cinco meses pode movimentar praticamente oito milhões de euros e que é canalizado, principalmente, para o sector da indústria (que não são só enlatados ou farinhas mas também grandes revendedores de peixe) somando-se em 2015, por exemplo, 2700 toneladas — 41 vezes mais do que as 65 que vão parar à venda direta.
Observando dados como estes é possível pensar que a pesca do atum, neste contexto, é um processo altamente mecanizado, desprovido de caráter e sem história. Essa ideia, porém, foi prontamente desmontada por João Morna umas horas depois do episódio que abre este texto, quando já estávamos em terra firme.
[Dentro de um atuneiro profissional]
Descendente de bisavô pescador e habituado desde “muito novo” à vida no mar, João conhece bem o funcionamento da pesca comercial do atum. “Sabia que a RAM tem a maior frota de atuneiros do país? A maioria dos pescadores são de cá, também”, começou por explicar. Sentados numa esplanada de praia com o som de um casamento como pano de fundo, João foi mais ao pormenor. A pesca de salto e vara, como é conhecida, é uma técnica ancestral, praticada há tanto tempo que já se tornou tradição (aqui e noutras partes do país).
“A base de tudo são as manchas de atum”, afirma. O mundo da pesca está cheio de terminologias específicas (o “isco” também se pode chamar “amostra”, por exemplo) e esta é uma delas. “As manchas de atum nascem daquilo a que chamamos de bolas de isca, cardumes grandes de peixes mais pequenos como a cavala miúda ou o chicharro, por exemplo. Quando os atuns estão na fase da alimentação estão constantemente a procurar comida e estes aglomerados são exatamente aquilo que precisam”, conta.

Alguns dos chefs convidados a desmanchar um atum rabilho. António Vieira, do Wish (Porto), dá ao braço para cortar a cabeça do enorme animal. ©Diogo Lopes/Observador
Quando são identificadas estas “bolas de isca”, primeiro — graças a algo tão rudimentar como as movimentações de aves como as cagarras, que sobrevoam sempre zonas destas, também à procura de alimento –, os barcos lançam-se em seu alcance. Quando lá chegam e têm milhares de peixe debaixo deles, começa o trabalho. “Quando chegam ao sítio começam a lançar isca viva à sua volta e ativam uma espécie de aspersores à volta do casco”. O efeito desta conjugação de fatores atrai o atum esfomeado que se desloca, também ele em cardume em direção do barco e da bola de isca. Resultado? Uma espécie de sanduíche metafórica onde o barco fica em cima, o peixe miúdo por baixo dele (como tudo isto se passa em mar alto não tem outro sítio onde se esconder) e os atuns predadores mais abaixo ainda. “Ele [atum] vai para baixo para se ir alimentado e faz uma espécie de mancha, daí chamar-se mancha de atum. Eles podem ficar ali dias ou meses!”
Ora a segunda parte deste processo é quando entra em cena a vara. Fala-se literalmente de uns paus enormes — a melhor forma de identificar um atuneiro parado numa doca cheia de barcos é pelas dezenas de objetos destes que ele transporta — com linha e anzol, este que “muitas vezes nem tem a chamada ‘barbela’, a saliência que o prende à boca do peixe”. “É preciso estar sempre a mexer a vara para que eles depois acabem por morder”, explica João. “É tudo mais rápido porque o atum já vem à superfície, é só esperar que ele morda e puxar, um movimento contínuo, que não pode parar. Assim que um entra no barco o anzol tem de voltar à água logo a seguir.”

Assim que há uma mordida no isco o carreto dispara e a linha começa a fugir. É preciso agarrar na cana, sentar nesta cadeira e aguentar a luta. ©Diogo Lopes/Observador
Pesca na desportiva mas com respeito
Pesca desportiva e comercial, tirando o facto de ambas se realizarem no mar, são realidades totalmente diferente, pelo menos aparentam ser. No caso do atum, porém, existem várias semelhanças que acabam por juntar as duas práticas — pelo menos é isso que nos diz João Morna. “Aquilo que eu e o André fazemos chama-se “trolling” ou pesca do corrico e também pode ser utilizada na pesca comercial, apesar de ser raro”, afirma. Na prática, o que acontece é bastante simples: enquanto há quem pesque em mar alto com o barco parado (o chamado bottom fishing), a técnica que estes dois amigos, que se conhecem “desde pequenitos”, praticam é feita com o barco em movimento.
Depois de identificarem as zonas com maior concentração de aves — como na pesca à vara, lá está — seguem nessa direção e por lá ficam às voltas com “umas 15 linhas na água”, cada uma delas com um isco, ou amostra, falso. “O que isto tenta retratar é um peixe aflito a tentar fugir (normalmente eles saem fora de água)”, conta. Ao ver isto o peixe ataca, fica preso no anzol e começa o duelo.

O chef António Vieira exibe o ‘toro’, aquela que teoricamente é a mais gordurosa (logo saborosa) parte do atum. ©Diogo Lopes/Observador
“Só com o girar do carreto conseguimos ter uma noção do peixe que mordeu. Distinguem-se pela força, pela intensidade da mordida e a velocidade que leva a linha.” Também é importante ter noção da amostra que se está a utilizar — os tamanhos das amostras correspondem aos dos peixes que as pode morder — e ser rápido. O episódio que o Observador testemunhou aconteceu em segundos, pelo menos a parte do morder, pegar na cana (elas vão fixadas ou no rebordo do barco), sentar-se na cadeira de pescador e começar a puxar. Mal se chega a esta etapa não basta enrolar a linha indiscriminadamente, há toda uma coreografia.
“Quando o peixe morde, deixamos que ele leve a linha durante um bocado e só depois é que nos aproximamos com o barco, não ficamos parados, isto para que seja mais fácil recolher a linha. De outra maneira seria impossível, especialmente se estivermos a falar de um peixe muito grande.” Nas águas da Madeira predominam espécies de atum como “o patudo, o voador, a albacora, o bonito (ou gaiado, um atum pequeno que nunca passa dos 10 quilos) e o rabilho (o grande predador)” mas também é possível encontrar espécies como o famoso Marlin, ou “espadim azul”, como os locais lhe chamam. Numa saída deste Wild One já se apanhou um destes, o maior peixe que já conseguiram dominar (272 quilos).
Essa tal “luta” de que João fala — “é o que dá mais gozo” — pode durar muito tempo e prima por ser repetitiva já que para ir puxando o peixe para o barco não só é preciso que ele se vá movendo, para facilitar a recolha, como também é necessário ir fazendo vezes sem conta o mesmo movimento: com a cana na mão, sentado na cadeira grande, temos de nos inclinar para a frente sem enrolar nada, voltar para trás e enrolar um pouco — “é para irmos tendo folga na linha e termos mais facilidade a puxar”, explica João. Quando o animal começa a aproximar-se vai ficando mais à tona de água e é logo aí que se vê o brilho da pele, uma espécie de fato de surf totalmente prateado e com uns tons verde ou amarelo fluorescente.

O ‘Wild One’ é o barco de João e André, os dois sócios que organizam viagens de pesca desportiva em Porto Santo. ©Diogo Lopes/Observador
Finalmente, uma das grandes diferenças entre estes dois tipos de pesca — para lá do volume da apanha, obviamente — é aquilo que se faz com o que se apanha. Enquanto na pesca comercial tudo é capturado para ser vendido, na desportiva o animal é logo devolvido ao mar. No total, durante as seis horas em que o Observador esteve no mar, apanharam-se sete brilhantes e luzidios atuns voadores, todos eles entre os 7/8 quilos (houve quem brincasse ao sugerir que eram todos o mesmo)… e foram todos devolvidos. A sustentabilidade e o respeito pela natureza é algo que esta dupla que compõe a empresa Sportfishing Exclusive leva muito a sério, de tal forma que até os anzóis que usam são especiais: “São diferentes, mesmo que devolvamos o peixe com o anzol na boca, aquilo está feito para se dissolver em duas semanas, magoa o peixe o mínimo possível”, conta.
Hoje em dia o tema da sustentabilidade é mais pertinente que nunca e há um esforço a ser feito para que ela seja saia do papel e dos panfletos bem intencionados e chegue ao mundo real, com todas as dificuldades que isso representa. Eventos como este Festival Rota do Atum podem ser um bom veículo para transmitir este género de cuidado. Ao menos se soubermos de onde as coisas vêm — o atum, neste caso — podemos passar a respeitar mais aquilo que nos rodeia.
O Observador viajou a convite do Festival da Rota do Atum em Porto Santo