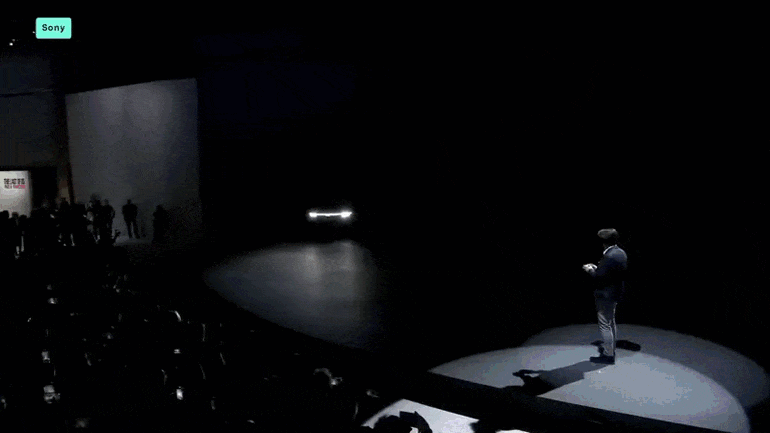Ano, 1991. Basta isto para acontecer a conversa do costume: os Nirvana e o grunge, o “Silêncio dos Inocentes” ou a maioria absoluta na segunda vitória de Cavaco Silva nas legislativas. Mas vamos ao que de facto interessa: em 1991, meses depois de ter sido estreada no Japão, começava a chegar ao mundo inteiro a Super Nintendo, a melhor consola de 16 bits que alguma vez existiu e que juntou uma capacidade técnica na altura assinalável a uma brilhante coleção de jogos. Não só de produtoras externas — era finalmente possível jogar “Street Fighter II” em casa como se estivéssemos no salão de jogos — mas, e sobretudo, jogos concebidos pela própria Nintendo (que, digo eu, eram os melhores). Foi nesse ambiente de epifania técnico-espiritual que surgiu “The Legend of Zelda: A Link to the Past”, provavelmente o melhor jogo de sempre.
“Eish, que exagero”, diz pelo menos mais de metade das pessoas que estão a ler este texto. Rapaziada, claro que é um exagero, mas é uma exagero sentido e assumido — e quando assim é, tudo é justificável. Porque a verdade é que é possível estabelecer uma relação emocional com um jogo de vídeo. “A Link to the Past”, o mais emblemático dos capítulos da saga Zelda, mesmo sem ser em 3D, mesmo sem a dinâmica open world, que faz dos jogos coisas potencialmente intermináveis, era perfeito. Ainda é. Uma aventura em que um pequeno herói quer salvar um reino das garras de um malvado feiticeiro mas que na essência é uma epopeia de um garoto apaixonado que quer resgatar a princesa amada. Pelo meio, é preciso descobrir caminhos secretos, itens escondidos, resolver puzzles e masmorras cheias de segredos e destruir grandes inimigos no fim de cada uma. Tudo bem cozinhado num crescendo de dramatismo que só ainda não deu em filme porque certamente daria um filme terrível. Há coisas que não devem sair do reino das consolas.
[o trailer de “Link’s Awakening”:]
Se já jogaram “A Link to the Past” sabem do que estou a falar. Se nunca jogaram, não sei porque é que ainda estão a ler este texto. Enfim: dois anos depois surgia a sequela, que não era bem uma sequela mas foi o que de mais próximo houve. “The Legenda of Zelda: Link’s Awakening”, lançado para o Game Boy, depois revisitado noutras consolas, sempre com a mesma base, mais cor, menos cor. Não era tão genial como o seu antecessor (nunca seria possível), mas era uma extraordinária aventura que aproveitava o motor de jogo, as personagens e as dinâmicas desenvolvidas em 1991. Link, o herói, aparece numa ilha remota, deu à costa depois de naufragar, pergunta por Zelda, a princesa que lhe é mais-que-tudo. Ninguém sabe do que ele fala, mas, azar dos azares, há um problema naquela ilha e para ser resolvido, para despertar o ser que vive adormecido num ovo gigante no topo de uma montanha, é preciso percorrer um mapa enorme, conquistar masmorras, decifrar puzzles e colecionar itens (sobretudo os oito instrumentos mágicos que são necessários para completar o objetivo). Uma delícia, a todos os níveis. E porquê esta conversa toda? Porque “Link’s Awakening” foi revisto outra vez para uma versão Switch. Podia ter sido uma péssima ideia, mas não foi. Foi, na verdade, umas das melhores ideias dos últimos tempos. Mãos aos céus. Vá lá. Mãos aos céus.
Se toda esta satisfação soar a emoção de quem viaja no tempo até um sítio onde foi feliz é porque é verdade. Contudo, há mais: há o contentamento de ver um grande jogo regressar, mas ainda melhor. O jogo é exatamente o mesmo. É um exemplo perfeito de remake porque é como se o jogo original tivesse sido redesenhado por alguém com mais talento no lápis de cor, com o papel antigo por baixo de uma folha nova, tornando tudo mais bonito. E “bonito” é uma ótima palavra que devia ser usada mais vezes, mesmo nas coisas dos jogos de vídeo. As mesmas personagens, os mesmos cenários, inimigos, objetos, diálogos, tudo. E, de forma meio difícil de acreditar, o facto de ser uma remistura não tira nenhum encanto à coisa, muito menos a quem jogou o original e se divertiu tanto com isso.
[exemplos de diferenças entre o jogo de 1993 e a nova versão da Switch:]
Link's Awakening 1993 vs 2019 pic.twitter.com/qcLPxdvLAq
— Vandal (@VandalOnline) February 14, 2019
“Link’s Awakening” cumpre na perfeição a missão primeira e fundamental de um jogo de vídeo: transportar o jogador para um mundo que nunca vai existir e deixá-lo maravilhado com isso, enquanto a realidade fica momentaneamente desligada. Não é uma deslumbre 3D, HD, 4K e outras abreviaturas tecnográficas do género. Não inventa nada, não revela novos caminhos para os designers de jogos, nem um bocadinho. Mostra apenas (e este “apenas” é irónico) que há coisas simples que superam em muito as mais complexas. Uma filosofia importante para a vida e notável para as consolas do século XXI.
Com Link, queremos descobrir o que estamos a fazer naquela ilha, que raio de ovo gigante é aquele que está no topo da montanha, como é que conseguimos levantar as rochas pesadas que não nos deixam conhecer o mapa completo, queremos encontrar todos os pedaços de coração que representam energia vital, lutamos pela melhor espada, contra os piores inimigos, sempre à espera — ainda que isso não esteja explícito — que no fim salvemos uma princesa. É um conto de fadas com ambiente de brincadeira infantil, mas que precisa de uma boa dose de cálculo mental para ser descortinado até ao final. E há poucas coisas mais dadas ao mundo da fantasia do que voltar a ser criança num mundo de adultos.
Um pedido de desculpas pela lamechice aqui estampada, mas convém dar a entender que um jogo não tem de ser (só) uma brincadeira, ao contrário daquilo que o tramado do preconceito tem tendência a defender. Esqueçam isso e vão em frente. Cinco estrelas, caso não tenham reparado no início deste artigo (mesmo apesar daquelas falhas no framerate do jogo, que desaceleram a ação e mostram a imagem aos soluços em determinados momentos, até isso é ultrapassável).