Título: Sacavém, a outra loiça
Autores: Clive Edward Gilbert, Jorge Aniceto, Pedro Rocha e outros
Editores: Município de Loures, DGPC, Associação de Amigos da Loiça de Sacavém
Páginas: 176, ilustradas
Preço: 25 €
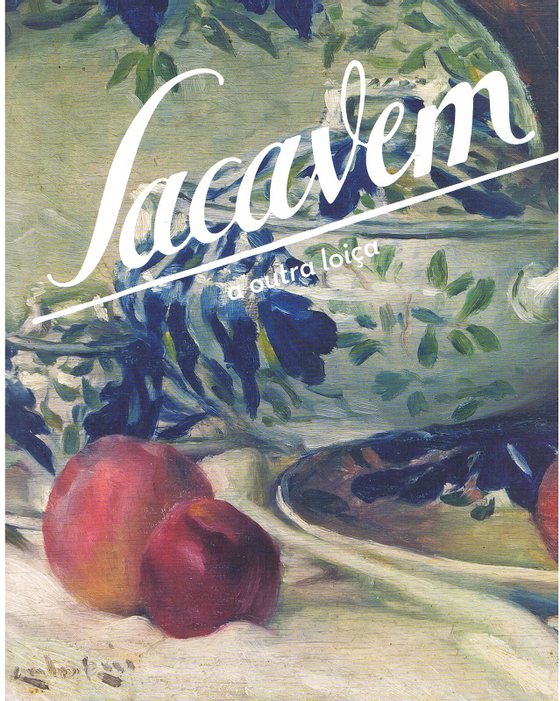
A boa e velhinha história da Real Fábrica de Louça e Azulejos de Sacavém tem novo relato, um quarto de século depois do livro de Ana Paula Assunção lançado pela Inapa e pouco mais do que uma década após as comemorações dos seus 150 anos, assinalados com a exposição de outras tantas peças antológicas. É bom ver que, como sucedeu com as efemérides redondas da criação das fábricas vidraceiras da Marinha Grande e com as criações estruturantes do iluminismo despótico — ou até, menos longe, da fábrica de mobiliário Olaio —, um impulso historiográfico de inspiração local está a trazer até à actualidade a influência dessas instituições sobre a cultura material e a vida quotidiana das nossas populações ao longo do tempo, uma memória que tendencialmente se esfumará a prazo na voragem da globalização industrial e comercial, sobretudo depois que incapacidade de renovação e “luta de classes” trouxeram ruína e colapso a essas empresas ou sectores industriais.
Têm sido notórios os avanços dos estudos sobre a produção cerâmica das Caldas da Rainha, a de Manuel Mafra e a dos Bordallo Pinheiro, principalmente, mostrando a dinâmica desse outro pólo industrial — de que o de Sacavém é originário, com o seu primeiro empresário, Manuel Joaquim Afonso, um transmontano aventuroso sediado em Leiria, e com interesses na indústria vidraceira —, mas também “a outra loiça”, espirituoso e bem achado slogan publicitário patenteado em 1965 e que vingou (Mário Santos, criticando o último romance de António Lobo Antunes, concluiu: “É a prosa mais triste que há em Portugal. É outra loiça”: Público, 22 de Novembro) e tão bem escolhido foi, uma vez mais, para título deste livro que coloca esta criação portuguesa — melhor será dizer: luso-britânica — no contexto das suas filiações técnicas e estéticas, como já Marshall P. Katz havia feito para a inspiração do francês Bernard Palissy de certa produção caldense-bordalliana (v. Cerâmica das Caldas da Rainha: estilo Palissy, 1853-1920, Inapa, 1999).
O mercado das loiças de Sacavém dirigiu-se a estabelecimentos de todo o tipo e em toda a parte (padarias, tabernas, restaurantes, talhos, cafés, hospitais, cozinhas económicas, cantinas militares; mais tarde hotéis, estações e restauração ferroviárias, companhias de navegação, revestimento parietal da construção civil e abundante loiça sanitária), mas estamos também diante do caso singular de uma única fábrica que projectou o nome da pequena localidade em que se fixou, e cuja população adulta — 1000 pessoas em 1930 — em grandíssima parte trabalhava lá. Em 2003, Eduardo Gageiro, sacavenense de gema desde 1935, publicou um portfólio fotográfico de fábrica e povoação feitos um só, com imagens colhidas nas décadas de 1950-60, o período áureo do seu fotojornalismo com vinco político-social. E essa memória colectiva vivifica-se hoje no próprio Museu da Cerâmica, de patrocínio municipal, em que foi convertida parte da fábrica instalada em meados da década 1850 na chamada Quinta e Lezíria do Aranha (Gaspar Cotta Falcão Aranha de Sousa e Menezes, de seu nome completo), pertencente a Afonso.
A história da fábrica começou muito mal, com um “grande incêndio” em Março de 1860, poucos anos depois do início da laboração, e a sorte — e a saúde — do empresário também ficou bastante chamuscada com a rescisão, pelo governo, do contrato de arrendamento da Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande, uma das suas maiores receitas. Falência declarada em Abril do ano seguinte conduziu à venda em hasta pública da Quinta do Aranha à Baronesa de Barcelinhos, que a arrendaria quase ipso facto a William John Howorth, o qual, por sua vez, haveria de comprar a loiça em biscoito e a maquinaria fabril. “Foi o virar da página na História da Fábrica de Loiça de Sacavém” (p. 18), e como disse o derradeiro protagonista dessa tripla linhagem empresarial, Clive Edward Gilbert (1938-), o início da sua “pertença de três famílias inglesas residentes em Portugal (Howorth, Gilman e Gilbert), que a mantiveram e desenvolveram durante a maior parte da sua existência de cerca de 130 anos” (p. 9). Recusando o ultimato inglês, o barão de Howorth de Sacavém decidiu renunciar à nacionalidade britânica e tornar-se português (p. 103), uma atitude rara que também terá levado “muitos operários da fábrica” ao seu funeral no Cemitério dos Ingleses, em Lisboa, três anos depois (p. 25). Após o 5 de Outubro de 1910, a empresa não cedeu ao vira-casaquismo instântaneo ou persecutório, conservando ainda por longos meses a denominação de Real Fábrica (a data específica dessa mudança não nos é dada no livro; v. Cronologia, p. 29).
Alvará de Outubro de 1863 confirma a Howorth a laboração da fábrica com sete fornos e duas prensas, e no mesmo ano publica-se nos jornais anúncio à “Louça à inglesa manufacturada por artistas portugueses e ingleses na fábrica nacional estabelecida em Sacavém, próximo à estação do caminho de ferro”, dando conta do seu depósito geral na Rua Bela da Rainha, vulgo Rosa da Prata, 126-30, em Lisboa. Um ano depois, chegava ao Porto, vendendo “louça à inglesa, por atacado e a retalho” na centralíssima Rua das Flores, 60, 1.º Em 1877, duas investidoras britânicas compram a Quinta do Aranha. Em 1881, Alice, filha de John Stott Howorth — feito barão de Howorth de Sacavém, quatro anos depois —, casa com industrial britânico da Fábrica de Chitas do Braço de Prata. Em 1894 James Ronald Gilman entra na história da fábrica de loiça, que conhecerá fortes mudanças, inclusive no registo de patentes ou marcas e no quadro societário, em que alcançará posição maioritária (1917). Herbert Edward Gilbert — vindo da ilha da Madeira, onde trabalhara durante uma década numa vinícola — chega a Sacavém como guarda-livros em 1907, para em 1918 se tornar sócio de James, posição que o filho Ralph Gilman manterá após a sua morte em 1921. Oito anos mais tarde, é a vez de Leland Herbert Gilbert juntar-se a seu pai e aos outros accionistas. Sucessivos pactos societários conduzem a diferentes marcas, gravadas ou relevadas, que apresentam elementos distintivos como âncora, coroa real, cinto, até ao S esticado verticalmente dos derradeiros anos 1966-94. A primeira fotografia deste livro (p. 4) exibe a fachada principal da loja de vendas da Avenida da Liberdade, 53-60, em Lisboa, decorada com bandeiras portuguesas e inglesas em 1957 — sem qualquer dúvida por ocasião da visita a Portugal da Rainha Elisabeth II, o que, todavia, não é dito na respectiva legenda. Já demolido, o edifício de gaveto tinha fachada em mármore cinzento e interiores art-déco de grande elegância.
Uma antologia diacrónica das produções de Sacavém, tanto de loiça doméstica, decorativa e sanitária, azulejos de padrão ou ditos artísticos e decorativos, como de mosaico cerâmico, deixa evidente — na primeira metade do século passado — uma considerável dependência de originais estrangeiros, pois algumas jarras, alguns bules e outros objectos são cópias ou importações de outros produzidos por fábricas inglesas, como Wedgwood e Carlton Ware, mas também alemãs, como Rosenthal, francesas, como a occitânica fábrica de Sainte-Radegonde, e luxemburguesa, como Villeroy & Boch, e mais tarde — depois da guerra de 1939-45 — alguma apatia às correntes estéticas emergentes, sobretudo se comparável aos produtos de fábricas como Aleluia, Secla ou Vista Alegre, dinamizadas pela intensa colaboração de artistas plásticos ditos decoradores.
Para o primeiro período, além das tigelas bicolores pintadas a aerógrafo, destacam-se colaborações deveras excepcionais, mas estrangeiras: Donald Gibert (1901-61), sobrinho do dono Herbert, com os seus ampara-livros art-déco com elefantes indianos e pelicanos (v. p. 117), as doze placas quadradas de bronze simulado dedicadas aos Trabalhos de Héracles, uma pantera e uma pomba esculpidas sobre prata e ouro simulados; Sydney Heath (1855-1969), especialista em serviços de mesa com vidrados acetinados; John R. Skeaping (1901-80), com pequenas esculturas animalistas inspiradas num bestiário; ou o belo cachepot em azul cobalto e prata criado por James e Elvira Gilman (v. p. 108).
Na produção de azulejo de padrão e no mosaico cerâmico, iniciadas tardiamente, nas décadas de 1890 e 1920, encontramos muitos padrões habituais ou familiares nas fachadas e átrios de muitos “prédios de rendimento” construídos nas décadas seguintes nos novos bairros de Lisboa — e há sem dúvida preciosidades mono- e bicromáticas a ressaltar ainda hoje, como os modelos 19 D, 229, 412 Z, 420 E, 511, 520 (v. pp. 79-82) e as arquitraves art-déco 15-18 —, mas também aqui a colaboração artística modernista ficou-se por quase nada: os modelos 702 para restaurantes, 703 para cinemas e 711 para escolas primárias, sem autoria especificada. Foi com Jorge Colaço (1868-1942) — cunhado de Ralph Gilman (p. 105) — e as suas campanhas de azulejaria decorativa de tipo industrial com temáticas histórica, mitológica e etnográfica que a fábrica se impôs imperialmente neste domínio, mantendo Sacavém associada ao Palace Hotel (Bussaco), à Estação de São Bento (Porto), ao Pavilhão dos Desportos e à Casa do Alentejo (Lisboa), entre muitos outros. A villa do Monte Estoril onde James Gilman viveu também foi decorada com painéis de azulejos assinados por Colaço (p. 109). Outro colaborador de mérito foi Armando Mesquita (1907-62), que depois de ter cursado belas-artes em Lisboa foi estudar para Paris, e é autor, entre outros, de 15 pequenos e singelos camafeus em jasperware sobre temas mitológicos greco-romanos e medievais (v. p. 121).
O depoimento de Clive Edward Gilbert é essencial neste livro, pela sinceridade desconcertante com que avalia as oportunidades e as expectativas da fábrica, as dúvidas, os erros estratégicos (“Olhando para trás, foi uma pena”, p. 125) e, mais que tudo, relembra o colapso produtivo e comercial no PREC, com a grave doença do pai e o assassinato pelas FP-25 do administrador Diamantino Monteiro Pereira, em pleno dia, “com quatro balas no coração”, manchete de O Dia de 7 de Dezembro de 1982. A crónica deste funesto evento e da descontrolada crise político-laboral que o antecede é aqui feita com minúcia pela historiadora Margarida de Magalhães Ramalho, o que deve ser visto como saudável novidade em publicações deste tipo — sobretudo quando a história da fábrica praticamente acabou ali.
Um capítulo final é dedicado ao coleccionismo de Sacavém, a partir de “uma mostra de peças com história e significado”, assinado por três elementos da Associação dos Amigos da Loiça de Sacavém, com novas achegas para a identificação dos produtos da legendária fábrica luso-britânica, e uma vez mais a partir do seu arquivo empresarial. Apesar disso, visão histórica e estética, comparativa e contrastiva — que é indispensável — terá ainda de ser procurada em blogues da especialidade.


















