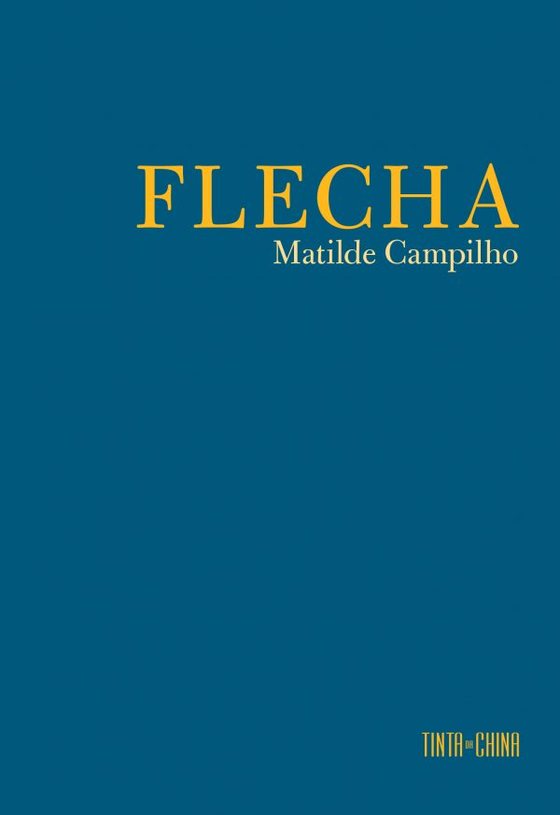Título: Flecha
Autor: Matilde Campilho
Editora: Tinta-da-China
Ano da Edição: julho de 2020
Páginas: 268
Preço: 16,90€
Seis anos depois do muito badalado Jóquei, a estreia literária de Matilde Campilho, a autora lançou um novo livro. Desta vez, Campilho decidiu colocar a poesia de lado (e com isso o português do Brasil) e dedicar-se inteiramente à prosa poética, que já enchia alternadamente as páginas de Jóquei. O resultado foi Flecha, uma coletânea de dezenas e dezenas de curtas histórias que atravessam o mundo, estabelecendo ligações entre épocas e lugares, num retrato que se pretende mais ou menos universal mas que não deixa de estar condicionado pelas experiências da autora (uma obra que a marcou, uma pintura sobre a qual se debruçou, etc.). Esta falsa universalidade não é, contudo, a principal falha de Flecha, uma obra que devia ser o passo em frente na carreira literária da autora, mas que não o é.
A palavra de ordem do segundo livro de Campilho parece ser “histórias”. É esse o subtítulo do volume, e é assim que a autora o apresenta nas poucas entrevistas entretanto concedidas até agora e na “Apresentação: “Este é um livro de histórias”, começa por dizer. Estas histórias podem estar “presentes num desenho, numa prece, às vezes podem ser só contadas através de um aceno”, refere a sinopse; podem surgir de uma memória de uma infância distante ou de um evento histórico; do frio que se faz sentir durante o inverno minhoto e de outras paisagens portuguesas ou estrangeiras.
Esta multitude de visões e formas de estar na vida é a grande novidade em relação a Jóquei — em Flecha, Campilho não se deixou prender pelo presente ou por um único lugar, mas por vários tempos e regiões. Há, por isso, um maior sentido de universalidade, que o abandono do português do Brasil, inevitavelmente vinculado a uma região específica do globo, ajuda a acentuar. Esta universalidade é necessariamente falsa. Tratando-se de um trabalho de ficção, nem poderia ser de outra forma — é um espelho os interesses da autora e não da realidade do mundo real. Isso é bastante evidente nas repetições que vão surgindo. A Grécia é uma delas. Não a Grécia moderna, como talvez seria de esperar, mas a antiga, a de Homero e a dos grandes dramaturgos atenienses.
Flecha está carregado de referências à literatura clássica. Uma das histórias narradas é, por exemplo, a de Ésquilo, que morreu devido a uma carapaça de tartaruga “arremessada por uma águia contra a sua cabeça”; outra é a de Antígona (imortalizada por Sófocles na tragédia com o mesmo nome), “uma mulher, sem nenhum vestígio de medo no olhar”, que, descreve Campilho, “atira um punhado de pó seco para cima do corpo morto de seu irmão”. A unir todas estas narrativas, gregas e não só, está a flecha, metáfora de ligação que Campilho começa por explicar na “Apresentação” e que tenta justificar no “Dardo ou flecha de Despedida”, um texto teórico que não parece encaixar no restante volume, sem o conseguir.
Este pretenso retrato do mundo e da importância que as histórias têm nele tem as suas falhas. Desde logo, em termos literários. Pouca evolução parece ter havido desde Jóquei. É certo que a autora não publicava nenhum livro desde 2014, mas também é certo que passou demasiado tempo desde então. A biografia de Campilho divulgada pela Tinta-da-China deixa claro que a escritora não parou de escrever (“publicou textos em diversas revistas nacionais e internacionais”, conta a editora enumerando algumas delas), e a própria admitiu numa entrevista recente que a escrita faz parte do seu dia a dia. Como se explica então a sua cristalização? Seria bom sentir uma continuidade em Flecha se o livro tivesse sido publicado dois anos depois de Jóquei; seis anos volvidos, a reação só pode ser outra.
As histórias contadas por Campilho são, na sua essência, fragmentos de vida. Estes são narrados com uma banalidade tal que qualquer espetacularidade se afunda na areia. Em Jóquei, a beleza das coisas comuns era a base da maioria dos poemas e uma das razões para a sua tão grande popularidade; em Flecha, também o pretende ser, mas os textos estão tão carregados de banalidade — não nas ações das personagens, mas na forma como estas são descritas — que o leitor cai inevitavelmente na monotonia da vida sem graça que Campilho não quer descrever mas que acaba por descrever. O mecanismo literário que teve tanto sucesso em Jóquer falha redondamente em Flecha e gera até situações constrangedoras — a guerra é várias vezes apresentada por meio de floreados e a pobreza mascarada por uma descrição pretensamente poética de uma criança que cose sapatos.
O tamanho também é um problema. Reduzir os textos a menos de uma página permite controlar mais facilmente a palavra escrita (há menos material para trabalhar), mas multiplicá-los por 100 faz com que o leitor se perca numa interminável sucessão de narrativas a que faltam uma conclusão. Ao fim de dezenas e dezenas de histórias, quem leu Flecha dificilmente saberá o que leu. Afinal, estas histórias são a história do quê? Algum consolo poderá ser encontrado pelos fãs da autora nas histórias curtas. Algumas lembram a tradição japonesa do haiku, por exemplo, “Sozinha no pátio, a meio da noite, uma mulher tempera o faisão com bagas de zimbro”; ou “Um cachecol branco de caxemira está enrolado num cabide há pelo menos oito meses”. São esses textos, que resumem um episódio em apenas algumas palavras, as melhores passagens do livro.
O livro, e Campilho admitiu-o em entrevista à Agência Lusa, está meticulosamente organizado. Tudo parece estar onde a autora quis que estivesse, mas é difícil perceber o objetivo. Depois de uma breve introdução em que se diz que Flecha é “um livro de histórias”, o volume encerra com um “Dardo ou flecha despedida” que chama a atenção para a importância das histórias na longa história da humanidade. É verdade que “entre o sono e a vida, um dia de cada vez, caminhando sobre a caruma, vamos escutando e contando as histórias. Uns aos outros, a nós mesmos, e àqueles que vêm depois de nós”, mas só as boas, as importantes, é que ficam, sobrevivendo à passagem do tempo. Foi assim com as histórias de Antígona ou Agamémnon. Não será assim com este livro de Matilde Campilho.