Título: O sítio de lugar nenhum
Autor: Norberto Morais
Editora: Relógio d’Água
Preço: 18€
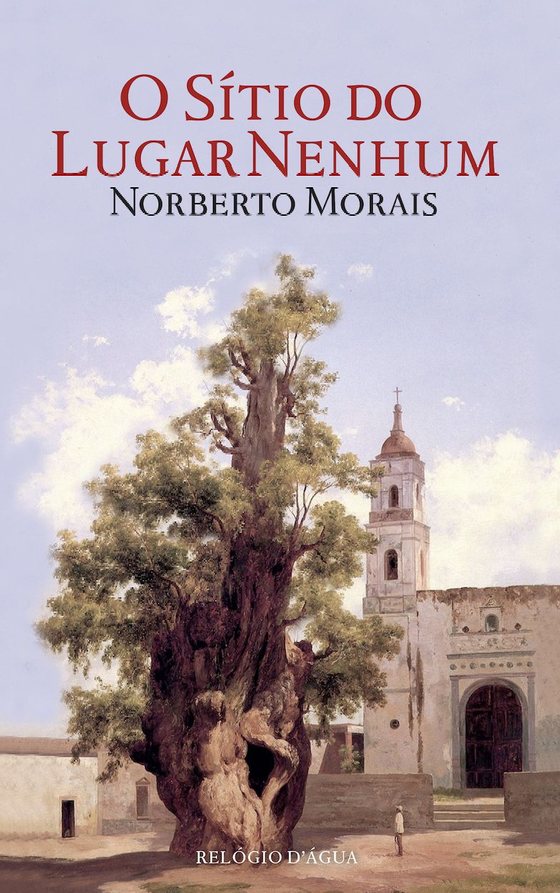
Partindo da tradição estética oitocentista, poderíamos julgar que haveria nesta obra algum exercício estético que tivesse algum propósito. Mas não, o autor apresentou-nos um pastiche sem subversão e sem inovação. A sua prosa imita o pior que tem a tradição do século XIX, cheio de manias de época. O autor tem vontade de dizer e de criar uma constelação narrativa, e é certo que, desse ponto de vista, atingiu alguma complexidade. Contudo, a sua capacidade de criar um universo não lhe permitiu, ao estar lá dentro, adentrar-se na vida da gente que criou.
Nota-se que o autor dedicou tempo ao romance, mas não parece ter perdido um segundo a questioná-lo. Assim, ao longo de toda a obra, vê-se que, partindo da referida tradição literária e não chegando a lado algum, quis também participar dessa tradição velha da literatura que é fazer das mulheres paisagem. Em o remorso de baltazar serapião (2006), Valter Hugo Mãe mostrou a bizarria machista. Norberto Morais optou por romantizá-la. Seguiu pelo atalho de descrever sem se imiscuir, e ao fazê-lo imiscuiu-se da pior forma, porque não compreendeu que vinculou uma visão, disfarçando-a de realidade nua. É incrível que se fale tantas vezes de “autoria feminina” como se se tratasse de visões femininas na literatura, ou como se houvesse uma forma de ver ou pensar comum a todas as mulheres, mas quando temos estes exemplos que se somam a outros exemplos de homens que escrevem para homens e sobre a visão dos homens, sem nunca a questionarem, ninguém tenta reduzir a prosa ao sub-epíteto redutor de “literatura masculina”.
Em termos de escrita, a opção permanente foi a de complicar o que é simples. Não fazendo por menos, o livro começa com uma frase com dez vírgulas. A partir daí, começam as inversões irritantes, aliadas a duplas adjectivações que poluem o texto. Dois exemplos: “único e rectangular edifício” (p. 11); “estreito e ziguezagueante caminho” (p. 13). A prosa é enrolada e mastigada, as tentativas permanentes de explicar tudo ao pormenor não fazem mais do que moer:
“Atrás dos homenageados, os homens da aldeia: os mais velhos primeiro, os mais novos, a seguir. Atrás dos homens mais novos, os rapazes mais velhos: os que seriam homens daí a um ano, se desgraça não houvesse, e atrás destes, os que o haveriam de ser um dia. Atrás dos rapazes mais novos, as crianças do mesmo género, todas ao monte, aos pulos e aos puxões” (p. 23)
Ninguém aguenta uma coisa destas e o romance é longo. Para dizer que estava sol, o autor escreve frases como “O astro aprumava-se na abóbada do céu” (p. 131) ou “Um Sol radioso abrilhantava finalmente a manhã de todas as manhãs” (p. 183).
O exagerado aprumo que Norberto Morais pôs na constituição das frases parece ter ficado totalmente à margem na hora de criar as personagens femininas. Logo de início, fica marcado o tom, e o autor nunca vai além da caricatura, nunca consegue ultrapassar um milímetro o seu olhar vincadamente masculino.
As prostitutas aparecem para maquilhar o texto e, para além de serem mulheres de enfeite, são maternais com os clientes:
“(…) e o dinheiro, pouco que havia, servia para os homens pagarem os serviços do corpo às meninas que perdoam tudo, e para as mulheres pagarem os serviços da alma ao senhor padre que não perdoa coisíssima nenhuma” (p. 14)
Afinal, para que é que se poriam mulheres numa narrativa para serem mais do que a redenção dos homens, recipientes das suas mágoas? Ao longo de 355 páginas, as mulheres são buracos que legitimam e reafirmam a virilidade alheia, daí que existam na narrativa consoante os seus atributos físicos, que lhes são avaliados permanentemente.
Norberto Morais opta pelo insulto gratuito e por reduzir gente à condição do que faz para ganhar dinheiro, mas só o faz se essa gente produzir muito estrogénio, daí que se permita escrever coisas como “mais anos de puta que de mulher” (p. 29). Percebe-se que essa violência possa querer ter o efeito de transportar os leitores para a altura da acção, mas olhar para o passado com os olhos de quem dominou o passado tem um efeito nulo, e ainda faz com que o autor falhe no propósito principal da literatura: chegar ao outro, entender o outro, pôr o outro no centro da narrativa, fazê-lo humano.
Neste livro, os homens fazem-se homens nos corpos das mulheres. Essa é a expressão usada e elas são o instrumento que lhes marca a virilidade, a única função delas. As mulheres não existem para serem gente, existem para que a virilidade exista.
O autor continua a empreitada e escarafuncha o que já se entendeu há muito: “As mulheres ocupavam-se de outros afazeres, que por alguma razão haviam nascido mulheres” (p. 29). Esta banalidade repetida, sem qualquer sentido crítico, faz com que a relação de empatia por parte do leitor falhe desastrosamente. É que o autor, não questionando, não desconstrói – e, consequentemente, não constrói. Mantém-se até ao fim, de mão firme, no seu pastiche de cimento.
Pelo caminho, romantiza a prostituição: a prostituta é um lugar para fazer bem ao ego de um homem e ainda por cima tem sempre amor para dar. Torna-se constrangedora a forma como esta escrita masculina se revela e como tenta passar incólume porque só repete a tradição. O problema maior ainda é isto ter sido publicado pela primeira vez no século XXI, altura em que já percebemos que as mulheres também são pessoas.
E, sendo pessoas, podem ser mais do aquilo que o autor faz delas. No livro, são bonitas ou feias, porque são corpos. Os homens são só homens, porque são gente, não cabe olhá-los no seu potencial erótico, muito menos objectificá-los. As mulheres são permanentemente passivas, os homens permanentemente activos. A elas, cabe ser olhadas; a eles, olhar. Eles são bisontes em fúria erótica, elas paisagem. Eles falam, elas recebem. Eles amam, elas são amadas. Mais uma vez, no século XXI, já todos entendemos que as mulheres também têm olhos, e percebemos também que sempre os tiveram. O autor não se lembrou disto e rejeitou a sua componente psicológicas. As mulheres são anexos e buracos, e levam com comentários como “talvez nem um cego lhe tivesse pegado”. De um homem feio, nada se dirá.
Pelo meio, há descrições de sexo ingénuas, em que “corpos e almas” ficam “indistinguíveis, inapartáveis, inimagináveis”, ele é “o mar imenso num vaivém salgado”, ela é “a quente e húmida areia da praia” (p. 57). No final, ela fica prenha e não grávida, porque não se podia perder a oportunidade de se animalizar uma fêmea.
Nas relações a dois, as mulheres nem chegam a amantes, são criadas descerebradas, fascinadas e felizes com a sua condição subserviente, sempre unidimensionais e à espera da atenção e da salvação do macho. Os homens são descritos como indivíduos, as mulheres são descritas pela sua relação com eles. A subserviência é apresentada como uma coisa boa: “poetisa, pintora, pianista, boa esposa, óptima mãe, bonita para a época e infeliz, como não podia deixar de ser” (p. 101). A uma mulher que trai, chama-se “mulher adúltera” (p. 181). Já um homem nunca precisa de etiqueta.
O autor poderá ter julgado que, se o passado era assim, teria de ser reproduzido como tal. Se as mulheres não gozavam de plena cidadania, podiam ser referidas na narrativa como coisas alugadas (“alugou uma prostituta”, “jogar, beber e alugar umas coxas”), e portanto o pastiche continuou até ao fim: as mulheres são humilhadas porque essa é a tradição. Os homens, por sua vez, nunca são ridicularizados. Pelo contrário, são sempre machos estóicos que se cumprem nos corpos delas.
Ao optar-se pelo pastiche, impediu-se a literatura de ser uma forma de questionar ou de explicar. Foi-se pelo caminho fácil e indigno. Repare-se nesta passagem notável, que por si só é uma filosofia de mundo:
“Das cinco mulheres, apenas uma o era verdadeiramente de alguém (…) Três eram prostitutas: Roraima, Yraima e Maria Cármen – mulheres, sim, de ninguém e de toda a gente.” (p. 227)
Passando à frente da condição de mulher-objecto, invólucro de nada, porque com 227 páginas em cima de vários séculos já lá chegámos todos, repare-se naquele “gente”. São gente porque são homens. Não lembraria a ninguém dizer que toda a gente tem útero; o que espanta é que este masculino neutro não tenha sido questionado.
Pouco mais adiante, podemos ler: “Poderá dar a ideia de que a maior classe trabalhadora do país era a das prostitutas, mas não.” (p. 227). Ora, se se assume que as prostitutas constituem uma classe trabalhadora, então talvez seja conveniente que se deixe de assumir que são “de toda a gente” (= dos homens).
No meio disto, o autor insiste em chamar amor ao sexo. Há uma “mulher condenada à sua condição de aluguer” (p. 289) e há “homens que ensinara desde rapazes a amar” (p. 289). Tendo em conta que estas mulheres são apresentadas tão-só e apenas como coisas alugadas, chamar amor ao que fazem é uma extrapolação valente.
Pelo meio, fica difícil aguentar a pretensão semântica da obra, que atinge o cume quando o autor escarrapacha meio dicionário para descrever sons feitos por animais:
“O ensurdecedor coaxar das rãs, o estridulante zangarreio das cigarras, o chirriante cricrilar dos grilos e o zumbido de fundo de uns quaisquer insectos alados abafavam por completo o restolhar das folhas e ervas secas que se iam quebrando sob o caminhar tacteante do jovem médico.” (p. 71)
Como pontos positivos, há que dar destaque ao facto de o autor não ter cedido à fórmula básica, e de se ter lançado ao empreendimento de construir um lugar, de fazer várias personagens, de estabelecer ligações entre elas. É uma postura incomum perante a literatura na produção coetânea em Portugal e esta complexidade deve ser valorizada, parecendo um bom ponto de partida para obras posteriores (relembre-se que a primeira edição deste livro data de 2008).
De resto, a prosa é tão repetitiva que mastiga, mói e perde o efeito. O autor perdeu-se algures no caminho, terá confundido anacrónico com intemporal. Não entendeu que fingir que não se tem um ponto de vista é já um ponto de vista. É certo que tem capacidades para desenvolver uma história, mas opta por fazê-lo através de robots sexualizados, olhando para o passado com os olhos do passado. Sem sentido crítico, pastiche de uma realidade qualquer, Norberto Morais ofereceu-nos o pior que a literatura masculina tem para dar.

















