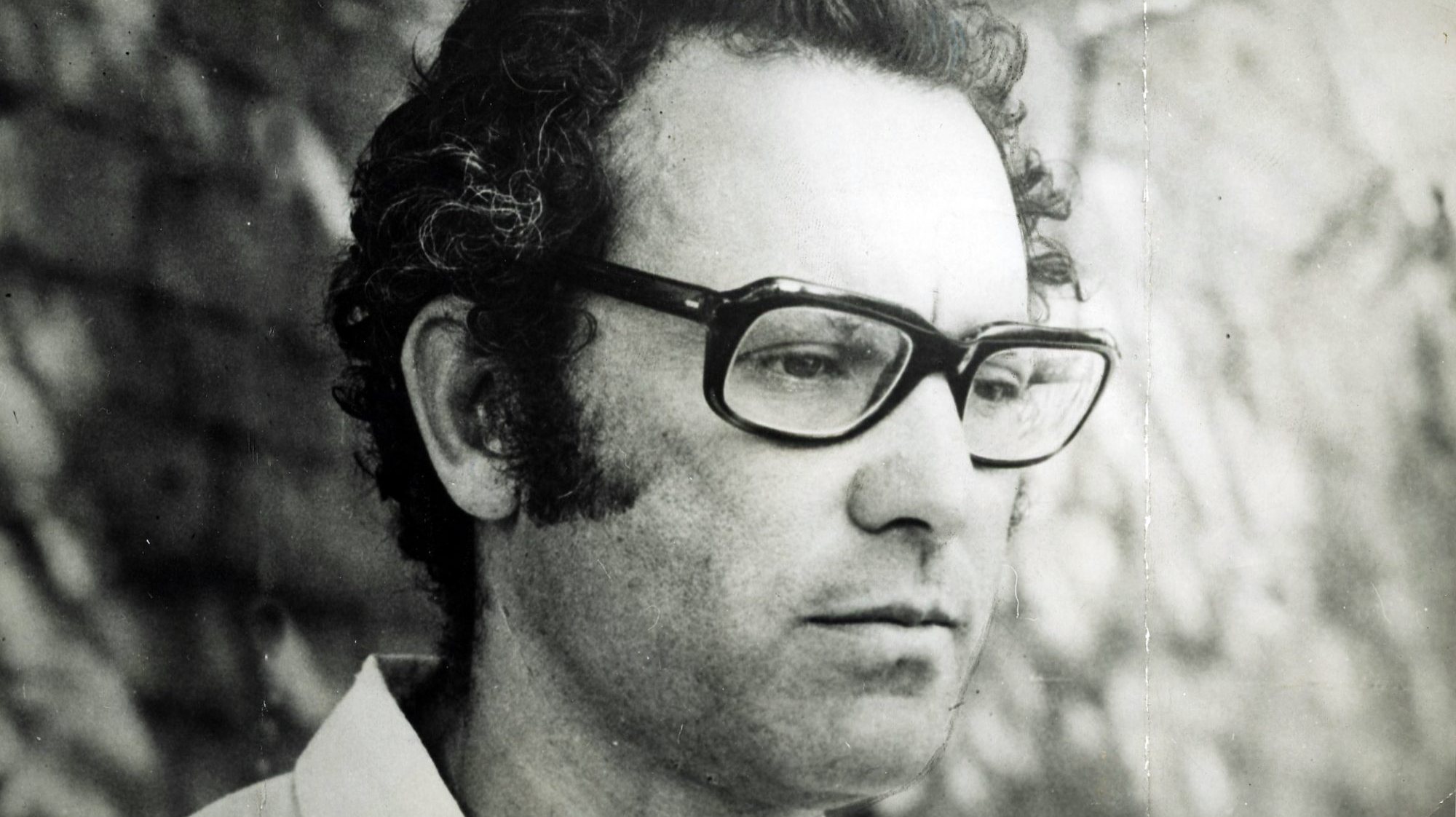“Degelo”, Inez Teixeira
Fundação Carmona e Costa, Lisboa, até 21 de maio

De que forma é o degelo? Que cor tem? E que espessura? Como se manifesta fisicamente? As perguntas vão e vêm assim que se entra na primeira sala da exposição. Nas paredes, os acrílicos sobre papel de grandes dimensões respondem em uníssono, são eles a encarnação dessa natureza que desaba e que escorre de tinta, quadrado abaixo, de cor variada. Esteticamente, a interpelação é grande, qual essência da criação. E assim continua entre aquelas pinturas desenhadas e o desenho que se segue, nas outras salas, espécie de ensinamento num momento de aprendizagem que vem de 1989 até 2021. Simples traço emaranhado cresce em assertividade e torna-se sombra, depois forma e vida. Enredado, confuso, define-se pouco a pouco até ganhar volume, ou passar de vulto a corpo. À procura, sempre à procura de saber como se faz o desenho, qual é a origem da vida. E é no regresso ao início que se acalma o olhar outra vez, serenado e sem indagar do que se trata, mergulha ténue naquela água que vem do gelo que derrete desde a primordial vigilância, noturna, diurna, tanto faz.
“Lusque-Fusque Arrebol”, João Maria Gusmão
Galeria Cristina Guerra, Lisboa, até 9 de abril

O cinema é o ponto de partida da mostra individual de João Maria Gusmão. Sétima arte ou não, a sua evocação leva o artista a mostrar escultura (bronze), fotografia, e projeção, pegando nas formas que associamos ao cinema, quer ao ecrã, quer à máquina de filmar e/ou fotografar e o seu projetor. Numa galeria fragmentada em planos, avançamos por entre variações de imagem, que se multiplicam num diálogo cerrado com os bronzes, que contrastam em peso e leveza. No entanto, o mistério desta mostra reside num chamamento claro da forma e na sua interlocução com a sombra e, depois, também com a cor. E é nesse apelo à forma da imagem que está o processo alquímico de que o artista quer falar: “a origem mnemónica e espectral da imagem em movimento”.
“Partitura #5”, Luisa Cunha
Appleton Square, Lisboa, até 26 de março

Quer a artista ater-nos a um leitura simples e una da sua obra. Operários, numa construção algures por aí, falam entre si com o ruído das máquinas por detrás. No entanto, não é esse prenúncio que fazemos ao entrar naquele White Cube só corrompido por uma volumosa coluna de som. Ali, há um corpo que ruge e nos agride quanto mais nos aproximamos dele. Agride e vibra, qual animal, essência natural, mar ou vento, numa cadência violenta. O que se gera naquela sala branca, despida de tudo, é um confronto monumental entre nós e o outro, entre nós e uma entidade ainda maior do que nós, coisa rara em tempos de individualismos narcísicos. Um confronto que nos abala como um queixume permanente numa revolta que se afirma e agiganta pelo volume do som, rugido que brame alto, num contraponto com o silêncio em volta, desafio irónico à nossa pequenez. Objeto de atração, o som que Luisa Cunha quer que escutemos, é ferida de cada um, esmagada contra a parede, sem pernas para andar, convocada para ficar. Até.