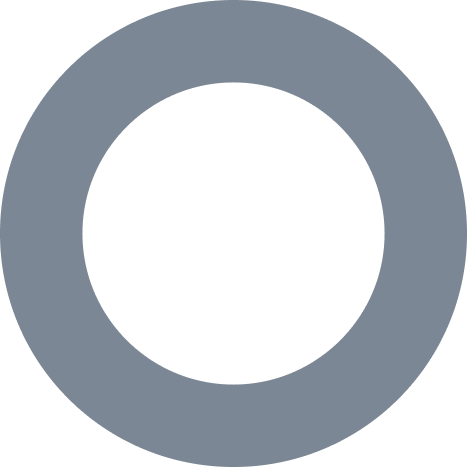Este artigo foi originalmente publicada no
6.º número da revista DdD – Dê de Delta.
Entrevista: Rita Nabeiro
Retratos: Manuel Manso
Olá, Joana. Obrigado por teres aceitado o convite da DdD e por nos receberes aqui no teu estúdio, onde tudo acontece. E não é fácil definir tudo o que aqui acontece com uma só palavra. Porque fazes design, fazes arquitetura, fazes arte, fazes uma mistura de tudo isso e tu própria és uma mistura de genes e de influências. Só que, apesar de não ser fácil definir-te, é fácil identificar o teu trabalho que tem uma linguagem muito própria, transversal às marcas com que trabalhas. Como é que essa linguagem se foi construindo?
Então, isto já são muitos anos de história. O meu pai é arquiteto e a minha mãe tinha uma galeria de arte. Portanto, eu já nasci neste meio, neste hub criativo, com muitos inputs. Sou filha única e sempre que saía da escola, ia para a galeria da minha mãe, brincava com os artistas, conversava com eles, estava sempre com gente mais velha. E no ateliê do meu pai estava sempre divertida a fazer maquetes, etc. A nossa casa estava sempre com muita gente. O meu pai, sendo carioca, aos fins de semana havia churrascos, bossa-nova, sempre assim um buzz muito bom com gente de todo o mundo – o meu pai viajou também muito e viveu e trabalhou fora. Sabia que a arte era o meu playground desde pequena. E fui seguindo, até que chegou uma altura em que tinha de decidir o que é que queria estudar. Foi a primeira vez que tive uma conversa séria com o meu pai. Tinha para aí 14 ou 15 anos e ele disse-me: “Joana, se a tua paixão é igual para a arquitetura e para a arte, então eu dou-te um conselho: segue arquitetura, para teres uma base, porque a arte já está dentro de ti; portanto, tu artista já és por natureza.”
Nem nunca te passou pela cabeça seguir outro rumo que não fosse o artístico?
Não, nunca.
Misturas o design e a arquitetura, mas sentes que alguma destas disciplinas tem uma preponderância maior sobre a outra?
Eu digo sempre que a arte é o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada. É a minha salvação. A minha inspiração. É onde eu sonho muito alto. A arquitetura é mais o lado estrutural da minha vida. Eu tenho uma relação amor-ódio com a arquitetura. E escolhi já uma via que é mais ligada aos pormenores e à parte toda do recheio dos espaços, da pele dos espaços, que é a arquitetura de interiores. Isso para mim ficou claro, durante o curso, que eu queria ir para aí. O meu pai já era outra história: aeroportos, habitação social, hospitais, fábricas, coisas que jamais…
Mas se calhar numa fábrica desenhada por ti dava muito mais prazer trabalhar.
Quem sabe, não se pode dizer jamais. Mas então pronto, é um balanço. E depois no meio, entre a arquitetura e a arte, há mil coisas que eu fui absorvendo: o design gráfico, o design de produto, a ilustração. E o design, em geral, que está muito ali: às vezes puxa mais para a arte, outras vezes mais para a arquitetura, anda muito ali no meio.
É como se fosse uma cola.
Sim. Isto basicamente é desenhar de uma caixa de fósforos até uma fábrica. É só uma questão de escalas. Mas é preciso ter esse tato, essa sensibilidade, para trabalhar as diversas escalas.

Rita Nabeiro entrevistou Joana Astolfi no seu studio, no Bairro Alto, em Lisboa.
Herberto Helder escreveu que o estilo é um modo subtil de transferir a confusão e a violência da vida para o plano mental de uma unidade de significação. Sentes que esta frase se podia aplicar às tuas obras? Sentes que já criaste um estilo Astolfi?
Às vezes, os meus amigos dizem: “Joana, este espaço está a precisar aqui de uma astolfada.” Até já se criou esse nome, de que eu me rio imenso: uma astolfada. O Herberto tocou na tecla aí, porque é uma criação de uma linguagem, de um modus operandi, de um estilo. Eu gostava muito que a nossa linguagem, o nome Astolfi dentro deste contexto de trabalhar espaços, objetos e arte, ficasse ad eternum. Adorava. Era a melhor coisa que eu podia deixar e é isso que estou a tentar. É a forma de fazer. Não é só a força da ideia, a narrativa. Nós contamos histórias com espaços e intervenções de arte. Mas depois é a forma de executar, a capacidade de esse sonho ir bem longe. Trabalhamos muito fora da caixa, o rigor com que executamos, a atenção ao pormenor. É um bocadinho obsessivo? É. É tudo tailor made, tudo ao pormenor. E isso dá muito trabalho, muito suor, muita lágrima, não é fácil.
E não sentes que, de alguma maneira, por estares a tentar criar esse tal estilo, ele possa tentar ser copiado? Como é que reages a isso e tentas reinventar-te?
Acontece, mas eu também me inspiro noutros. O Picasso disse “good artists copy, great artists steal”. Os criativos estão sempre a roubar ideias uns dos outros. O grande twist é: de que forma é que conseguem transformar essa ideia? É a adaptação: pegamos numa coisa, mas damos-lhe um twist conceptual e a coisa transforma-se noutra. Agora, copiar só por copiar, acho isso muito boring e desinteressante. Eu jamais faria isso. E às vezes fazem, realmente já fizeram connosco.
E a quem é que tu vais roubar as ideias?
Isto são ondas. Às vezes estou mais ligada a uns, depois aparecem outros.
Mas há alguma referência que tenhas? Na arquitetura, na arte, ou mesmo fora desses universos?
Eu gosto de artistas que contam histórias. Como a Sophie Calle, uma artista francesa, de sessenta e tal anos. Ela, por exemplo, encontra uma agenda telefónica perdida na rua e vai fazer todo o um projeto à volta da pessoa que perdeu essa agenda. Liga para todas as pessoas da lista, conhece o mundo todo dessa pessoa e depois cria uma obra linda, de fotografias e de telefonemas. É muito interessante o trabalho dela. Gosto desse tipo de trabalho porque, lá está, é o storytelling, é o process.

“Sou muito intensa e acelerada; acho que com a idade vou conseguir começar a serenar, mas não estou com vontade que isso aconteça já.”
Tu também acabas por ser uma contadora de histórias com o teu trabalho. Se calhar é assim que te podes começar a identificar.
Sim, só que eu manifesto-me através de espaços e objetos. Na arquitetura, apesar de estar ligada à arquitetura de interiores, inspiro-me muito nos mestres: no Frank Lloyd Wright, no Mies, no Sérgio Rodrigues – gosto muito da arquitetura do Brasil, tropical, o uso da madeira, plantas, betão, gosto muito. No mundo da arquitetura de interiores, inspiro-me muito em Paris. Porque acabo por ir lá muito por causa da Hermès e vejo e entro em muita coisa: restaurantes, hotéis, etc. Eles sabem fazer espaços como ninguém. Ali já há uma brincadeira diferente de revestimentos, um cruzamento de materiais que é mais maximalista, que tem mais audácia, arrisca mais, em que eu também me fui inspirando. O trabalho, por exemplo, da Annabell Kutucu que fez a Casa Cook e uma série de hotéis. Interessa-me esse tipo de mix de materiais e como é que a iluminação trabalha com tudo isto, que é muito importante dentro de espaços para perceber o ambiente. Tudo passa por muitas camadas. Também gosto muito do Studio KO, fizeram o museu do Yves Saint Laurent em Marraquexe.
É engraçado porque falas de coisas que são mais minimalistas até ao outro extremo.
Completamente. Inspiro-me em muitas coisas. Não só arte e arquitetura. Por exemplo, cestaria, cerâmica, tantas artes que eu adoro. A arte do fazer com as mãos. A partir dali, de um objeto pequenino, às vezes inspiro-me naquilo para o trabalho dentro de um espaço em arquitetura. Eu acho que tudo cruza, mesmo. E a inspiração vem de muita coisa, não é? Vem de muitos pormenores. Estou sempre como que a scannar um pouco quando ando na rua, quando entro nos espaços. E a registar nos livrinhos. Fotografar. Acho que é muito exigente ser artista no mundo de hoje. Há muita coisa a acontecer, há muita gente neste playground das artes e da arquitetura. E tu tens que realmente… there has to be something unique. E esse unique é difícil de criar. E depois há outra palavra importante que é coerência. Porque quando tu dizes que gostas de um arquiteto não é porque fez um ou dois projetos bons e depois fez três maus e depois fez outro bom. Não. É por todo esse timeline de projetos, de 40, 50, 60 anos de bons projetos. E isso é que é muito difícil de conseguir.
E achas que essa coerência e consistência contribuíram, por exemplo, para que aquilo que começou com uma colaboração com a Hermès escalasse para o que tens hoje?
Essa coerência é fundamental. Muita gente, quando é um projeto fora da caixa, diz “vamos chamar a Joana Astolfi”. Mas também chamam porque sabem que nós somos profissionais, que vamos entregar, vamos cumprir deadlines, ser rigorosos, etc. Porque toda a gente sabe que eu sou meio louca. Mas depois quando tu crias uma estrutura, uma equipa, um estúdio em que todo o trabalho que vai saindo para a rua, em Lisboa e fora de Lisboa, uma pessoa entra e diz “isto de certeza que é da Joana Astolfi” começas a identificar uma linguagem e uma forma de fazer, não é? E um rigor. E aí surge essa coerência. E é isso que te dá credibilidade.
E dá-te orgulho seres uma portuguesa que está a trabalhar com uma casa de tanto prestígio como a Hermès?
Na Hermès foi uma história bonita. Eu via as montras e deliciava-me com as montras. Nunca tinha feito uma montra na vida – e pensava: “Mas isto é maravilhoso, isto é a minha cara, isto é mise en scène, teatral, trabalhar com objetos, expor produtos.” Um dia entrei, pedi para falar com a diretora da loja e ela disse-me que estavam a fazer um concurso porque iam precisar de um novo designer. Enviei-lhe o meu portefólio, convidaram-me para fazer uma montra e fiquei até hoje. São oito anos. Cada ano há um tema, nós respondemos ao tema e é um trabalho muito exigente: a Hermès puxa muito por nós. Envias proposta criativa, volta, vai, volta, vai. E depois é a velha história: tens de estar sempre a superar-te. Como fazes a mesma montra durante oito anos, é uma loucura.
Há um provérbio que diz que o lixo de uns é o tesouro de outros. Tu há 15 anos já dizias que querias fazer do lixo luxo. Na altura, era apenas uma provocação ou já tinhas em ti uma preocupação com a sustentabilidade?
Sempre gostei de objetos, de os transformar e de lhes dar uma segunda vida. Isso também é sustentabilidade: dar uma segunda vida a objetos obsoletos e a espaços obsoletos. Gosto mil vezes mais de trabalhar com um espaço que já existe e que está deteriorado do que entrar num terreno vazio para fazer uma casa de raiz. Isso a mim não me dá gozo nenhum. Agora num palacete degradado, numa fábrica antiga, numa casa… Portanto, sim, partiu da vontade de dar uma segunda vida. Mas também de usar material de forma a não ter desperdício. Sempre gostei de brinquedos em segunda mão, das memórias que cada objeto tem. Tu pegas num objeto e lembras-te de onde estiveste, do cheiro, de tudo.
- A vitrina de memórias que Joana Astolfi guarda na sua casa.
Para alguém que abraça constantemente a mudança, os objetos com memória, como lhes chamas, têm uma importância acrescida. Como é que te tornaste uma colecionadora de objetos?
Também vem desde pequenina. Fazia coleção de tudo: de lápis, de papéis, de brinquedos em metal, chapa, conchas. Colecionava tudo. Gosto dessa ideia da repetição, de ver uma coisa repetida com alguma variação. E a organização das coisas, de forma milimétrica; às vezes não milimétrica, mas mesmo o que está desfasado é propositado. A beleza do erro, o erro que foi pensado. É um paradoxo, mas gosto disso: de imperfeições, assimetrias.
E há algum objeto que destaques?
Tenho muita coisa. Tenho uma vitrina em casa que é uma vitrina de memórias de uma farmácia antiga, e está cheia de objetos pequeninos que são quase amuletos que trago de sítios onde estou, que recebo de pessoas que me dão. Tenho lá o anel que o meu pai deu à minha mãe quando a pediu em casamento, tenho o cordão umbilical da Duna, a minha filha, tenho pedras que trouxe de vários sítios, tenho cartas de amor de pessoas que nunca conheci, tenho passarinhos embalsamados, binóculos, piões – adoro piões. Realmente é muito difícil destacar uma coisa.
Dizes que em Lisboa te inspira o cheiro das padarias, o ambiente nas ruas. Sentes que, se estivesses a viver noutra cidade, a forma como materializas os teus projetos seria diferente?
Lisboa é uma base perfeita para mim. Demorei algum tempo a voltar, mas não queria viver noutro sítio neste momento. Deu uma virada grande culturalmente nos últimos cinco anos, estou muito contente com essa virada, para mim foi muito bom. E tem um ritmo… Não sou nada workaholic. Adoro o que faço e estou sempre em modo trabalho, tudo passa pelo mesmo filtro: eu, a minha família, o meu mundo emocional, o meu trabalho – tudo está interligado, não divido umas coisas das outras. Mas não sou workaholic: gosto de parar ao final da tarde, de beber um copo com um amigo, de me sentar e não fazer nada. E posso fazer isso em Lisboa; em Londres não consigo fazer isso, por exemplo. Portanto, é o sítio certo para mim. No meu trabalho, cada vez mais procuro a portugalidade. Há muita arte, o artesanato está cada vez mais presente no meu trabalho, mesmo na arquitetura. E tento ressuscitar o património que temos na área do artesanato, que merece muito mais atenção. Por isso, sim, inspiro-me muito aqui, é um país de memórias, nostálgico. E eu trago em mim bocadinhos de outros países, então isto é uma mistura. Trago um bocadinho de Inglaterra, de Itália, do Brasil. Mesmo assim, gostava de ver em Portugal, na arte e na arquitetura, sonhar-se mais alto e arriscar-se mais. Há exceções e há muito talento, mas às vezes sinto que há pouca proatividade, pouca garra. As pessoas acomodam-se muito e quando me falam na história da sorte… “Tiveste muita sorte.” Não existe sorte. Isto é paixão pelo que fazes, muito trabalho e acreditares no teu sonho, ir em frente. E toda a gente pode. Toda a gente tem os ingredientes. Alguns tiveram uma vida mais privilegiada que outros, claro, mas acho que toda a gente pode encontrar a sua vocação e disparar na vida. Acredito piamente nisso.
Sentes que algum desses locais onde viveste te aportou algum tipo de aprendizagem mais específica?
Sem dúvida. Eu fui para a Alemanha porque tinha de ganhar disciplina e perceber mais sobre construção e estruturas. Foi no meu terceiro ano do curso. Disse ao meu pai: “Eu vou, mas volto, não pensem que vou ficar a viver na Alemanha.” Mas depois percebi que na Baviera o pessoal é muito quente, então fiz amigos para a vida. E ganhei essa disciplina no ateliê onde trabalhei. Trabalhava muito com desenho técnico, a base das estruturas. Depois, a minha vivência em Itália foi exatamente o oposto disso, foi na FABRICA [o Centro de Pesquisa Criativa da Benetton], um think tank criativo muito imersivo: 60 malucos, jovens, a criar 12 horas por dia. Tudo era possível. E a ideia era: quanto mais alto o sonho melhor. Na FABRICA foi esgotante, mas de uma forma boa. E em Inglaterra aprendi o sentido de humor, como é que eles funcionam, a organização deles, a capacidade de se rirem deles próprios, uma coisa que falta muito em Portugal, o pessoal leva-se muito a sério. Portanto, cada país teve o seu papel no meu percurso, na minha linguagem, que hoje é uma fusão de todas estas experiências. É já uma bagagem, uma mala de vida grande. Quando eu voltei da FABRICA, lembro-me de que as pessoas, nas entrevistas, perguntavam: “Joana, mas você é arquiteta, é designer, é artista?” E eu dizia: “Para mim isso é irrelevante, eu sou uma fusão dessas disciplinas todas e estou a criar uma linguagem – nessa altura ainda estava – que daqui a alguns anos vão perceber.” E estamos aqui passados 20 anos.
Fazes muitos espaços de restauração e hotelaria. O que é que sentes que ainda falta a muitos destes espaços em Portugal?
É uma grande loucura fazer um restaurante, porque é cada vez mais exigente. As pessoas vão a espaços para viver experiências. Ninguém vai a um restaurante só para comer um bom bacalhau: quer um bom bacalhau mas quer um ambiente aconchegante, uma boa luz, quer um serviço bom, um espaço cromaticamente bem pensado, um tableware bonito. Há muita exigência. Nós desenhamos restaurantes ao milímetro e digo-te que é um exercício louco, louco mesmo. A tua pergunta é muito difícil porque eu não consigo entrar a meio: ou mergulho ou não mergulho… Mas acho que se pode começar por uma limpeza visual, porque muitas vezes há demasiado e é mais difícil saber o que não fazer do que saber o que fazer. Prefiro ver menos, tudo mais limpo e com menos ruído, do que ver muita coisa que não funciona e destrói o espaço.
- Restaurante Belcanto, Lisboa
- André Ópticas Boutique, Lisboa
- Restaurante Cantinho do Avillez, Lisboa
- Museu da Moda e do Têxtil, Porto
- Restaurante Canto, Lisboa
Em relação a projetos, preferes trabalhar com um briefing do cliente ou que ele te dê liberdade total para criares?
As duas fórmulas são boas. Quer dizer… depende dos clientes. Cada projeto é uma solução para um problema, através da arte e da arquitetura. Gosto de um briefing com restrições, acho interessante, são obstáculos que temos que ultrapassar, trabalhar à volta deles, isso gera soluções criativas. O briefing é interessante e na maior parte das vezes é essa a abordagem. De vez em quando, há a carta-branca criativa. “Joana, queremos só que entregues o espaço pronto”, como aconteceu agora no Carvalhal, com a Costa Terra. Eram uns escritórios de uma empresa americana. Fizemos toda a intervenção no interior do espaço: toda a decoração, todo o mobiliário, até a cabeça do cavalo em cerâmica que foi para a parede. Foi uma loucura. É um grande voto de confiança, a responsabilidade é muito grande, mas eu fiz aquilo como se fosse para mim, como se fosse a minha casa. Fiquei muito feliz porque eles amaram. É muito gratificante quando o cliente fica tão satisfeito com a experiência. Porque o espaço é uma experiência. Depois há clientes que interferem muito e, na realidade, não têm bagagem visual para dizer se determinado candeeiro é adequado para ali ou não, porque é puramente uma questão de estética e de gosto. E quando se fala de gosto, fica complicado. Às vezes temos aí uns impasses tramados. Mas em geral acreditam no Studio e chamam-no pela sua linguagem.
Ao longo dos últimos anos, o Studio Astolfi tem vindo a crescer em experiência, em número de pessoas, em visibilidade. Isso exigiu um papel diferente de ti, enquanto gestora?
Fui adquirindo essas competências muito devagarinho, foi um processo muito lento, muito natural. Nunca ambicionei ter um estúdio com praticamente 20 pessoas, com 15 projetos a rolarem em paralelo, com dois departamentos… Nunca. Estava a fazer o meu trabalho, iam-me chamando com desafios diferentes e eu ia respondendo aos desafios, resolvendo problemas criativamente. Nasci para fazer isso, não tenho dúvidas. Realmente foi um processo muito umbilical e isto requer muito de mim, aprender estas competências de gestão. No princípio fazia as minhas continhas de mercearia, até perceber que já não podia ser assim, que tinha que abrir uma empresa. Lembro-me de uma amiga que disse: “Joana, tu vais entrar na máquina e quando entrares, entraste. Vai ser muito diferente. Já não sais da máquina.” Ficou-me até hoje na cabeça porque é mesmo isso. Começámos com dois colaboradores e a estrutura começou a crescer: quanto mais trabalho, maior a equipa. Comecei num barquinho a remos e vou num cruzeiro em alto-mar. Mas à frente do barco ainda estou eu.
Não tens receio de perder o lado criativo?
Isto é uma loucura porque estou a desenhar um lambrim para um espaço, a ver que tipo de papel vamos usar na parede e de repente toca o telefone, corta, e mudo o chip, direto. É um multitasking louco.
Tens algum projeto de sonho?
Gostava de fazer uma igreja. Adorava fazer montras pelo mundo; temos feito algumas com a Hermès, mas gostava de ir mais longe. Gostava de fazer mais hotéis, porque têm tudo: momento de comer, de dormir, de socializar… Estou sempre pronta para desafios, é difícil escolher. Mas sem dúvida gostava de fazer uma igreja, um espaço sagrado. Imagina a loucura que era.
Falas muito na mala da vida. O que é que sentes que já carregas nessa tua mala e o que é que ainda te falta colocar dentro dela?
Nesta mala já carrego uma enciclopédia visual muito grande: vais absorvendo e vai ficando tudo armazenado em gavetinhas; e quando começo um projeto, abrem-se as gavetinhas de acordo com aquele problema que tem que ser resolvido. Acho que alguma maturidade de abraçar o erro, aprender com ele e transformá-lo. A capacidade de sonhar alto, que sempre tive e quero manter até ao último dia da minha vida, espero. A alegria, que também está dentro de mim. A curiosidade. Depois o que ainda tenho que pôr na mala… Estamos sempre a pôr coisas na mala, não é? Alguma serenidade, porque sou muito intensa e acelerada; acho que com a idade vou conseguir começar a serenar, mas não estou com vontade que isso aconteça já. E continuar a trabalhar a disciplina, porque esta loucura tem que ser balizada. Trabalho dentro de um caos organizado: sou muito organizada com os meus desenhos, as minhas coisas, visualmente. Mas depois chego atrasada aos sítios, quase sempre. Tenho perfeita noção de que gosto de desafiar qualquer regra que me ponham à frente, inclusive a pontualidade. Isso eventualmente vou ter que… Ou não. Mas sei que me vai ajudar pelo menos a ter mais paz interior, porque eu estou sempre em cheque comigo própria, sempre a tentar jogar com o baralho fora da regra. Nunca aceito um não, isso é bom, arranjo sempre forma de contornar. Em Portugal há muito não, há muito “não vai dar”. “Não vai dar porquê? Mas vamos lá falar sobre isto.” Consigo sempre chegar ao sim dessa forma, o que é bom. Mas acho que preciso desta disciplina, desta serenidade. Isto vem com o tempo. Mas acho que estou muito feliz com os ingredientes que estão lá dentro agora. Acho que está uma mistura boa.
A mala está meio cheia?
A mala está meio cheia e ainda tenho muito que encher. Ainda tenho muito para aprender e todos os dias são uma aventura.