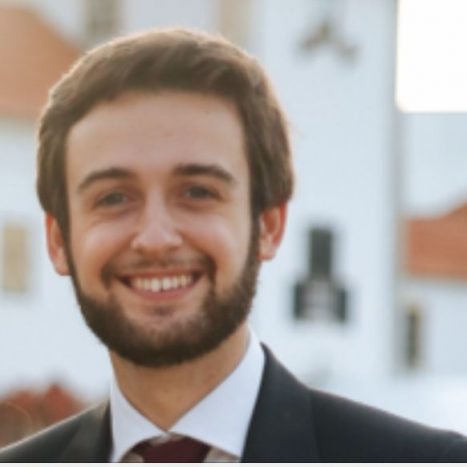Uma dos desafios ao ler autores contemporâneos é a possibilidade de assistir ao desenvolvimento daquilo que, nos livros anteriores, se achava apenas em potência. Fernando Aramburu escreveu, em Pátria, um enorme romance, daqueles que captam uma época ou um ambiente, com a argúcia social que encontramos, não tanto nos Eças e nos Balzac, nos analistas das pequenas misérias da vida comum, mas no Doutor Jivago ou no Leopardo, nos escritores capazes de captar o grande plano e as derivações sociais de um ambiente político.
Há, em Pátria, o romance sobre o peso da ETA no País Basco, sangue, lágrimas, famílias destruídas, fúria, amores estragados e uma alegria própria da tragédia que é difícil de explicar. Neste novo romance de Aramburu, o regresso dos andorinhões, também há sangue, lágrimas, famílias destruídas e tudo o mais quanto se disse; o tom, no entanto, é muito diferente. A voz de Aramburu não muda muito; mas o que num lado é triste, no outro é lamechas, e o que num lado é trágico no outro é quase patético.
Este não é, entendamo-nos, um mau romance: Aramburu tem uma sensibilidade para as relações familiares difíceis que torna especial cada palavra sobre um casal divorciado, a tensão constante, os encontros carregados de uma história magoada, a sensação de um desperdício a que é impossível pôr fim, os subentendidos, as palavras por dizer – tudo aquilo que concilia o romance com a lucidez e com a verdade impede-nos de ver neste um mau romance.
O Regresso dos Andorinhões, contudo, prova que um romance não pode ser feito apenas das suas partes boas. Há uma ideia diretora que contamina tudo aquilo que está escrito e que determina a toada do livro. E, neste caso, a premissa não está à altura do seu desenvolvimento. Há muitos casos de autores que escolhem temas para os quais não têm unhas; com Aramburu passa-se o contrário – usa garras de leão para arranhar sofás e, por muito que admiremos a força de algumas das patadas, é impossível esquecer que o autor teria estofo para mais do que rebentar uns quantos deles.

Título: O Regresso dos Andorinhões
Autor: Fernando Aramburu
Tradução: Cristina Rodriguez e Artur Guerra
Editora: Dom Quixote
Páginas: 808
O enredo em causa é bastante simples: um professor de liceu decide matar-se. Está divorciado, a mãe tem alzheimer, o filho é um tonto, dá-se mal com o irmão, só tem um amigo. Decide matar-se, dissemos, mas não decide bem. Decide decidir no ano seguinte se irá matar-se. Dá a si próprio um ano para preparar o suicídio, para deixar a casa organizada para os vivos, desfazer-se dos pertences, escolher o método, testar a coragem, etc.
Ora, enquanto o livro mostra como é que o pobre professor chegou a este estado, Aramburu expande o seu talento para mostrar as feridas que se criam entre aqueles que se amam. Quando a vida, diante da perspetiva do suicídio e da morte iminente do único amigo, começa a compor-se, entra o lado mais xaroposo de Aramburu. É engraçado notar, voltando ao princípio, que estes dois lados já se encontravam em Pátria. A diferença, no entanto, é que o enredo de Pátria se prestava a esses dois lados e o modo como os enquadrava fazia dos dois qualidades.
Essa diferença no modo como, em dois livros diferentes, percebemos as mesmas características de maneira diferente mostra-nos, assim, duas coisas sobre o regresso de Aramburu: em primeiro lugar, que uma decisão e um facto, uma escolha e uma fatalidade, não têm o mesmo peso. Pode impressionar-nos o suicídio, e pode merecer um tom elegíaco; mas a perspetiva de um suicídio não pede o mesmo tom, sobretudo porque, à compaixão que a vida do professor merece, se junta uma decisão que pode ser mudada. O tom elegíaco exige uma certa noção de fatalidade, no entanto, aqui não há, em momento nenhum, uma fatalidade.
Fernando Aramburu. “A minha memória está cheia de imagens de cadáveres cobertos com um lençol”
O livro escora-se, além disso, numa espécie de descoberta de que é a mortalidade que valoriza a própria vida. Enquanto a perspetiva da morte não está na ordem do dia, a vida do pobre diabo é um inferno; a partir do momento em que a encara com um tom de despedida, começa a apreciá-la e ela começa a compor-se. Ora, esta noção é demasiado complexa para merecer uma composição tão lírica. A ideia de que é a morte que nos torna agradável a vida não é, ela própria, muito encorajadora. Só gostarmos das coisas porque não mais as teremos implica que todo o prazer, todo o amor, está manchado pela fatalidade da perda. Percebemos que alguém que se dê conta disto se deprima com o assunto, não percebemos que reacenda a vontade de viver. A ideia de alguém se alegrar ao tomar consciência de que aquilo que ama vai desaparecer só pode ser artificial: alguém se alegra com o facto de, um dia, deixar de ver os pais, os filhos, ou os grandes amigos?
Nem sempre um bom escritor, como é Aramburu, consegue vencer as suas próprias ideias. O problema deste romance não está no facto destas ideias serem boas ou más: são simplesmente falsas, e isso condena toda a verdade que há nos pequenos diálogos de Aramburu, nos difíceis encontros entre pessoas magoadas, nas relações tão plausíveis, construídas sem pressa, a uma artificialidade de que não conseguem escapar.