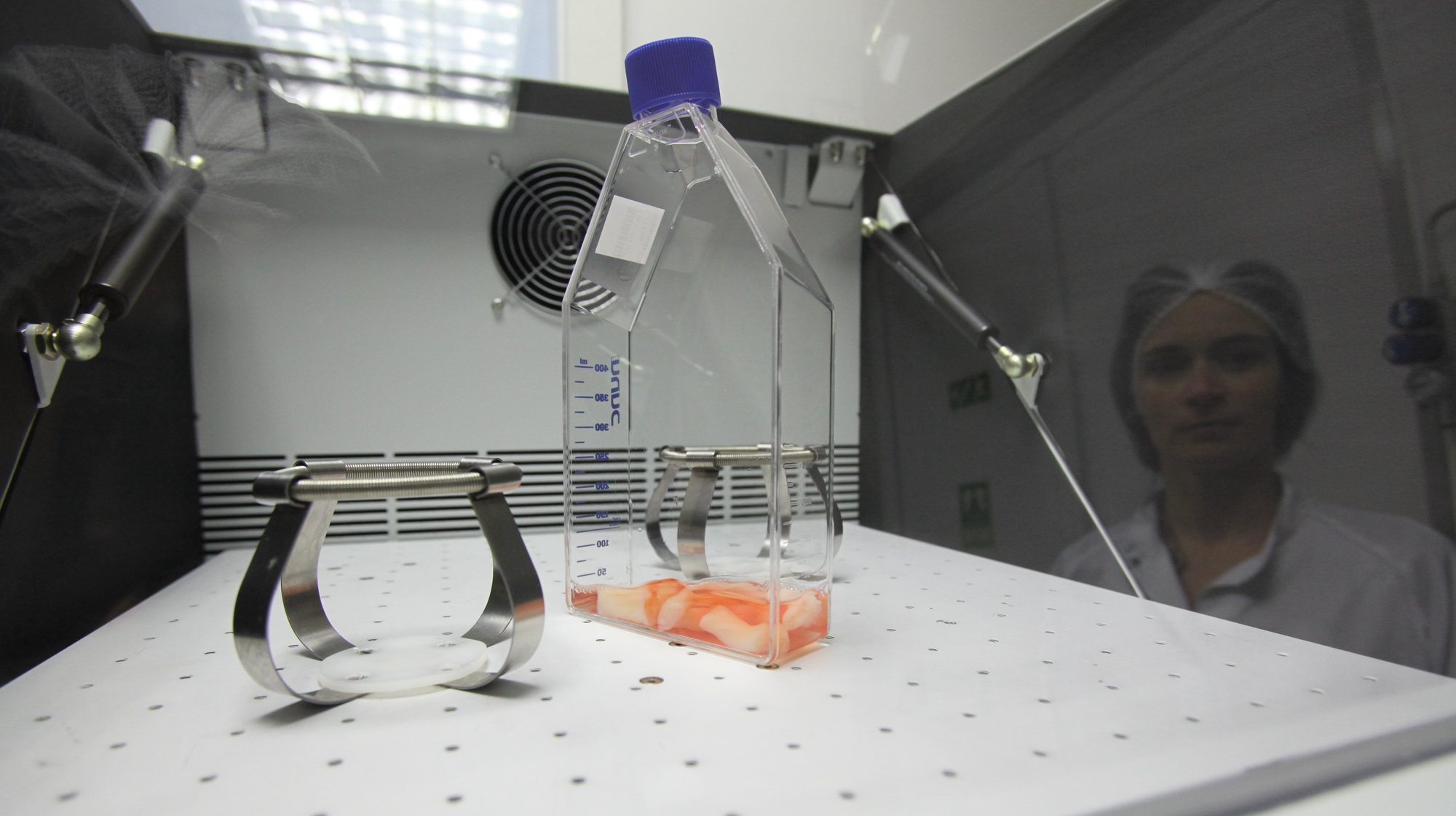Tem sido elogiada e foi finalista do Goncourt. Pauline Delabroy-Allard, nascida em 1988, estreou-se nas publicações com Ça raconte Sarah, publicada em França pela Minuit. A crítica comparou-a a Marguerite Duras, o livro fez sucesso entre o público e recebeu o Prémio Roman des Étudiants France Culture-Télérama. Foi publicado em muitos países, mas não em Portugal. Quem sabe, o seu segundo romance, é o primeiro da autora com saída em Portugal. Partindo-se para o livro com grande expectativa, esta viu-se gorada com frequência.
O enredo começa com algum interesse, porque deixa a dúvida no ar: que se passará para que Pauline, aos 30 anos, vá ter um documento de identidade pela primeira vez? Grávida, descobre que, para além do nome que usa, ainda tem outros nomes próprios: Jeanne, Jérôme e Ysé. O cenário é de secretismo na família: há assuntos que são tabus, e o passado é um deles. Assim, o contexto é o de ausência de respostas por ser impensável fazer perguntas.
O parto não corre bem e Pauline parte daí em busca do passado. Os nomes desconhecidos aparecem como fantasmas, conhecê-los é uma espécie de estratégia de sobrevivência. Assim, atar os pontos conta como reconstrução de uma identidade. O mergulho no passado acaba por trazer, numa estrutura tripartida, três personagens: Jeanne, bisavó, algo louca; Jérôme, que introduz Paris dos anos 1980; Ysé, que é heroína de outro romance. Com isto, a autora expande o romance para lá da intimidade da própria narradora, dando à narrativa espaço para outras personagens, que servem aqui como ramificações de uma vida, sendo estas também constituição da tal identidade procurada. E, aos poucos, vai-se desenhando a família, vão sendo introduzidos temas, chegam em bruto os segredos de família. O problema de tudo isto é o permanente sabor a fórmula, que começa logo com a ideia dos vários nomes próprios e continua pela procura de lhes escrutinar a explicação. Só a procura de um passado já tem esse perigo, e a forma como Pauline Delabroy-Allard a desenhou confirma-o. Traz-se para a narrativa um pequeno drama individual que nunca chega à secura, sendo difícil ao leitor ter empatia, mergulhar na história, imaginar, por um momento, que não está perante um artifício. Isto significa que nunca chega a haver a suspensão da descrença, porque após as primeiras páginas o enredo vai tendo um leve tom de coisa inventada. Dito isto, até poderia ser dito agora que aquilo, em vez de ficção, era auto-ficção; que, em vez de invenção, era decalque de realidade. Nada disso valeria para o leitor, a quem cabe medir a veracidade do que é apresentado – sendo verdade ou não. Cabe ao romance ter sabor e valor de verdade, não aos fios que tecem a história. E o romance peca porque, amiúde, envereda em estratégias que dão a ideia de a autora estar a tentar convencer o leitor. Prova disso são as inúmeras repetições semânticas, que vão conferindo ao texto um tom de fórmula chapada.
O cerne do romance é a procura de Pauline pela própria identidade. Só isto já irrita, ali paredes-meias com a obsessão contemporânea da etiqueta, da identificação, da auto-identificação, do quem sou como superior a o que tenho para dar. E isto vindo de uma personagem que naturaliza a ausência do seu documento de identidade, mas que depois obceca com ela. A obsessão, ou a decisão por tentar matar a obsessão, surge no momento do parto, no que parece um momento de eclosão premeditado, numa confissão da composição formulaica. A vontade incontrolável de casar os pontos é, afinal, no cerne da narrativa, o previsível pontapé de partida. E, seguindo-se daí, há a viagem auto-exploratória que terá parco interesse para o leitor. Nem a história é suficientemente original (pelo contrário) nem o drama é suficiente grande (excepto para a própria) para garantir o vício ou a empatia de quem lê.

Título: “Quem sabe”
Autora: Pauline Delabroy-Allard
Editora: Alfaguara
Tradução: Rui Pires Cabral
Páginas: 232
Não bastasse, e o romance aparece escrito na primeira pessoa no presente do indicativo. É a opção mais fácil do ponto de vista da escrita, já que é tecnicamente simples. Só isso já lhe corta as asas, até por saber a pouca utilização de recursos e a prosa mastigadas. Para mais, aqui e ali, a autora vai dando demasiado detalhe do que compõe os cenários, e por isso há momentos, páginas inteiras, em que o leitor parece estar perante um guião e não uma narração. Isto, aliado à ideia de repetir a fórmula das frases, cria momentos penosos, repetitivos, que acabam por não ir a lado nenhum, sempre às voltas, barrocos. Ao leitor, cabe a sensação de que faltou limar aquilo. Um exemplo:
Ele não disse: é espantoso, o facto de nunca ter tido bilhete de identidade. Não disse: porque decidiu requerer um agora, se nunca teve nenhum? Não disse: mas mesmo quando era criança, nunca teve BI? Não disse: porque é que tem um apelido duplo? Não disse: é casada? Esse nome é o do seu esposo ou da sua esposa? Não disse: tem, portanto, quatro nomes próprios ao todo. Não disse: é estranho, esse nome de homem entre os nomes femininos. Não, o homem não disse nada disso.” (p. 16)
Ou seja, o homem não disse nada, e bastava dizer isso. Ao não secar a prosa, a autora rouba-lhe a possibilidade de impacto, de surpresa, de baque. O leitor segue impassível, moído, sabendo que, depois de uma frase, virá uma do género. Ou duas ou vinte.
A repetição quebra a surpresa e obriga a leitura a empancar. Perde-se a possibilidade de ler de forma escorreita. O texto perde por ter gorduras; o leitor perde por receber tantos solavancos, por se moer a si mesmo enquanto segue uma e outra vez para a mesma fórmula, mais adequada a um discurso político do que a um texto literário, que existe na medida em que se reinventa e reinventa a utilização da língua. Das 13 frases completas da página 57, 9 começam por “Tinha imaginado”. E ainda há uma com “Eu tinha andado a imaginar imensas coisas.” Fica a sobrar, lá no meio, “Sim, um rapaz”, e as duas frases finais: “Mas agora nada disso poderá acontecer. Ergo-me, pago o café, saio para a chuva.”
O capítulo acaba assim e, na página seguinte, logo no primeiro parágrafo, três frases começam com “Aquela que morreu” (p. 59). No capítulo seguinte, também no primeiro parágrafo, e a começá-lo, seis frases seguidas a começar com “Escrevo para”. Logo a seguir, quatro a começar com “Não podem”. A autora parece tentar blindar com informação, mas apresenta uma prosa estilisticamente pobre. O leitor, em vez de sentir que recebe informação blindada, recebe uma coisa que precisa de ser limada, talvez com uma serra eléctrica.
Na página seguinte (p. 66), a tortura continua: todas as frases começam com “Queria ter mãos”. Uma delas quase salta à vista: em vez estar “Queria ter mãos que”, temos um “Queria ter mãos sólidas”. Na página seguinte, mais um “Queria ter mãos”.
Lá para o fim, é mais do mesmo: “Ela traiu o marido, a Ysé. Ela deixou o marido, a Ysé. Ela deixou os filhos, a Ysé”. (p. 207). À medida que lê, o leitor tem vontade de agir: cortando, editando, depurando. E só isso já estraga o mais que houvesse: mesmo que o enredo fosse extraordinário, meter-lhe tanta gordura semântica ia quebrar o engate ao leitor.
Assim, o que chega de Pauline Delabroy-Allard é a ideia de que ainda há caminho a fazer até se atingir um baque. A prosa precisa de mais força, e para isso é preciso abdicar do que só faz efeito, do que procura a volta esperta, da estratégia escancarada cujas entranhas são vistas por quem lê. O enredo em si sabe mais a ideia literária do que a vida, ainda que se julgue que uma vá equivaler à outra. Tudo pesado, fica uma sensação de irritação que nada tem que ver com as personagens, as únicas a quem tal seria permitido.
A autora escreve de acordo com o antigo acordo ortográfico.