Índice
Índice
A pandemia de covid-19 é, em boa parte, uma consequência da difusão de viagens rápidas, seguras e baratas proporcionadas pela tecnologia, mas, diz-se, esta mesma tecnologia veio também tornar menos penoso o confinamento, já que permite que a partir do computador caseiro se aceda a uma imensa variedade de experiências, oferta que tem sido multiplicada por muitas entidades, instituições, criadores e performers cuja actividade “física” foi suspensa pela pandemia terem vindo a dar acesso livre a conteúdos e recursos outrora indisponíveis ou apenas acessíveis mediante pagamento ou até a criar “experiências” e “eventos” especificamente criados para estas circunstâncias excepcionais que vivemos . E assim, nos e-mails recebidos dos amigos, nas redes sociais e nos mass media, começaram a circular enxames de generosas propostas destinadas a mitigar o tédio do confinamento.
A Caverna dos Grandes Ladrões
No final de Abril, o Museu de Cera Madame Tussauds de Sydney anunciou que iria compensar o facto de ter as portas encerradas com a oferta de visitas virtuais em 3D, permitindo aos internautas passear pelas galerias, numa experiência similar à proporcionada pelo Google Street View. Esta possibilidade foi anunciada como sendo uma fantástica pechincha, uma vez que a entrada no museu custa 44 dólares australianos (c.26 euros) e agora qualquer um poderia, sem gastar um cêntimo, “passear pela área dos super-heróis da Marvel, pela Zona MTV” e pela “galeria da Fama, com réplicas em tamanho real de divas como Lady Gaga, Kylie Minogue, Katy Perry e outras”. O anúncio advertia que a fruição seria mais completa para quem dispusesse de óculos de realidade virtual.
Porém, este anúncio, similar a milhões que têm proliferado nas últimas semanas, vem chamar a atenção para um dos mais patéticos anacronismos do nosso tempo: a persistência do apelo popular dos museus de cera – e, num quadro mais amplo, a nossa apetência para valorizar qualquer “ experiência” gratuita a que se possa aceder no écran do computador, tablet ou smartphone, por mais indigente e desprovida de sentido que seja.

Os Beatles no Madame Tussauds de Londres
Anna Maria Grosholtz (1761-1850), a futura Madame Tussaud, começou carreira como discípula do Dr. Philippe Mathé Curtius, um médico de Berna com jeito para a escultura, que começara por aplicar este na construção de modelos anatómicos para estudantes de medicina e, em 1765, abandonou a profissão médica e mudou-se para Paris, com o fito de abrir um gabinete de retratos em cera, cuja inauguração teve lugar seis anos depois, atraindo multidões. A mãe de Anna Maria, que fora governanta de Curtius em Berna, juntara-se-lhe em Paris em 1767, acompanhada pela filha. Esta, iniciada por Curtius nos segredos do ofício, executou a sua primeira escultura em cera – um retrato de Voltaire – em 1777, com apenas 16 anos, e muitas mais se seguiram, à medida que o interesse pelo Salon de Cire aumentava, levando Curtius a abrir um segundo gabinete, a Caverne des Grands Voleurs, exclusivamente dedicada a grandes criminosos, um assunto que então (como hoje) excitava sobremaneira as multidões.

Figura de cera do Dr. Philippe Curtius, da autoria do próprio
O negócio do Salon de Cire de Curtius sofreu bastante com a Revolução Francesa, apesar de o ex-médico ter sabido mudar as suas convicções e ligações consoante a direcção de onde sopravam os ventos revolucionários – depois de ter esculpido figuras de cera da realeza e aristocracia, chegou a militar nos jacobinos – e de ter forjado histórias que o apresentavam como um herói da Revolução. Por um lado, o frenesim revolucionário em curso fazia constantemente cair em desgraça celebridades cujas figuras estavam expostas no museu e era necessário substituir por novos próceres; por outro, o incessante tumulto revolucionário fez o dinheiro minguar nos bolsos dos parisienses, que passaram a afluir em pequeno número ao gabinete; para mais, a Revolução promovia regularmente espectáculos públicos gratuitos bem mais excitantes do que qualquer museu poderia oferecer: execuções na guilhotina. Enredado em dívidas, Curtius acabou por falecer em 1794, legando a sua colecção de figuras de cera à discípula Anna Maria, que se casou no ano seguinte com o engenheiro civil François Tussaud.

Retrato de Madame Tussaud aos 42 anos, em 1803, provavelmente fantasioso, já que foi realizado em 1921 por um descendente seu, John J. Tussaud
Madame Tussaud deu continuidade ao projecto do seu mentor, exibindo a sua colecção de figuras de cera pela Europa e, em 1802 (quando já se divorciara), aproveitou uma trégua nos conflitos anglo-franceses, para a levar a Londres, integrada num espectáculo do mágico Paul Philidor no Lyceum Theatre. O reacender da beligerância impediu Tussaud de regressar a França, pelo que se resignou a realizar tournées nas Ilhas Britânicas, acabando, em 1835, por abrir um salão na Baker Street, em Londres, cuja principal atracção era a Chamber of Horrors, já que o público britânico era tão receptivo quanto o francês a retratos de facínoras e gente executada.

Anúncio da inauguração do museu de Madame Tussaud em Londres, 1835
Após o falecimento de Madame Tussaud, em 1850, o museu passou a ser gerido pelos seus descendentes, até que, em 1889, apertos financeiros obrigaram o seu neto Joseph a vendê-lo a um consórcio de homens de negócios. Apesar de, em 1925, um incêndio ter destruído parte o acervo, o negócio prosperou, de forma que o conceito (cujo nome passara, desastradamente, de “Madame Tussaud’s” para “Madame Tussauds”) ganhou ramificações em Amsterdão (1970) e Las Vegas (1999).

Figura de cera de Madame Tussaud, da autoria da própria, em exibição no Madame Tussauds de Londres
O advento de novas tecnologias no domínio da imagem e dos mass media e de novos hábitos de lazer e entretenimento não diminui o apetite do público por este resquício fóssil dos “gabinetes de curiosidades” do final do Renascimento e no século XXI o Tussauds Group mudou de proprietário várias vezes, sempre por quantias exorbitantes – em 2007 o Blackstone Group, com sede em Nova Iorque, pagou por ele 1750 milhões de euros à Dubai International Capital. Por esta altura, os Madame Tussauds já se tinham multiplicado pelo mundo e a proliferação tem prosseguido imparavelmente: há quatro na China (incluindo um Wuhan), sete nos EUA e o mais recente, em Nova Deli, abriu em 2017. Além de figuras de fama planetária, cada um dos Madame Tussauds exibe também vedetas específica do país onde se situa – a popstar Zhang Yixing e a actriz Zhao Lying, representados no Tussauds de Pequim, são perfeitos desconhecidos para europeus e americanos.

Figura de cera de Isabel II no Madame Tussauds de Shanghai
Um inexplicável anacronismo
É compreensível o fascínio das massas pelas figuras de cera hiper-realistas no final do século XVIII, quando a estatuária em mármore era a reprodução mais fiel que poderia conceber-se de um ser humano e em que a maior parte dos visitantes dos salons de cire nunca tivera oportunidade de saber qual era o aspecto de Marat ou Robespierre. O advento e difusão da fotografia, em meados do século XIX, deveria ter esbatido o interesse por figuras de cera, efeito que deveria ter sido reforçado pela emergência da cinematografia, no final do século XIX. Todavia, numa época em que a fotografia e o cinema eram dominantemente a preto e branco, as cores naturalistas e a tridimensionalidade das figuras de cera cativavam os espíritos simples que prezam a verosimilhança literal acima de tudo.
Entretanto, a reprodução a cores de imagens estáticas e em movimento banalizou-se; os tele-espectadores passaram a ser bombardeados diariamente com registos de gente famosa, em público e na intimidade; a conjugação de novos materiais sintéticos, scanning 3D e impressão 3D tornou expedito o fabrico de réplicas fidedignas de seres humanos (qualquer um pode encomendar através da Internet um busto ou uma estátua de si mesmo, por quantias não-proibitivas). E, todavia, as massas continuam a afluir aos museus de cera…

Entrada do Madame Tussauds de Hong Kong
E para ver o quê? Réplicas hiper-realistas mas estáticas (pior: hirtas) e mudas de estrelas da pop, do cinema, do desporto, da política, da moda e do jet set de quem estão disponíveis gratuitamente na Internet infindas horas de videoclips, concertos, jogos, filmes e entrevistas. Os parisienses que afluíam à Caverne des Grands Voleurs, ao menos iam descobrir o rosto de homicidas e meliantes que apenas conheciam pelo nome e pelos feitos horripilantes. Os visitantes dos museus de cera de hoje vão ver as personalidades cujas imagens já saturam a mediosfera e cujos rostos, trejeitos e poses são sobejamente conhecidos.
O único e duvidoso trunfo que um museu de cera teria para oferecer seria a tridimensionalidade, mas esta é anulada ao trocar-se a visita em pessoa pela visita mediada por um écran: o museu de cera fica reduzido à falsificação de uma falsificação. E, uma vez que a maior parte das popstars que constituem hoje apreciável proporção do acervo dos museus de cera – Lady Gaga, Ricky Martin, Justin Bieber, Rihanna – não passam de títeres concebidos pelas equipas de produtores, estilistas, maquilhadores, directores de arte, conselheiros de imagem e marqueteiros da indústria musical, conclui-se que a visita virtual a um destes locais é uma falsificação de terceira ordem.

Figura de cera de Lady Gaga no Madame Tussauds de Londres
Confrontados com problemas similares aos dos museus (os de cera e os outros), também os jardins zoológicos aderiram à patética voga das “visitas virtuais gratuitas”. E, aparentemente, há quem perca tempo a ver filmagens amadoras em baixa definição de animais, entrevistos entre grades e folhagem, com o ar entediado característico das criaturas que se resignaram a viver em cativeiro, quando os canais de televisão e o YouTube disponibilizam largos milhares de horas de documentários sobre vida selvagem, filmados com recurso à mais sofisticada tecnologia e montados de forma dinâmica e trepidante. Como explicar esta opção? Talvez por o Homo sapiens ser, à sua maneira, um animal em cativeiro (mesmo quando não está sujeito a medidas de confinamento) e, consequentemente, estar a tornar-se cada vez mais passivo e a perder a sua capacidade de discernimento.
A arte da quarentena
Também a suspensão dos espectáculos de música, dança e teatro decorrente da pandemia desencadeou a oferta maciça de uma onda de experiências de terceira categoria mediadas pelo écran: a transmissão online (directa ou não) de performances a partir de casa dos artistas.
Estão há muito disponíveis gratuitamente na Internet – e em particular no YouTube – mais horas de videoclips, concertos ao vivo e live in studio dos nossos artistas favoritos do que é humanamente possível fruir, mesmo que o confinamento durasse muitos meses e o passássemos frente ao écran do computador. A qualidade do material disponível no YouTube é variável, mas os formidáveis progressos na tecnologia de registo de som e imagem, na democratização no acesso a essa tecnologia e na difusão do know-how necessário para se produzir um filme de concerto excitante, envolvente e credível faz com que hoje qualquer banda obscura possa ter registos audiovisuais que fazem as mega-produções das bandas de renome de há 30 anos parecer amadoras. A abundância é tal, que o único embaraço é a escolha. E, todavia, houve quem acorresse a ver vídeos ineptos, registados numa única câmara (as mais das vezes a do telemóvel), num plano fixo, de um quarto mal iluminado, com um músico solitário tocando versões esqueléticas e sofrivelmente executadas das suas canções, com medíocre qualidade de som e imagem. A situação é absurda quer seja examinada na óptica do emissor ou do receptor, mas compreende-se melhor o desespero dos músicos, privados do seu ganha-pão por sabe-se lá quanto tempo, e que receiam que este interregno os esbata progressivamente da mente dos seus fãs, do que a preferência dos espectadores por assistir a um penoso “concerto de quarentena”, em vez de ver (ou rever) o abundante material registado anteriormente pelo mesmo artista em condições profissionais.
[Desde 2011, que o canal Audiotree Live grava regularmente no seu estúdio de Chicago bandas indie de todo o mundo, em sessões live in studio com qualidade de som e imagem irrepreensível, constituindo um formidável acervo que está disponível gratuitamente no YouTube. No vídeo acima, os taiwaneses Elephant Gym tocam o tema “Finger”, do álbum Balance:]
Tal não impediu que se gerasse uma euforia em torno da “música em tempo de pandemia”, talvez por ela dar a ideia de que o mundo não acabara e que era possível restabelecer alguma normalidade. Só aqui e ali se ouviram, no meio musical, algumas vozes lembrando que o streaming de “concertos” em directo não resolve a situação dos músicos que viram os seus rendimento reduzidos a zero e cujo retorno à actividade remunerada depende da descoberta e difusão maciça de uma vacina eficaz contra o SARS-CoV-2.
Por enquanto, as etiquetas “confinamento” e “quarentena” continuam a suscitar adesão entre a parte do planeta que está a enfadar-se em casa, e alguns músicos fazem o que podem para aproveitar essa inclinação para manter alguma facturação. Um deles é Ludovico Einaudi, fabricante industrial de papel de parede sonoro com apurado faro para o negócio, que acaba de lançar, nas plataformas digitais, o álbum 12 SongsfromHome, uma selecção de greatest hits registada em casa num piano desafinado e com recurso a um iPhone. É difícil perceber o que levará um apreciador de Einaudi a pagar para ouvir (via streaming ou download) versões caseiras e roufenhas, de peças que estão disponíveis com qualidade profissional nos discos anteriores do músico – mas certamente irá ser um sucesso.
O que é mais desconcertante é que a “arte da quarentena” não se circunscreveu às artes performativas, como música, dança e teatro. Também não faltaram escritores que se lançaram na redacção de “diários de quarentena” e outras formas de “literatura pandémica”, como se a rotina típica de um escritor na ausência de pandemias não fosse, basicamente, estar fechado num quarto a escrever.
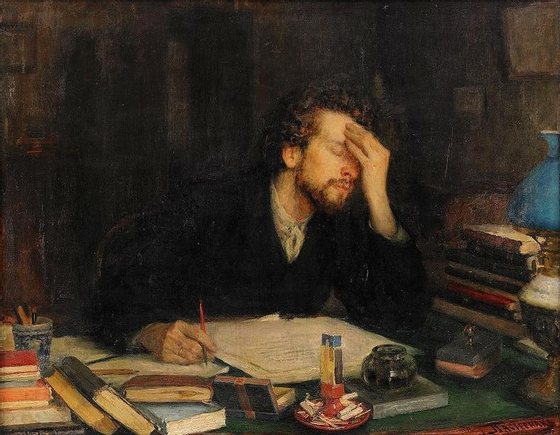
“A paixão da criação”, por Leonid Pasternak (1862-1945)
Quem quer aprender a tocar guitarra?
Outra das “modas” fomentada pela pandemia e pelo confinamento foi a dos cursos online. Fechados em casa e sem saber como ocupar a mente e as mãos, houve quem se dispusesse a começar a aprendizagem de uma actividade que fora sempre adiada (alegadamente) por “falta de tempo”.
Tomemos um exemplo: no início de Abril, a Fender, um dos maiores fabricantes de guitarras e amplificadores, anunciou que tornara gratuita a subscrição por três meses da Fender Play, uma app de iniciação à guitarra, que, em situações normais é paga. A notícia foi amplamente difundida – provavelmente por ter no título o nome da única marca de guitarras que mesmo quem não se interessa por música conhece – e teve ampla adesão. Mas não tardou que surgissem nas redes sociais vozes indignadas (a indignação é o sentimento “by default” das redes sociais), protestando por não conseguirem inscrever-se. Estes “indignados” não tinham lido as linhas onde se explicava que a oferta era limitada aos primeiros 100.000 candidatos a guitarristas – porém, entretanto, a Fender alargou a oferta a 500.000 subscrições e, quando também estas foram preenchidas, a um milhão.

Jan Vermeer, c.1670-72
O entusiasmo com que esta oferta foi acolhida (e a fúria dos que não conseguiram inscrever-se) leva a que se pergunte por onde andam estas multidões sequiosas de instrução quando navegam na Internet. Acontece que, sem pôr em causa a qualidade da app da Fender, o YouTube regurgita há anos de cursos e tutorials de iniciação à guitarra, alguns amadores, incompetentes, maçadores ou pouco apelativos, outros solidamente estruturados, claramente explicados e indiscutivelmente úteis, e todos gratuitos. E não são só cursos de iniciação: há no YouTube um prodigioso manancial de instrução para todos os níveis de aprendizagem de guitarra e instrumentos da sua família, acústicos ou eléctricos. E há também infindas horas de conselhos, apreciações críticas e demonstrações dos mais variados modelos de guitarras, amplificadores, pedais e outros “periféricos”, bem como de cuidados de manutenção e outras “dicas” práticas, produzidos por fabricantes de instrumentos e equipamento, retalhistas, publicações especializadas, músicos profissionais, professores de música, guitar techs ou meros curiosos.
É claro que o ensino mediado por apps e écrans tem limitações e a interacção presencial com um (competente) professor de carne e osso é difícil de substituir, mas qualquer pessoa que queira mesmo aprender a tocar guitarra tem, de há alguns anos a esta parte, toda a informação de que necessita na Internet, gratuitamente. Quem, em 2020, ainda não se apercebeu disso é porque ou 1) na verdade nunca quis aprender a tocar guitarra, ou 2) gasta todo o tempo na Internet em busca de pornografia.

“A lição de guitarra”, por Balthus, 1934
E o que aqui ficou escrito para a guitarra, vale para a aprendizagem de qualquer outro instrumento musical, ou da língua coreana, do cultivo de bonsai, da preparação de cocktails, da pintura a óleo, da arte do origami ou da decoração de bolos. Além de trolls, propagadores de fake news, indignados do Facebook e linchadores do Twitter, o mundo virtual também está cheio de pessoas generosas e com talento pedagógico que puseram o seu conhecimento e experiência ao serviço da comunidade global.
A ideia de que alguém com real inclinação para tocar guitarra tenha sido impedido de o fazer por não dispor de nove euros por mês para pagar a app Fender Play é, portanto, absurda. Das leis da estatística decorre que, entre o milhão de subscritores da oferta gratuita da Fender, poderá brotar um Jimi Hendrix, um Johnny Marr ou um Thurston Moore, mas nem a oferta da Fender nem o confinamento terão tido nisso qualquer papel.
[10 níveis de guitarra eléctrica condensados em dois minutos por meio por Ichika Nito. Aviso: não há app para isto:]
Um mundo de hikikomori?
A palavra japonesa “hikikomori” significa “confinamento, retiro”, mas passou nos últimos anos a designar um fenómeno social preocupante: o dos jovens, maioritariamente do sexo masculino, que cortam as interacções sociais presenciais e se fecham nos seus quartos, sem falar nem receber visitas, por vezes durante meses a fio – anos mesmo, nos casos mais graves. O fenómeno começou a tornar-se evidente no início da década de 1990, no Japão, onde se estimava, de acordo com um estudo de 2010, que afectasse cerca 700.000 indivíduos – embora outro estudo no mesmo ano apontasse para 230.000. Compreende-se a dificuldade em obter números precisos, dados os contornos vagos do fenómeno e os diferentes graus de que pode revestir-se – há quem se restrinja ao quarto (atitude que só é possível quando se vive na casa dos pais e estes providenciam a alimentação e outros “serviços”), há quem não saia de casa, há quem, na falta de outras opções, se esgueire ocasionalmente até um supermercado ou uma loja de conveniência para adquirir bens essenciais. O que é comum a todos é não estudarem, nem trabalharem, nem terem interacções sociais reais. No que concerne a duração, o Estado japonês classifica como hikikomori quem mantenha estre comportamento durante mais de seis meses e hoje há já um número apreciável de hikikomori de meia idade, que já levam duas ou três décadas de isolamento e se tornarão num fardo mais sério para a sociedade quando os seus pais se tornarem demasiado velhos para cuidar deles ou falecerem – uma estimativa de 2019 apontava para a existência de 613.000 hikikomori com idades compreendidas entre 40 e 64 anos..

Um hikikomori na sua “toca”
O Ministério da Saúde japonês exclui da contabilidade dos hikikomori os casos em que existem disfunções físicas ou mentais que possam levar a pessoa a evitar as interacções sociais – os hikikomori são (ou parecem) “saudáveis” e “normais”, excepto no comportamento social. Os investigadores do assunto não conseguiram, até agora, discernir em que medida é que o fenómeno hikikomori é uma escolha pessoal ou uma perturbação psiquiátrica – mas talvez esta dicotomia seja falsa e o hikikomori seja menos uma perturbação individual do que um sintoma de malaise civilizacional.
Não são claras as razões que conduzem a este comportamento, mas o facto de ter surgido no Japão levou alguns investigadores a procurar explicações na natureza da sociedade japonesa. Nesta existe forte pressão para que os indivíduos se conformem às regras da comunidade e não busquem a afirmação individual; a vida social é regida por regras de etiqueta e cortesia espartilhantes (para os padrões ocidentais) e que obrigam os mais novos a ser obedientes e respeitosos para com os mais velhos; as conversações raramente são directas e francas (pelos padrões ocidentais) e é preciso tentar adivinhar quais são as verdadeiras intenções e sentimentos do interlocutor (o que não facilita a vida de um adolescente em busca de um parceiro sexual); o sistema de ensino é exigente e competitivo e sujeito a regras rígidas; e as famílias depositam expectativas elevadas no desempenho escolar dos filhos. Esta conjugação de pressões, aliada à atitude hiper-protectora e hiper-controladora de alguns pais, pode criar nos jovens um receio patológico em assumir as responsabilidades da vida adulta, levando-os a refugiar-se no casulo de uma adolescência sem fim.
A vida real é “uma seca”
Os hikikomori surgiram antes da Internet, mas é provável que esta tenha vindo agravar o problema, uma vez que providencia uma quantidade ilimitada de distracções e uma interface que torna as relações sociais remotas, abstractas, descomprometidas, inconsequentes e amortecidas e, logo, com menor potencial traumático. É possível que a Internet não seja estranha ao rápido alastramento de hikikomori pelos países desenvolvidos ao longo do século XXI: em 2018 já tinham sido identificados em Itália 100.000 jovens com idades entre os 14 e 25 anos com este comportamento pautado pela reclusão e pela abulia; na Coreia do Sul estima-se que exista um número similar; outros países em que o fenómeno começa a tornar-se significativo são os EUA, Espanha, Reino Unido, Canadá e Taiwan. Alguns países ocidentais, pelas circunstâncias económicas e sociais dos anos mais recentes, assistiram a um aumento dos NEET (“Not in Education, Employment, or Training”, ou seja, os jovens que não estudam nem trabalham), mas estes não são necessariamente hikikomori, embora exista uma fronteira fácil de atravessar entre os dois grupos.
Alguém com propensão para a reclusão poderia, em décadas anteriores, ser travado pela perspectiva de um imenso tédio, mas hoje a Internet oferece um mundo ilimitado de entretenimento fácil e passivo, não pede nada em troca e é isenta de riscos reais. O “binge watching” de séries da Netflix, mesmo que se estenda por 12 ou 14 horas ininterruptas, requer menos esforço do que prestar atenção a uma aula na escola durante dez minutos; as “mortes” vividas nos vídeojogos não têm consequências, ao contrário dos fracassos e rejeições no mundo físico; as “amizades” conquistadas no Facebook são mais fáceis de obter e manter e, para os menos dotados neste domínio, há sempre a possibilidade de comprar “amigos” e “likes” por preços módicos.
Não é de admirar que muitos miúdos comecem a achar que o mundo virtual é muito mais atraente do que a vida real. O problema é que quanto mais tempo passam mergulhados nesse saco amniótico onde a temperatura é constante e a nutrição está assegurada, mais desagradável parecerá o mundo exterior. Quanto mais interacções forem mediadas através das redes sociais, mais assustador se torna lidar presencialmente com pessoas reais (“Como é que posso dar-lhe a entender que fiquei magoado com o que ela disse sem usar um emoji?”). Quem tenha uma experiência maciça de visionamento de pornografia desde tenra idade assumirá que aquelas performances sexuais são a regra e achará as experiências com parceiros/as de carne e osso desajeitadas, pífias e frustrantes.
A reclusão imposta pela pandemia de covid-19 não irá, claro, converter os confinados em hikikomori, mesmo que eventuais novas vagas de infecções forcem os governos a voltar a impor que a população se feche em casa durante semanas. Mas poderá reforçar, sobretudo entre os mais novos, uma tendência já em curso para evitar contactos sociais e substituir experiências reais por experiências virtuais e pessoas por fantasmagorias.
Agrilhoados na caverna digital
A pandemia de covid-19 chegou numa altura oportuna para as redes sociais, cuja imagem pública tinha sido maculada pelo escândalo do uso de dados dos utilizadores do Facebook pela empresa de consultoria política Cambridge Analytica, que forçou ao encerramento desta, em 2018, e a um pedido de desculpas de Mark Zuckerberg (ver O futuro aos algoritmos pertence), bem como pela revelação da manipulação das redes sociais pela Rússia e por forças políticas pouco escrupulosas, de forma a influenciar resultados de eleições e referendos.
Porém, com 4000 milhões de pessoas em confinamento pelo planeta fora, as redes sociais foram exaltadas como o refrigério dos solitários, o vínculo indispensável com famílias e amigos. O confinamento fez o uso do Facebook crescer 37%, de acordo com um estudo a 25.000 pessoas em 30 países. O WhatsApp (que é propriedade do Facebook) cresceu 40% em média, sendo o crescimento maior nos países mais atingidos pela covid-19 (foi de 76% em Espanha). Na China, o aumento médio do uso das redes sociais foi de 58%, com destaque para o WeChat e o Weibo.
O risco é que a dependência emocional acrescida em relação a estas redes sociais, trazida pela pandemia, leve a que ignoremos ou desvalorizemos os riscos a elas associados. E estes não se prendem apenas com a possibilidade de Mark Zuckerberg e outros cibermeliantes do mesmo jaez poderem estar a recolher informação confidencial sobre a actividade dos utilizadores para fins comerciais ou políticos, mas também com o tremendo poder das redes sociais para moldar comportamentos e mentalidades, sobretudo entre os mais novos e influenciáveis.
Em Odeio a Internet (2016), Jarett Kobek, fez uma sátira das redes sociais e dos próceres da economia digital (ver “Odeio a Internet”: A rede vai salvar-nos ou vai ser o nosso fim?), colocando as suas personagens a tecer comentários ácidos sobre o YouTube (“Os vídeos mais populares do YouTube eram os seguintes: 1) Raparigas giras a dar conselhos de maquilhagem e para o cabelo; 2) Coisas rápidas captadas fotograficamente em câmara lenta; 3) Gatos feios a miar na casa de banho […]”) e do Twitter (“um mecanismo através do qual os adolescentes se atormentavam mutuamente a caminho do suicídio enquanto se mostravam obcecados com celebridades efémeras”). Desde então, as redes sociais não cessaram de ramificar-se, de ganhar novos utilizadores e de assumir um papel mais central nas vidas das pessoas. Quando da publicação original de Odeio a Internet, ainda não existia TikTok, uma rede social nascida na China em Setembro de 2016 e vocacionada para vídeos com a duração de alguns segundos. Porém, após, em 2017, ter ficado disponível fora da China, ganhou popularidade entre os jovens tão rapidamente que soma hoje 1000 milhões de utilizadores.
[Um dos conteúdos mais populares no TikTok: o “penny challenge”:]
O segredo do seu sucesso está na absoluta vacuidade dos conteúdos: adolescentes e jovens adultos a fazer momices e figuras tolas. O TikTok promoveu o “palhaço da turma” a role model planetário e veicula “desafios” que não requerem quaisquer capacidades especiais, criatividade, perseverança ou treino, apenas inconsciência e imbecilidade.
Entre os “desafios” em voga no TikTok no início de 2020 estão (ou estavam – as modas na cultura digital juvenil são efémeras) o “penny challenge” – introduzir uma moeda entre uma tomada eléctrica e um carregador – e o “cereal challenge” – um mentecapto verte leite e cereais de pequeno almoço na boca de um mentecapto na posição horizontal e usa a sua boca como taça (uma variante idiota, pegajosa e perigosa do infame waterboarding).
[O “cereal challenge”: o milkboarding como “diversão”:]
A Internet, a par de ser uma prodigiosa fonte de conhecimento e de promover a abertura de horizontes, é, ao mesmo tempo, um convite a que nos encerremos sobre nós mesmos e apenas demos atenção e crédito ao que confirma os nossos preconceitos; a que troquemos a vida real por vidas em segunda mão e simulacros grosseiros; a que prefiramos rábulas amadoras e cantorias no duche a experiências artísticas enriquecedoras; a que mergulhemos num universo malsão de fatuidades, culto das “celebridades”, desinformação, teorias conspirativas e perseguições maldosas.
Vamos a ver se o confinamento necessário para evitar a morte de centenas de milhares de pessoas pela covid-19, além de lançar centenas milhões no desemprego, não irá também contribuir para criar mais algumas centenas de milhões de alienados que estão firmemente convencidos de que as sombras que dançam nas paredes da sua caverna digital são a realidade.

A alegoria da caverna de Platão, numa gravura por Jan Saenredam a partir de desenho de Cornelis van Haarlem, 1604















