[especial originalmente publicado a 1 de outubro de 2016, atualizado a 13 de novembro de 2020, a propósito da morte de John le Carré]
Foi o próprio John Le Carré que contou a história deste encontro, no livro “Túnel de Pombos”, a coleção de memórias publicada em outubro de 2016. O autor de romances de espionagem — e antigo funcionário dos serviços secretos britânicos — preparava na altura “A Rapariga do Tambor” (publicado originalmente em 1983) e investia na criação da personagem principal, Charlie. Escreve Le Carré no início deste capítulo que o Observador revela em pré-publicação:
“A tarefa que defini para mim mesmo foi partilhar a viagem com ela; deixar‑me levar, como Charlie se deixa levar, pelos argumentos que lhe são lançados pelas duas partes e sentir, tanto quanto possível, os seus acessos contraditórios de lealdade, esperança e desespero.” Com as “duas partes” referia-se a Israel e à Palestina e neste excerto do livro, Le Carré recorda especificamente como foi conhecer Yasser Arafat, entre festas de rua, segurança (muito) apertada e uma passagem de ano.
Este capítulo, com o título “Teatro do real: danças com Arafat” (revelado pelo Observador pouco antes da publicação do livro), é apenas uma das memórias recuperadas neste livro, com o subtítulo “Histórias da Minha Vida”. Junta casos reais de espionagem, aventuras diplomáticas e episódios que marcaram a vida pessoal daquele que é, provavelmente, o mais popular autor do género.
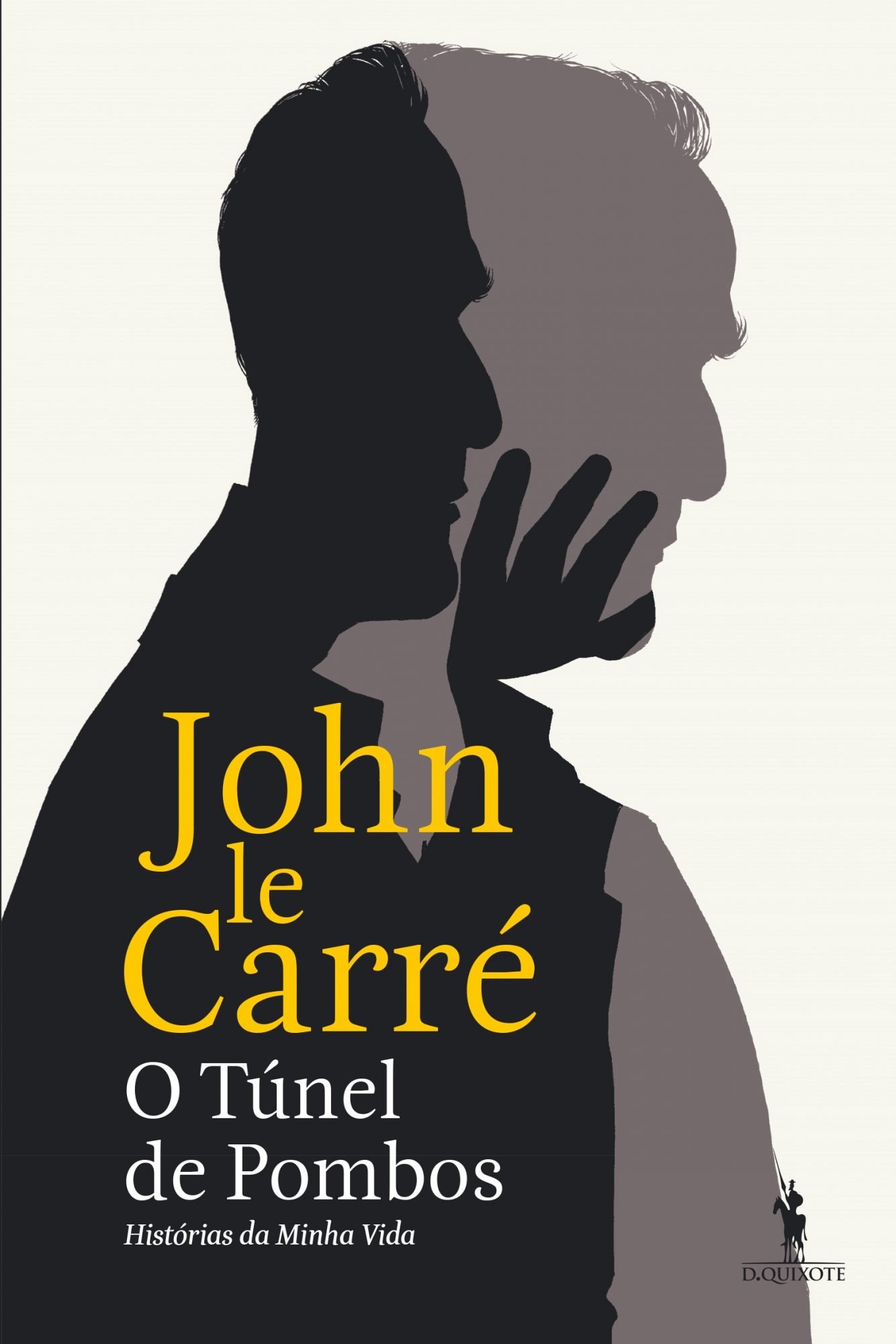
“O Túnel de Pombos: Histórias da Minha Vida”, de John le Carré (D. Quixote)
A minha viagem até Arafat tinha sido frustrante, mas naquela época ele era um homem retratado de um modo tão sensacionalista, como o fugidio e astuto terrorista tornado estadista, que algo mais confortável teria sido uma deceção. A minha primeira paragem foi para me encontrar com Patrick Seale, entretanto falecido, um jornalista britânico natural de Belfast que estudou em Oxford, um arabista e alegado espião britânico que sucedera a Kim Philby no posto de correspondente em Beirute do jornal The Observer. A minha segunda paragem, por conselho de Seale, foi para me encontrar com um comandante militar palestiniano leal a Arafat, que se chamava Salah Tamari e que eu conheci numa das suas visitas regulares à Grã‑Bretanha. No restaurante Odin’s, em Devonshire Street, enquanto os empregados de mesa palestinianos o fitavam de respiração sustida com admiração, Salah confirmou‑me o que me tinha sido dito por todas as pessoas que já consultara: se quer infiltrar‑se entre os palestinianos, tem de ter a bênção do Presidente.
Tamari disse que me recomendaria, mas que eu devia seguir os canais oficiais. Eu estava a tentar fazê‑lo. Munido de cartas de apresentação de Tamari e de Seale, já marcara por duas vezes uma audiência com o Representante da Organização de Libertação da Palestina na Liga dos Estados Árabes em Green Street, em Mayfair, por duas vezes me submetera no passeio ao escrutínio de homens de fatos escuros, por duas vezes ficara num caixão de vidro à entrada enquanto me revistavam à procura de armas secretas e por duas vezes me fora recusada a audiência por razões que ultrapassavam o controlo do Representante. E as razões, muito provavelmente, estavam de facto para além do seu controlo. Um mês antes, o seu antecessor tinha sido morto a tiro na Bélgica.
Acabei por ir de avião para Beirute e instalei‑me no Hotel Commodore, porque era propriedade de palestinianos e por ser conhecido pela sua indulgência para com jornalistas, espiões e fauna similar. Até àquele momento, a minha pesquisa confinara‑se a Israel. Passei dias com as Forças Especiais israelitas, sentei‑me em belos gabinetes e falei com chefes presentes e passados dos Serviços Secretos israelitas. Mas o gabinete de relações públicas da Organização de Libertação da Palestina em Beirute situava ‑se numa rua devastada, por trás de um círculo de barris de chapa ondulada cheios com cimento. Uns homens armados com o indicador no travão do gatilho olharam‑me ameaçadores quando me aproximei. Na penumbra da sala de espera deparavam‑se‑nos revistas de propaganda amarelecidas impressas em russo e, em vitrinas com o vidro estalado, amostras de estilhaços e pequenas bombas antipessoais por explodir recuperadas de campos de refugiados palestinianos. Havia fotografias com as pontas retorcidas de mulheres e crianças chacinadas, pregadas com pioneses às paredes manchadas.
O refúgio privado de Mr. Lapadi, o Representante, não é mais animador. Sentado a uma secretária, com uma pistola ao alcance da mão esquerda e uma Kalashnikov ao seu lado, olha‑me agressivamente, pálido e exausto.
– Escreve para jornal?
Em parte. Em parte estou a escrever um livro.
– É zoólogo humano?
Sou romancista.
– Está aqui para fazer lucro à nossa custa?
Para compreender a vossa causa em primeira mão.
– Vai esperar.
E continuo a esperar, dia após dia, noite após noite. Fico deitado no meu quarto de hotel a contar buracos de balas nos cortinados quando a luz da manhã chega. Sento‑me corcovado no bar na cave do Commodore de madrugada a escutar as reflexões dos correspondentes de guerra exaustos que já se esqueceram de como se dorme. Chega uma noite em que estou a comer um crepe de vinte e cinco centímetros na sala de jantar cavernosa e abafada do Commodore. Um empregado de mesa segreda‑me excitadamente ao ouvido:
– O nosso Presidente vai vê‑lo agora.
A minha primeira ideia é que se trata do presidente do grupo hoteleiro. Vai expulsar‑me, não paguei a conta, insultei alguém no bar ou quer que lhe autografe um livro. Mas depois, aos poucos, compreendo. Sigo o empregado até ao átrio e saio para a chuva torrencial. Uns combatentes armados, de calças de ganga, encontram‑se à volta de um Volvo da cor da areia com a porta de trás aberta. Como ninguém fala, eu também não digo nada. Entro para o banco de trás do Volvo, uns combatentes saltam para dentro de um lado e do outro, um outro senta ‑se no lugar da frente ao lado do condutor.
Estamos a percorrer a toda a velocidade uma cidade destruída sob chuva torrencial com um jipe a seguir‑nos. Mudamos de faixa. Mudamos de carro, enfiamos por transversais, galgamos o separador central de uma via rápida movimentada. Os veículos em sentido contrário afastam‑se a toda a pressa para a berma. Mudamos de novo de carro. Estou a ser revistado pela quarta ou sexta vez. Estou especado num passeio varrido pela chuva algures em Beirute, rodeado por homens armados com capas a escorrer água. Os nossos carros desapareceram. Uma porta da rua abre‑se, um homem manda‑nos entrar para um prédio de apartamentos com buracos de balas, janelas vazias e sem luzes. Aponta para uma escada de pavimento cerâmico com fantasmagóricos homens armados perfilados por ela acima. Depois de dois lanços, chegamos a um patamar alcatifado e somos conduzidos para dentro de um elevador aberto que fede a desinfetante. Sobe aos soluços e para com um enorme solavanco. Chegámos a uma sala de estar em L. Há combatentes de ambos os sexos encostados às paredes. Surpreendentemente, ninguém está a fumar. Lembro‑me que Arafat não gosta de fumo de tabaco. Um combatente começa a revistar ‑me pela enésima vez. Sinto‑me dominado pela irracionalidade do medo.
– Por favor. Já fui suficientemente revistado.
Abrindo as mãos como se para mostrar que não tem nada nelas, ele sorri e recua.
A uma secretária na parte mais pequena do L está sentado o Presidente Arafat, à espera de ser descoberto. Enverga um keffyeh branco e uma camisa caqui com dobras vincadas, e ostenta uma pistola prateada num coldre de plástico castanho entrançado. Não olha para cima, para o seu convidado. Está demasiado ocupado a assinar papéis. Mesmo quando sou conduzido a uma trono de madeira esculpida ao seu lado esquerdo, ele continua demasiado atarefado para notar a minha presença. Por fim, ergue a cabeça. Sorri, olhando em frente, como se estivesse a recordar‑se de algo feliz. Vira‑se para mim e ao mesmo tempo põe‑se de pé de um salto com um encanto surpreendido. Eu ponho‑me também de pé de um salto. Como atores cúmplices, olhamo‑nos nos olhos. Arafat está sempre em palco, fui avisado. E eu estou a dizer para comigo que também eu estou em palco. Sou um colega ator, e temos ali uma assistência ao vivo, talvez umas trinta pessoas. Ele recosta‑se e estende‑me ambas as mãos em saudação. Tomo‑as nas minhas, e são macias como as de uma criança. Os seus olhos castanhos esbugalhados são fervorosos e implorativos.
– Mr. David! – grita ele. – Porque veio ver ‑me?
– Senhor Presidente – respondo, no mesmo tom elevado.
– Vim pôr a mão no coração palestiniano! Será que estivemos a ensaiar esta coisa?
Ele já está a guiar a minha mão direita ao lado esquerdo do peito da sua camisa caqui. Tem um bolso com botão e está perfeitamente engomada.
– Mr. David, está aqui! – grita ele fervorosamente. – Está aqui! – repete, para benefício da nossa assistência.
A plateia está de pé. Somos um êxito instantâneo. Envolvemo‑nos numa saudação à moda árabe, esquerda, direita, esquerda. A sua barba não é áspera, é uma penugem sedosa. Cheira a pó de talco Johnson’s. Soltando‑me, mantém uma das mãos possessivamente no meu ombro enquanto se dirige à nossa assistência. Eu posso andar livremente por entre os seus palestinianos, declama – ele que nunca dorme duas vezes na mesma cama, se encarrega da sua própria segurança e insiste que não é casado com ninguém a não ser com a Palestina. Eu posso ver e ouvir o que desejar ver e ouvir. Pede‑me só que escreva e fale a verdade, porque só a verdade libertará a Palestina. Confiar‑me‑á ao mesmo chefe dos combatentes que conheci em Londres – Salah Tamari. Salah providenciará uma escolta cuidadosamente selecionada de jovens combatentes. Salah levar‑me‑á ao Sul do Líbano, Salah informar‑me‑á sobre a grande luta contra os sionistas, apresentar‑me‑á aos seus comandantes e às suas tropas. Todos os palestinianos que eu encontrar falarão comigo com total franqueza. Pede‑me para ser fotografado comigo. Eu recuso. Ele pergunta‑me porquê. A sua expressão é tão radiante e brincalhona que eu arrisco uma resposta franca:
– Porque espero estar em Jerusalém um pouco antes do senhor, Senhor Presidente. Como ele se ri com vontade, a nossa assistência ri‑se também. Mas fui demasiado longe na verdade, do que já estou a arrepender‑me.
***
Depois de Arafat, qualquer outra coisa dá a sensação de ser normal. Todos os jovens combatentes da Fatah estavam sob o comando militar de Salah, e eu tinha oito deles como meus guarda‑costas pessoais. A sua idade média era dezassete anos no máximo e dormiam ou não dormiam num círculo à volta da minha cama no andar superior, com ordens para estarem atentos, da minha janela, aos primeiros sinais de ataque inimigo por terra, ar ou mar. Quando o tédio se apoderava deles, o que acontecia facilmente, disparavam as suas pistolas sobre qualquer gato de passagem que estivesse à espreita nos arbustos. Mas a maior parte do tempo passavam‑no a murmurar entre eles em árabe ou a praticar o seu inglês comigo sempre que eu estava prestes a adormecer. Aos oito anos, tinham‑se filiado nos escuteiros palestinianos, o Ashbal. Aos catorze, foram considerados homens completamente preparados para o combate. Segundo Salah, não havia quem lhes chegasse aos calcanhares no que dizia respeito a lançar à mão um foguete para o cano de um tanque israelita. E a minha pobre Charlie, estrela no Teatro do Real, vai adorá‑los, penso eu enquanto anoto os pensamentos dela no meu bloco de apontamentos amarfanhado.

John le Carré (foto: Stephen Cornwell)
Com Salah a guiar‑me e Charlie como meu contacto, visito postos avançados palestinianos na fronteira israelita e, com o som dos motores dos aviões de deteção israelitas e ocasionais rajadas de tiros, escuto histórias dos combatentes – reais ou imaginárias, não sei – sobre ataques noturnos em barcos de borracha no mar da Galileia. Não é dos seus feitos que se gabam. Estar lá é quanto basta, insistem: viver o sonho, mesmo que só por umas horas, sob risco de morte ou captura; parar o barco furtivo a meio da travessia, inspirar o aroma das flores e das oliveiras e das terras de cultivo da sua terra, escutar os balidos das ovelhas nas encostas das suas colinas – essa é a real vitória.
Com Salah ao meu lado, percorro as enfermarias do hospital de crianças em Sídon. Um menino de sete anos com a perna despedaçada por uma bomba faz‑nos um sinal com o polegar de que está tudo bem. Charlie nunca esteve mais presente. Dos campos de refugiados, recordo‑me de Rashidieh e de Nabatieh, municípios por direito próprio. Rashidieh é famoso pela sua equipa de futebol. O campo, que é de terra batida, é bombardeado com tanta frequência que só podem combinar‑se desafios a curto prazo. Vários dos seus melhores futebolistas são mártires da causa. As suas fotografias estão expostas entre as taças de prata que o clube já ganhou. Em Nabatieh, um velho árabe com vestes brancas repara nos meus sapatos castanhos ingleses e em algo de colonial na maneira como caminho.
– É britânico, senhor?
– Sou britânico.
– Leia.
Tem o documento no bolso. É uma certidão, impressa em inglês e carimbada e assinada por um funcionário britânico do Mandato, a confirmar que o seu portador é o proprietário da seguinte propriedade agrícola e olival nos arredores de Betânia. A data é 1938.
– Eu sou o portador. Agora olhe para nós, quem nos tornámos.
O meu inútil acesso de vergonha é a sensação de ultraje de Charlie.
As refeições da noite na casa de Salah em Sídon davam uma ilusão de calma mágica depois das tribulações do dia. A casa apresentava buracos de balas; um foguete israelita disparado do mar trespassara uma parede sem explodir. Mas havia cães preguiçosos e flores no jardim, e uma lareira com lenha a arder e costeletas de cordeiro na mesa. A mulher de Salah, Dina, é uma princesa hachemita que foi em tempos casada com o rei Hussein da Jordânia. Fez os seus estudos num colégio particular britânico e estudou inglês no Girton College, na universidade de Cambridge.
Com sabedoria, tato e muito humor, Dina e Salah providenciaram a minha educação na causa palestiniana. Charlie está sentada ao meu lado. Da última vez que houve uma batalha campal em Sídon, diz‑me Salah com orgulho, Dina, uma mulher franzina de reconhecida beleza e força de caráter, conduziu o Jaguar antigo deles até à cidade, foi buscar uma pilha de pizas à padaria, dirigiu‑se para a linha da frente e insistiu em entregá‑las pessoalmente aos combatentes.
***
É um fim de tarde de novembro. O Presidente Arafat e o seu séquito vieram a Sídon celebrar o décimo sétimo aniversário da Revolução Palestiniana. O céu está preto‑azulado, a ameaçar chuva. Todos os meus guarda‑costas menos um desapareceram quando nos apinhámos às centenas na rua estreita onde decorrerá o desfile – todos menos o inescrutável Mahmoud, um membro da minha escolta, que não anda armado, não dispara sobre gatos da janela da casa de Salah, é quem melhor fala inglês e ostenta um ar de distância misteriosa. Nas últimas três noites, Mahmoud desapareceu completamente, só regressando à casa de Salah ao amanhecer. Agora, nesta rua alvoroçada e cheia de gente, enfeitada com bandeiras e balões, mantém‑se possessivamente ao meu lado, um pequeno e anafado rapaz de dezoito anos com óculos.
O desfile inicia‑se. Primeiro os músicos e os porta‑estandartes; a seguir a eles, uma carrinha com um altifalante a berrar palavras de ordem. Robustos militares fardados e dignitários oficiais de fatos escuros juntam‑se num pódio improvisado. O keffiyeh branco de Arafat avista‑se entre eles. A rua explode em celebração, um fumo verde perpassa sobre as nossas cabeças e torna‑se vermelho. Desenrola‑se um espetáculo de fogo de artifício, com a ajuda de munições, apesar da chuva que cai, enquanto o nosso líder se mantém de pé, imóvel, na parte da frente do palco, representando a sua própria efígie à luz bruxuleante do fogo de artifício, com os dedos erguidos num sinal de vitória. Agora são as enfermeiras do hospital, com crachás com crescentes verdes, agora crianças mutiladas de guerra em cadeiras de rodas, agora guias e escuteiros do Ashbal, a balouçarem os braços e a marcharem dessincronizados, agora um jipe com um carro alegórico atrelado em que se encontram combatentes envoltos na bandeira palestiniana, apontando as suas Kalashnikovs aos céus enegrecidos de chuva. Mahmoud, muito perto de mim, acena‑lhes animadamente e, para minha surpresa, eles viram‑se em bloco e retribuem‑lhe o aceno. Os rapazes no carro alegórico são o resto da minha escolta.
– Mahmoud – berro‑lhe com as mãos em concha à volta dos lábios. – Porque é que não está com os seus amigos, a apontar a sua arma ao céu?
– Não tenho arma, Mr. David.
– Porque não, Mahmoud?
– Faço trabalho noturno!
– Mas o que é que você faz à noite, Mahmoud? É espião? – pergunto, baixando a voz o melhor que posso por entre o alarido.
– Mr. David, não sou espião.
Mesmo por entre o clamor, Mahmoud continua indeciso quanto a confiar o seu grande segredo.
– Viu no peito dos uniformes do Ashbal a fotografia de Abu Amar, o nosso Presidente Arafat?
Vi, Mahmoud.
– Eu pessoalmente, toda a noite, num local secreto, com um ferro quente, decalquei no peito dos uniformes do Ashbal a fotografia de Abu Amar, o Presidente Arafat.
E tu serás de quem Charlie mais gostará, penso.
***
Arafat convidou ‑me a passar a noite de Passagem de Ano com ele numa escola para os órfãos dos mártires da Palestina. Enviará um jipe a buscar‑me ao meu hotel. O hotel era ainda o Commodore, e o jipe integrava‑se numa caravana que seguiu em fila cerrada por uma estrada de montanha cheia de curvas a grande velocidade passando por postos de controlo libaneses, sírios e palestinianos sob a mesma chuva torrencial que parecia sempre ensombrar os meus encontros com Arafat.
A estrada era de uma só faixa, de terra batida e a desmoronar‑se sob o dilúvio. Pedras soltas estavam constantemente a atingir‑nos, levantadas pelo jipe à nossa frente. Abriam‑se vales a centímetros da berma, revelando pequenos tapetes de luzes a centenas de metros abaixo. O veículo que liderava a caravana automóvel era um Land Rover vermelho blindado. Constava que nele ia o nosso Presidente. No entanto, quando chegámos à escola os guardas disseram‑nos que nos tinham enganado. O Land Rover era apenas um engodo. Arafat encontrava‑se em segurança no andar de baixo, na sala de espetáculos, a saudar os seus convidados da Passagem de Ano.
De fora, a escola parecia‑se com qualquer casa modesta de dois andares. Uma vez dentro, apercebíamo‑nos de que nos encontrávamos no andar superior e de que o resto do edifício se desenrolava em socalcos pela colina abaixo. Os homens armados do costume, com keffiyehs, e mulheres jovens com cintos de munições atravessados no peito vigiavam a nossa descida. A sala de espetáculos era um enorme anfiteatro apinhado de gente, com um palco de madeira, e Arafat estava de pé na fila da frente por baixo dele, a abraçar os seus convidados enquanto a sala apinhada ribombava com os trovões rítmicos de palmas. Fitas coloridas de Ano Novo pendiam do teto. As paredes estavam enfeitadas com palavras de ordem da Revolução. Fui impelido na direção de Arafat e, mais uma vez, ele recebeu‑me com o seu abraço ritual, enquanto homens grisalhos com vestuário de caqui e coldres me agarravam a mão e berravam saudações de Ano Novo sobrepondo a sua voz às palmas. Alguns tinham nome. Outros, como o adjunto de Arafat, Abu Jihad, tinham noms de guerre. Outros ainda não tinham nome. O espetáculo começou. Primeiro, as meninas da Palestina sem pais, a dançar numa roda, a cantar. A seguir os rapazes sem pais. Depois todas as crianças juntas a dançarem o dabke e a trocarem Kalashnikovs ao ritmo das palmas da multidão. À minha direita, Arafat estava de pé, com os braços estendidos. A um aceno do guerreiro de rosto sombrio do seu outro lado, agarrei o cotovelo esquerdo de Arafat e, entre nós, arrastámo‑lo para o palco e subimos com ele.
Em piruetas entre os seus queridos órfãos, Arafat parece delirante. Pegou na ponta do seu keffiyeh e está a fazê‑lo girar como Alec Guinness a desempenhar o papel de Fagin no filme de Oliver Twist. A sua expressão é a de um homem enlevado. Estará a rir‑se ou a chorar? Seja como for, a sua emoção é tão evidente que pouco importa. Agora está a fazer‑me sinal para o agarrar pela cintura. Alguém me agarra pela minha. A seguir nós todos – o alto comando, os civis, as crianças extasiadas – e sem dúvida toda uma série de espiões de todo o mundo, já que, provavelmente, nunca ninguém na história foi mais exaustivamente espiado do que Arafat – formamos um crocodilo com o nosso líder à cabeça.
Descemos um corredor de cimento, subimos um lanço de escadas, atravessamos uma galeria, descemos outro lanço de escadas. O bate‑bate dos nossos pés substitui as palmas. Por trás ou acima de nós vozes tonitruantes começam a cantar o hino nacional da Palestina. De algum modo, lá arrastamos os pés de volta ao palco. Arafat avança para a parte dianteira, faz uma pausa. Por entre o rugido da multidão, mergulha nos braços dos seus combatentes.
Na minha imaginação, a minha extasiada Charlie está a dar ‑lhe vivas retumbantes.
Oito meses depois, em 30 de agosto de 1982, na sequência da invasão israelita, Arafat e o seu alto comando foram expulsos do Líbano. Das docas de Beirute, disparando as suas armas para o ar em desafio, Arafat e os seus combatentes partiram para as docas de Tunes, onde o presidente Bourguiba e o seu gabinete estavam à sua espera para os receber. Um hotel de luxo nos arredores da cidade tinha sido transformado à pressa no novo quartel ‑general de Arafat.
Algumas semanas depois, fui lá vê‑lo.
Um longo caminho conduzia a uma elegante casa branca situada entre dunas. Dois jovens combatentes exigiram saber ao que eu vinha. Não houve sorrisos rasgados, nenhum dos gestos habituais da cortesia árabe. Eu era americano? Mostrei ‑lhes o meu passaporte britânico. Com um sarcasmo mordaz, um deles perguntou se por acaso eu não teria ouvido falar dos massacres de Sabra e de Chatilla. Disse‑lhe que tinha visitado Chatilla uns dias antes e que me sentia profundamente afetado por tudo o que vira e ouvira enquanto lá estivera. Disse‑lhe que vinha ver Abu Amar, um termo de familiaridade, e apresentar‑lhe as minhas condolências. Disse que nos tínhamos encontrado algumas vezes, em Beirute e de novo em Sídon, e que tinha passado a noite de Ano Novo com ele na escola para os órfãos dos mártires. Um dos rapazes pegou num telefone. Não ouvi dizer o meu nome, embora ele tivesse o meu passaporte na mão. Pousou o auscultador, disse‑me um seco “Venha”, tirou uma pistola do cinto, apontou‑ma à têmpora e fez‑me marchar por um corredor comprido até a uma porta verde. Abriu‑a com uma chave, devolveu‑me o passaporte e empurrou‑me pela porta para o ar livre. Diante de mim estendia‑se um picadeiro de chão de areia. Yasser Arafat, com um keffiyeh branco, andava às voltas montado num bonito cavalo árabe. Fiquei a vê‑lo completar um circuito, depois outro e mais um terceiro. Mas ou ele não me viu ou não me quis ver.
***
Entretanto, Salah Tamari, meu anfitrião e comandante das milícias palestinianas no Sul do Líbano, estava a receber o tratamento devido ao combatente palestiniano da mais alta patente que alguma vez tinha caído nas mãos dos israelitas. Encontrava‑se em prisão solitária em Ansar, a notória cadeia de Israel, submetido ao que atualmente nos apraz chamar interrogatórios aprimorados. Intermitentemente, ia também formando uma estreita amizade com um reputado jornalista israelita chamado Aharon Barnea, que o visitava, o que resultou na publicação da obra de Barnea Mine Enemy [Meu Inimigo] e confirmou, entre outros pontos de acordo mútuo, o empenho de Salah na coexistência israelo‑palestiniana em vez da perene e inútil luta militar.


















