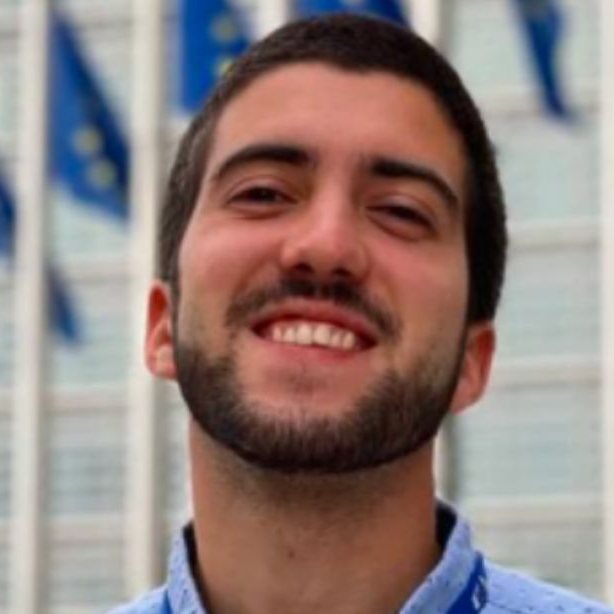O livro foi originalmente publicado em 1995, há mais de 20 anos, quando a velha Britannia era de novo cool e reconquistava um swing que parecia perdido desde a década de 60. Em todo o mundo havia fãs do Manchester United e do Liverpool, dos Blur e dos Oasis, da Union Jack e de miniaturas das cabines telefónicas e dos autocarros “double deckers“.
Esta reedição (já uns anos depois da primeira tradução para português) chega na altura certa, em que a tal coolness parece desaparecer, com o Reino Unido de saída da União Europeia. Mas não é só agora com o Brexit que a Grã-Bretanha se transforma numa ilha à parte, muito mais distante da Europa continental do que parece, a ter em conta o que diz a geografia. Bill Bryson, autor americano dedicado à ficção mas também à história, política e sociedade, reuniu em Crónicas de uma Pequena Ilha retratos recolhidos atentamente durante os 20 anos em que viveu em Inglaterra. São relatos quotidianos mas recheados de idiossincrasias, daquelas que prometem não desaparecer — na verdade, é provável até que se acentuem. Este é o primeiro capítulo do livro.
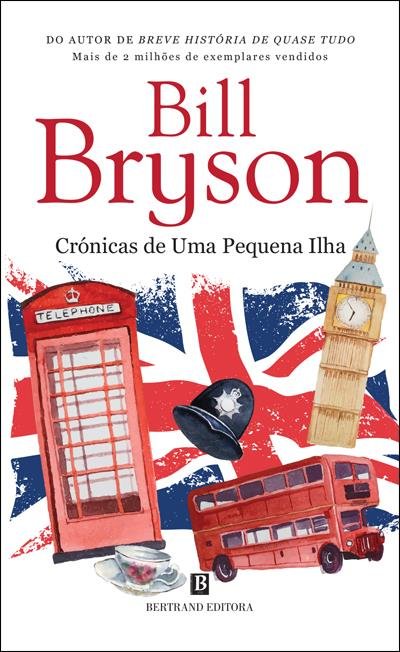
“Crónicas de uma Pequena Ilha”, de Bill Bryson; 17,70€, 470 págs (Bertrand)
“Há certos conceitos específicos que acabamos por aceitar naturalmente quando vivemos durante muito tempo na Grã-Bretanha. Um deles é que os verões ingleses costumavam ser mais compridos e quentes. O outro é que a equipa de futebol de Inglaterra não deve recear a Noruega. O terceiro consiste na ideia de que a Grã-Bretanha é um país de grandes dimensões. Este último é o mais delicado.
Se estivermos num pub e dissermos que pretendemos ir de carro de Surrey à Cornualha, uma distância que os americanos fazem à vontade para ir comprar um taco, os nossos acompanhantes enchem as bochechas de ar, olham significativamente uns para os outros e sopram de seguida dizendo «Bem, isso é um bocado complicado», partindo então para uma longa discussão muito animada sobre se é melhor ir pela A30 até Stockbridge e depois tomar a A303 até Ilchester ou a A361 até Glastonbury, via Shepton Mallet. Em breve, a conversa mergulha num nível de pormenor que nos deixa, a nós, estrangeiros, com a cabeça a andar à roda.
— Está a ver aquele desvio para estacionamento à saída de Warminster, aquele que tem a britadeira com o manípulo partido? — diz um deles. — Sabe com certeza, logo a seguir ao desvio para Little Puking, mas antes da minirrotunda da B6029. Junto ao sicómoro seco.
Nesta altura, constatamos que somos os únicos que não estamos a acenar afirmativamente.
— Bem, uns quatrocentos metros adiante, não na primeira curva à esquerda, mas na segunda, há um caminho estreito entre duas sebes de arbustos, principalmente pilriteiros à mistura com algumas aveleiras. Bem, se seguir por essa estrada, passa pelo reservatório da água e por baixo da ponte do caminho de ferro, e vira logo à direita junto ao Buggered Ploughman…
— Um barzinho muito agradável — interrompe alguém (normalmente, é sempre um tipo de camisola grossa de lã). — Servem lá uma Old Toejam muito agradável.
— … e continua por aquele caminho de terra batida, através do campo de tiro do exército, contorna as traseiras da fábrica de cimento e vai parar à estrada secundária B3689 de Ram’s Dropping. Poupa-se uns três a quatro minutos e evita-se atravessar a passagem de nível em Great Shagging.
— A menos que venha de Crewkerne — acrescenta alguém vivamente. — Nesse caso, se vier de Crewkerne…
Se dermos dois nomes de localidades da Grã-Bretanha a dois ou mais indivíduos quando estivermos num pub, é motivo para se ficar entretido a falar durante horas seguidas. Onde quer que seja o nosso destino, é sempre viável, desde que evitemos Okehampton, a rotunda de Hanger Lane, o centro de Oxford e a saída para oeste da Severn Bridge, entre as quinze horas de sexta-feira e as dez horas de segunda-feira, exceto nos feriados oficiais em que não se deve ir a lado nenhum.

Oxford
Por fim, quando estão discutidos todos os pormenores sobre as estradas secundárias, os locais de mais acidentes e os sítios onde se pode arranjar uma sanduíche de toucinho fumado, e tudo de um modo tão exaustivo que os ouvidos estão quase a rebentar, um elemento do grupo vira-se para nós e, depois de beber um gole de cerveja, pergunta-nos quando é que tencionamos partir. Numa situação como esta, nunca devemos responder com a verdade e dizer de modo descontraído «Não sei bem, talvez por volta das dez», pois eles irão começar tudo de novo.
— Dez horas? — dirá um deles, surpreendido. — Dez da manhã? — E o seu rosto fica com o aspeto de quem apanhou com uma bola de críquete no escroto e não quer dar parte de fraco pois a namorada está a ver. — Bem, é lá consigo, evidentemente, mas se fosse eu que quisesse estar na Cornualha às três horas de amanhã, já teria saído ontem.
— Ontem? — dirá alguém a sorrir perante um otimismo tão descabido. — Mas, Colin, acho que se está a esquecer de que é a semana de férias do meio do período escolar em North Wiltshire e West Somerset. Entre Swindon e Warminster, o trânsito deve estar infernal. Na minha opinião, devia ter partido há uma semana, antes da terça-feira passada.
— E este fim de semana há o Great West Steam Rally, em Little Dribbling — irá acrescentar alguém do outro lado da sala, avançando na nossa direção, pois é sempre agradável dar as más notícias do trânsito. — Deve haver cerca de 375 mil veículos a caminho da rotunda Little Chef, em Upton Dupton. Uma vez, estivemos cerca de onze dias num engarrafamento nesse local, só para sair do parque de estacionamento. Devia ter partido quando ainda estava no ventre de sua mãe ou, melhor ainda, quando não passava de um espermatozoide, e mesmo assim não encontrava lugar para estacionar para lá de Bodmin.
Uma vez, quando era mais novo, levei a sério todo este tipo de avisos alarmantes. Fui para casa, preparei o despertador, acordei a família toda às quatro da manhã no meio de grandes protestos e angústias e, às cinco horas, já os tinha todos metidos no carro e partia. Como resultado, chegámos a Newquay a tempo de tomar o pequeno-almoço e tivemos de esperar ainda sete horas até podermos ocupar um dos míseros chalés que nos disponibilizaram no aldeamento de férias. E o pior foi que eu só tinha concordado ir para lá pois julgava que a cidade se chamava Nookie e queria arranjar uma coleção de postais da localidade.
O facto é que o povo britânico tem uma noção das distâncias muito particular, que é partilhada na generalidade através da convicção de que a Grã-Bretanha é uma ilha completamente isolada no meio de um vasto oceano. Ah, sim! Sei que todos estão conscientes, em abstrato, de que existe por perto uma grande extensão continental chamada Europa, onde é preciso ir, de tempos a tempos, dar «uma tareia aos alemães» ou passar umas férias no Club Med, mas que, de facto, fica sensivelmente tão longe como o Disney World. Se os nossos conhecimentos de geografia mundial se basearem apenas no que dizem os jornais e a televisão, então só nos resta concluir que a América fica quase ao pé da Irlanda, que a França e a Alemanha estão ao lado dos Açores, que a Austrália fica situada numa zona quente do Médio Oriente e que quase todos os outros estados independentes ou são inventados (como, por exemplo, o Burundi, El Salvador, a Mongólia e o Butão) ou só se pode lá chegar com uma nave espacial. Consideremos o tempo de noticiário que a Grã-Bretanha gasta a falar de personalidades americanas sem importância, como Oliver North, Lorena Bobbitt e O. J. Simpson — um homem que praticou um desporto que a maioria dos britânicos não compreende e que depois fez publicidade de rental cars —, e comparemos com todas as notícias publicadas anualmente sobre a Escandinávia, Áustria, Suíça, Grécia, Portugal e Espanha. É incrível. Se houver uma crise política em Itália ou um acidente nuclear em Karlsruhe, a notícia pode ocupar uns vinte centímetros de uma página interior. Mas se uma mulher em Shitkicker, na Virgínia Ocidental, num ato de desespero, tiver cortado e atirado pela janela fora o pénis do marido, é notícia principal do Noticiário das Nove e o jornal The Sunday Times irá mobilizar a sua equipa de «investigação». Estão a ver a cena.
Depois de estar a viver há já um ano em Bournemouth e de ter comprado o primeiro carro, recordo-me de tentar sintonizar as estações no rádio do automóvel e ficar admirado por apanhar a maior parte delas em língua francesa; a seguir, fui olhar para o mapa e reparei, também com espanto, que estava muito mais próximo de Cherbourg do que de Londres. No dia seguinte, contei este facto aos meus colegas de trabalho e a maioria recusou-se a acreditar. Mesmo quando lhes mostrei o mapa, fizeram um ar de dúvida, chegando a comentar «Sim, está bem, pode ser mais perto, mas no sentido de proximidade física», como se eu estivesse a ser muito exigente e fosse necessária uma nova conceção de distância assim que se passasse o canal da Mancha — e, de facto, nesse sentido eles tinham razão. Mesmo agora, fico estupefacto ao constatar que se pode apanhar o avião em Londres e, em menos tempo do que demora tirar a tampa de um daqueles pequenos recipientes de leite UHT e despejar o seu conteúdo sobre si próprio e sobre o homem que estiver ao seu lado (e é espantosa a quantidade de leite que aquelas pequenas embalagens contêm, não é verdade?), chegar a Paris ou a Bruxelas onde todos se parecem com Yves Montand ou Jeanne Moreau.
Faço esta referência porque passei pelo mesmo tipo de assombro quando estava numa praia suja de Calais, numa tarde de outono anormalmente clara e luminosa, a olhar para uma mancha que se destacava no horizonte e que me pareceu nitidamente serem as falésias brancas de Dover. Teoricamente, sabia que a Inglaterra ficava à distância de uns vinte e tal quilómetros dali, mas custava-me acreditar que pudesse estar numa praia no estrangeiro e vê-la, de facto. Fiquei tão admirado que tive de o confirmar com um indivíduo que vinha a passar por perto, no seu andar vagaroso e pensativo.
— Excusez-moi, monsieur — perguntei no meu melhor francês. — C’est Angleterre ali adiante?
O indivíduo largou os seus pensamentos e olhou para onde eu estava a apontar, fazendo-me um aceno melancólico com a cabeça, como a dizer-me «É isso mesmo», e continuou a andar no seu passo vagaroso.
— Imaginem! — exclamei, e fui visitar a cidade.
Calais é uma cidade interessante que existe apenas para proporcionar aos ingleses vestidos com roupa leve e desportiva um local onde ir durante o dia. Por ter sido muito bombardeada durante a guerra, foi parar às mãos de engenheiros projetistas do pós-guerra e o resultado foi ficar a parecer-se com o remanescente de uma Exposition du Cément de 1957. No centro da cidade, erguem-se inúmeras estruturas, principalmente à volta da sombria Place d’Armes, que parecem ter sido inspiradas em embalagens de supermercado, nomeadamente nos pacotes das Jacob’s Cream Crackers. Algumas delas ficam mesmo de um lado e do outro das estradas — ainda a marca dos projetistas da década de 1950, impressionados com as novas oportunidades dadas pelo betão. Um dos edifícios principais do centro é um Holiday Inn, tipo embalagem de cornflakes.

O autor, Bill Bryson
Mas nada daquilo me afetou. O sol brilhava como num ameno verão indiano e eu estava em França, com aquela disposição de espírito que se tem no início de uma longa viagem e a perspetiva estonteante de vir a passar semanas a fio sem fazer praticamente nada e a chamar-lhe trabalho. Recentemente, eu e minha mulher tínhamos tomado a decisão de ir viver algum tempo nos Estados Unidos, para que os miúdos pudessem experimentar a vida num outro país e ela tivesse a possibilidade de andar às compras, sete dias por semana, até às dez da noite. Tinha lido há pouco tempo que 3,7 milhões de americanos, de acordo com as sondagens Gallup, acreditavam já ter sido raptados por extraterrestres, e deste modo era evidente que o meu povo precisava da minha ajuda. Mas eu insisti em obter uma última visão de Grã-Bretanha — fazer uma espécie de viagem de despedida daquela simpática ilha onde vivi durante tanto tempo da minha vida. Vim até Calais, pois queria voltar a entrar em Inglaterra pelo mar, como fiz da primeira vez. No dia seguinte, iria apanhar o primeiro ferry e começar a minha descoberta da Grã-Bretanha, observando os seus aspetos públicos e privados, na sua essência, mas hoje queria estar despreocupado e disponível para fazer o que mais me agradasse.
Fiquei desiludido ao ver que as pessoas que andavam pelas ruas de Calais não se pareciam com Yves Montand ou Jeanne Moreau ou mesmo com o magnífico Philippe Noiret, pois a maioria eram bretões vestidos com roupa desportiva. O seu aspeto fazia logo pensar em apitos ao pescoço e bolas de futebol, mas em seu lugar arrastavam sacos pesados contendo garrafas que tilintavam e queijos de cheiro desagradável, interrogando-se por que razão os tinham comprado e o que é que iriam fazer até à hora de apanhar o barco das quatro de regresso a casa. Conseguíamos ouvi-los a resmungar baixinho, infelizes, quando passavam perto de nós. «Sessenta francos por uma embalagem de queijo de cabra? E ela nem nos vai agradecer por isso.» Tinham todos o aspeto de quem está a morrer por tomar uma chávena de chá ou comer qualquer coisa boa. Lembrei-me de que se podia ganhar bom dinheiro a vender hambúrgueres num quiosque. Até lhe podia chamar Hambúrgueres de Calais.
Escusado será dizer que, além de fazer compras e resmungar baixinho, não há muito mais a fazer em Calais. Existe a famosa estátua de Rodin do lado de fora do Hôtel de Ville e um único museu, o Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle («Museu das Artes Belas e dos Dentes», se é que ainda sei alguma coisa de francês), mas este estava fechado e ir visitar o Hôtel de Ville era muito cansativo — e de qualquer modo a estátua de Rodin vinha em todos os postais. Acabei por andar como todos os outros a meter o nariz nas lojas de lembranças para turistas que, por sinal, abundam em Calais.
Por razões que nunca percebi, os franceses têm um talento especial no que diz respeito a arranjar imagens religiosas de muito mau gosto, vendendo-as depois como lembranças. Numa loja de aspeto sombrio, na esquina da Place d’Armes, encontrei uma de que gostei: uma Virgem Maria de plástico, em pé com os braços estendidos, dentro de uma espécie de gruta feita de conchas, estrelas-do-mar em miniatura, ramos de algas secas com aspeto rendilhado e a pinça polida de uma lagosta. Colada na parte de trás da cabeça da imagem da Nossa Senhora, havia uma auréola feita de uma argola de reposteiro de plástico e, em cima da pinça da lagosta, o artista criador daquele exemplar desenhou cuidadosamente um «Calais!», que lhe dava um aspeto despropositadamente festivo. Hesitei em comprar porque era muito cara, mas, quando a dona da loja me mostrou que também se podia ligar à corrente e ficava iluminada como uma feira em Margate, a única dúvida que me surgiu foi se havia de trazer mais do que uma.
— C’est très jolie — disse ela, um pouco surpreendida, quando percebeu que eu estava preparado para pagar bem pela imagem, e apressou-se a embrulhá-la e a receber o dinheiro antes que eu reconsiderasse e gritasse: «Mas onde é que eu estou? E que porcaria de merda francesa é esta que tenho diante de mim?»
— C’est très jolie — continuou ela em voz baixa como se receasse acordar-me do meu torpor. Acho que não vendia um daqueles Candeeiros Especiais da Virgem-Maria-no-meio-das-Conchas, há já muito tempo. O certo é que, quando a porta da loja se fechou atrás de mim, ouvi nitidamente um grito de satisfação.
Mais tarde, para festejar, entrei num café popular, situado na Rue de Gastou Papin et Autres Dignitaires Obscures, e pedi um café. Portas adentro, Calais tinha um aspeto mais tipicamente gaulês. As pessoas cumprimentavam-se com dois beijos na face e deixavam-se envolver na atmosfera de fumo azulado dos seus Gauloises e Gitanes. Uma mulher de porte elegante, vestida de preto, que estava numa extremidade da sala, fazia lembrar Jeanne Moreau a fumar um cigarro e a beber um copo de Pernod, antes de entrar numa cena de funeral do filme “La Vie Drearieuse”. Escrevi um postal para enviar à família e apreciei o meu café, passando o resto do tempo até escurecer a fazer sinais amistosos mas inúteis ao empregado atarefado, na esperança de o atrair até à minha mesa e regularizar a modesta despesa que fiz.
Jantei muito bem e barato num pequeno estabelecimento do outro lado da rua — uma coisa há que reconhecer: os franceses sabem fazer batatas fritas — e bebi duas garrafas de Stella Artois num café onde fui servido por um sósia de Philippe Noiret, com um avental de empregado de matadouro, regressando cedo ao quarto do hotel onde brinquei um pouco com a minha Madona de conchas. Em seguida, deitei-me e passei a noite a ouvir o ruído de carros a chocarem lá em baixo.
De manhã, tomei o pequeno-almoço cedo, paguei a conta ao Gerard Depardieu — fiquei mesmo surpreendido — e saí do hotel pronto a começar mais um dia cheio de expectativas. Agarrei num pequeno mapa insuficiente que vinha junto do bilhete do ferry e fui à procura da estação fluvial. No mapa parecia ficar muito próximo, praticamente no centro da cidade, mas, de facto, ficava a uma distância de uns três quilómetros, na ponta de uns terrenos baldios de refinarias de petróleo, fábricas abandonadas e áreas repletas de velhas vigas de ferro e pilares de betão meio destruídos. Dei comigo a passar através de buracos feitos em vedações fechadas com correntes e a caminhar cuidadosamente pelo meio de carruagens de comboio enferrujadas e com os vidros das janelas partidos. Não sei como fazem as outras pessoas para apanhar o ferry em Calais, mas tive a impressão de que ninguém o havia feito ainda daquela maneira. E ao mesmo tempo que caminhava, ia ficando receoso — ou melhor, em pânico —, a pensar que a hora da partida se estava a aproximar e a estação, embora sempre visível, nunca mais aparecia de facto.

Os ferries saídos de Calais a caminho da Grã-Bretanha
Por fim, depois de ter atravessado rapidamente uma estrada de dois sentidos e trepado com dificuldade por um aterro, cheguei ofegante e atrasado, com ar de quem sobreviveu a um rebentamento de minas, e fui empurrado para dentro de um autocarro de pequeno curso por uma mulher autoritária que devia estar com sérios problemas de dismenorreia. No caminho, examinei cuidadosamente a minha bagagem e descobri consternado que a Madona, de que tanto gostava e que fora tão cara, tinha perdido a auréola e estava a largar as conchas.
Entrei no barco a suar e inquieto. Admito que não sou bom marinheiro. Enjoo até nos barcos a pedais. Também não ajudou o facto de ser um daqueles Ro-Ro ferries (abreviatura de roll on e roll over) e eu estar a confiar a minha vida nas mãos de uma companhia que primava em se esquecer de fechar as portas da proa, o equivalente, em termos de náutica, a esquecermo-nos de tirar os sapatos antes de entrar na banheira.
O barco estava apinhado de gente, na sua maioria ingleses. Passei o primeiro quarto de hora a deambular de um lado para o outro, admirado como aquela gente conseguira chegar ali sem se sujar, metendo-me depois no meio da confusão da loja franca. Assim que consegui sair de lá, dei uma volta pela cafetaria com um tabuleiro na mão, a olhar para a comida, mas voltei a colocá-lo no seu lugar (pois havia uma fila enorme) e fui procurar um lugar para me sentar no meio de um bando de crianças cheias de vida e muito excitadas. Por fim, consegui sair para o convés onde havia muito vento e se encontravam 274 pessoas de lábios arroxeados e cabelos a esvoaçar, tentando convencer-se de que pelo facto de haver sol não podiam estar com frio. O vento batia nos anoraques, provocando um ruído que fazia lembrar disparos de arma, fazia as crianças fugir do convés e, para deleite de todos nós, atirou com uma chávena de chá de plástico para o colo de uma senhora muito gorda.
Em breve se viam as falésias brancas de Dover, erguendo-se do mar e inclinando-se na nossa direção. Em menos de nada, estávamos a apontar para o porto de Dover e a entrar desajeitadamente na doca. Enquanto se ouvia uma voz a mandar os passageiros que vinham a pé reunirem-se num ponto de saída a estibordo, no convés ZX-2 junto ao Sunshine Lounge — como se isso tivesse algum significado para alguém —, começámos todos, muito confusos, a fazer grandes explorações por todo o barco, cada um por seu lado: subindo e descendo escadas, passando pela cafetaria e pelo salão da classe club, dentro e fora dos porões, pelas cozinhas cheias de marinheiros da costa oriental da Índia afadigados e de volta à cafetaria, mas entrando pelo lado contrário, até que, finalmente — sem sabermos como — viemos parar cá fora, debaixo daquele sol fraco, mas sempre agradável, característico de Inglaterra.
Passados tantos anos, estava ansioso por voltar a ver Dover. Dirigi-me para o centro da cidade, ao longo da avenida marginal, e descobri com satisfação o abrigo onde tinha passado a noite muitos anos antes. Estava coberto de uma série de camadas de pintura amarelo-esverdeada, mas o resto era igual. A vista sobre o mar era a mesma, mas a cor deste estava mais azul e brilhante do que naquela época. Tudo o mais tinha mudado. Onde me recordava de haver uma série de casas iguais e elegantes, de estilo georgiano, erguiam-se agora grandes blocos de apartamentos em tijolo. Townwall Street, a estrada principal para ocidente, estava mais larga e com mais trânsito do que antigamente e havia uma passagem subterrânea que ia dar ao centro da cidade, o qual também estava irreconhecível.
A principal artéria comercial tinha sido vedada ao trânsito e reservada a peões, a Market Square fora transformada numa espécie de galeria coberta com um pavimento cheio de desenhos e as habituais decorações de ferro fundido. Todo o centro da cidade parecia estar desagradavelmente delimitado por ruas muito largas e movimentadas, que não existiam anteriormente, e haviam construído um grande edifício para turistas chamado White Cliffs Experience, onde se presume, pelo nome, que é possível descobrir a sensação de se ser um penhasco de pedra com 800 milhões de anos. Não reconheci nada. O problema que existe em relação às cidades inglesas é que quase não se distinguem umas das outras. Em todas elas se encontram estabelecimentos como Boots, W. H. Smith e Marks & Spencer. Podia-se estar em qualquer lugar, na verdade.
Caminhei lentamente pelas ruas, com ar triste, pelo facto de um lugar tão importante na minha memória se apresentar tão pouco familiar. Depois, ao passar pela terceira vez pelo centro da cidade, numa rua estreita onde eu juraria nunca ter andado, deparei com um cinema que reconheci ser aquele onde passava o filme Suburban Wife-Swap, apesar da pretensa fachada renovada, pelo que, subitamente, tudo me pareceu muito claro. Agora que tinha arranjado um ponto de referência, já sabia onde me encontrava. Caminhei cerca de uns 500 metros para norte e depois para oeste — quase que o podia fazer de olhos vendados — e dei comigo em frente do estabelecimento da senhora Smegma. Era ainda um hotel e parecia muito pouco alterado, tanto quanto me lembrava, exceto a existência de um lugar para estacionamento de veículos no jardim da frente do edifício e um letreiro de plástico a anunciar que havia televisão a cores e quartos com casa de banho. Pensei em bater à porta, mas achei que não valia a pena. A terrível senhora Smegma já devia ter ido embora há muito tempo — ter-se-ia reformado ou morrido, ou talvez ainda vivesse numa daquelas casas de repouso que proliferam pela costa sul. De certeza que não conseguiu fazer face aos pequenos hotéis britânicos modernos, com casas de banho privativas, serviço especial de cafés e entrega de pizas nos quartos.
Se ela estiver numa casa de repouso, o que é certamente a minha primeira escolha, espero que o pessoal tenha a compaixão e o bom senso de lhe ralhar constantemente por molhar o tampo da sanita, por não acabar o pequeno-almoço e se sentir geralmente desamparada e cansada. Seria o ideal para se sentir como em casa. Com estes pensamentos agradáveis na cabeça, subi a Folkestone Road até à estação de caminho de ferro e comprei um bilhete para o primeiro comboio que seguisse para Londres.”