Índice
Índice
Partindo de quatro obras com publicação recente em Portugal – Feminismo de A a Ser, de Lúcia Vicente (2019), Feminismo para os 99%: um Manifesto, de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser (2019), e Todos devemos ser feministas (2015) e Querida Ijeawele: como educar para o feminismo (2018), de Chimamanda Ngozi Adichie – procuraremos traçar os contornos de um discurso que tem marcado, com progressiva força, o espaço público em Portugal: o discurso feminista.
Inspiramo-nos no título do livro de Francisco Bosco, A vítima tem sempre razão? Lutas identitárias e o novo espaço público brasileiro, para apresentar um argumento paralelo e que nos permite responder, de imediato, à questão colocada. Embora muitos tópicos feministas mereçam preocupação social e reflexão política (desde os números trágicos de violência doméstica ao incumprimento da legislação laboral), uma feminista pelo simples facto de ser feminista não tem sempre razão. Na verdade, o feminismo traduz-se num conjunto de ideias que fornece um vocabulário através do qual acedemos e interpretamos o mundo e constitui, nessa medida, uma ideologia. Como ideologia, afirma-se contra outras ideias que identifica como rivais e com quem disputa a hegemonia do espaço público. Como ideologia, não se traduz num acesso privilegiado à Verdade mas, antes, numa questão de aceitação dos seus pressupostos. E como ideologia, importa estar sujeita a escrutínio crítico. É esse o nosso objetivo.
Uma questão ideológica
Em Feminismo de A a Ser, Lúcia Vicente procurou sintetizar “o que é o feminismo, os seus movimentos, os seus universos paralelos”. O livro cobre um amplo espectro de tópicos, muitas vezes de forma confusa e com pouco rigor nos termos, apresentando o grande defeito dos escritos deste tipo: ao tentar simplificar um universo demasiado complexo, acaba por dar origem a um discurso incoerente. Este aspeto é especialmente notório no tratamento lacunar que é dado à disputa sobre a biologia na discussão feminista. Importa não esquecer que parte significativa do debate atual sobre feminismo ocorre em torno de questões sobre género e transexualidade, com investidas ferozes de ambas as partes. E basta pensar em toda a polémica em torno da participação de mulheres transgénero em competições desportivas femininas para perceber que as coisas são muito mais complexas do que o modo como Vicente as coloca.
Ainda mais relevante, contudo, é a omissão às várias formas de pensar o feminismo, isto é, aos vários feminismos que compõem o feminismo. A consideração das quatro vagas feministas (que Vicente aborda) não permite capturar as duas correntes centrais do feminismo (que Vicente ignora). Mas é no cruzamento entre essas quatro vagas e duas correntes que as lutas feministas se tornam mais claras.
Designemos a primeira dessas correntes como feminismo de cariz liberal. Quando lemos os textos de Chimamanda Ngozi Adichie encontramos a defesa de que às mulheres deve ser permitido tudo o que é permitido aos homens. As diferenças biológicas entre os dois sexos – que as há, de acordo com Adichie, e que justificaram o modo como as sociedades historicamente se organizaram – não justificam hoje a sociedade que temos. O mundo mudou, a tecnologia transformou radicalmente o nosso modo de vida e, por isso, não há razão para que antigas divisões baseadas no género subsistam. As sociedades atuais, diz-nos a escritora nigeriana, devem assegurar direitos iguais para homens e mulheres e a missão das mulheres e homens feministas passa por sensibilizar todos os outros para as alterações de mentalidade que é necessário imprimir na sociedade. Objetivo: que as futuras jovens não venham a nascer num mundo que trata desigualmente homens e mulheres.
Como se nota, não há aqui recusa do modo como o jogo funciona – apenas uma reivindicação de que as regras sejam adaptadas por forma a permitir às mulheres participar no jogo. Como disse Adichie em entrevista ao Expresso: “Em geral, agrada-me o capitalismo humano. Não sou anticapitalista. Sou anti certas formas de capitalismo.” É também esta a posição de Sheryl Sanberg: no seu livro Faça acontecer — Lean in: mulheres, trabalho e a vontade de liderar, a diretora de Operações do Facebook procura instigar as mulheres a um comportamento que as faça vingar num mundo dominado por homens (lean in), sem pôr em causa esse mundo.
Ora, esta visão é irreconciliável com o posicionamento expresso por Nancy Fraser, Tithi Bhattacharya e Cinzia Arruzza em Feminismo para os 99%: um Manifesto. Como dizem as autoras:
[a]pesar de condenar a “discriminação” e defender a “liberdade de escolha”, o feminismo liberal recusa-se terminantemente a enfrentar as condicionantes socioeconómicas que tornam a liberdade e o empoderamento impossível para a larga maioria das mulheres. O seu verdadeiro objetivo não é a igualdade mas a meritocracia. Em vez de procurar abolir a hierarquia social, visa “diversificá-la”, “habilitando” mulheres “talentosas” a chegar ao topo.
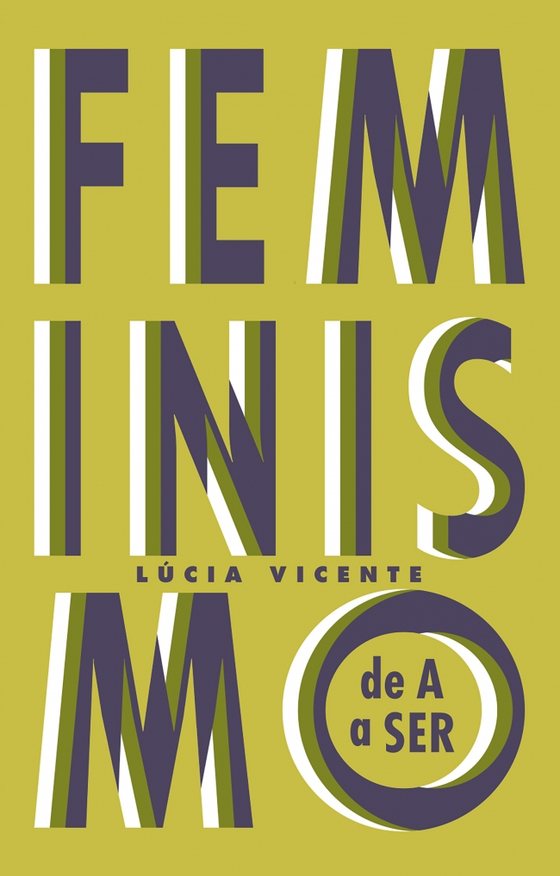
“Feminismo de A a Ser”, de Lúcia Vicente (Objectiva)
Esta é, então, a segunda corrente que referimos, assumidamente anticapitalista: de acordo com ela, a luta feminista não é uma questão de tornar o mundo do poder acessível às mulheres; o ponto é antes o de contestar o próprio sistema, o de abolir a própria ideia de poder a ser exercido por poderosos sobre os mais fracos. Não interessa que Christine Lagarde ocupe pela primeira vez a presidência do BCE, Ursula von der Leyen a presidência da Comissão Europeia ou Kristalina Georgieva a direção do FMI. Na verdade, são organizações infames pelo que é indiferente se quem as lidera é um homem ou uma mulher. O que é necessário é desmontar o jogo vigente. Nesse sentido, falar de um mundo feminista, como faz Lúcia Vicente, é usar um termo vazio: as propostas de uma e outra corrente originariam mundos radicalmente diferentes.
O feminismo radicalizado
Na sua pureza teórica, estes dois feminismos são incompatíveis, mas os últimos anos têm assistido à divulgação de um discurso que aproximou a corrente liberal da corrente antissistema, numa síntese de radicalização. O que conduziu a isso? Todas as ideologias (sejam elas comunistas, (neo)liberais, socialistas ou anarcocapitalistas) assentam na seguinte dualidade: de um lado, temos um conjunto de ideias acerca de como funciona o mundo e de como deveria funcionar; do outro, temos o próprio mundo. E o problema é que o mundo nem sempre está interessado nas nossas posições ideológicas – ou porque é demasiado complexo para a ilusão humana de que o podemos controlar ou porque as pessoas que nos rodeiam teimam em não ver o mundo da mesma forma.
No domínio feminista, isto traduziu-se no seguinte processo: ao longo das últimas décadas, sucessivas reformas foram sendo implementadas para tentar corrigir as regras do jogo e torná-lo mais “igualitário” ou “inclusivo”. Ainda assim, o mundo não se tornou aquilo que as feministas idealizavam. Pior ainda: algumas medidas originaram mesmo resultados distintos dos pretendidos ou esperados (pensemos no paradoxo da igualdade de género, a propósito das sociedades nórdicas). Ora, quando esperamos que o mundo assuma a forma que pretendemos e isso não acontece, medra a ideia de que meras reformas não são suficientes – é preciso algo mais radical. Afinal, todo o jogo social parece viciado.

“Feminismo para os 99%”, de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Frase (Objectiva)
Assim, mesmo posições moderadas foram adotando o princípio de que o culpado é uma entidade abstrata que designam como patriarcado e que precisa de ser erradicado. O discurso feminista passou a estar orientado para a luta contra a sociedade, contra a estrutura, contra o sistema. A mulher, independentemente da sua condição concreta, assume estruturalmente o papel de vítima e todos os homens, independentemente da sua situação concreta, garantem estruturalmente o estatuto de privilegiado.
Há muitas variações nesta radicalidade, desde as conceções próximas de Andrea Dworkin e Catherine MacKinnon (que entendem que o sistema patriarcal consubstancia uma relação de dominação de tal ordem que toda a relação heterossexual é violenta, ilegítima e imoral) presentes na vaga feminista que nasceu com o #metoo, às ações intersecionais contra violações galináceas. Mas o que é comum ao discurso radicalizado atual é a ideia de poder e de que todas as relações sociais consubstanciam dinâmicas de poder – uma herança foucaultiana, que gera três graves problemas visíveis nos nossos dias.
A luta pelo poder
O primeiro desses problemas prende-se com o seguinte aspeto: considerar que todas as dinâmicas sociais se limitam a reproduzir lógicas de poder significa subscrever uma visão agonística da política enquanto palco de luta constante. Não é por acaso que este tipo de ativismo surge designado, no mundo anglo-americano, como SJW (Social Justice Warriors): se se trata de uma luta, então devemos ser guerreiros. E se é verdade que a política, na sua essência, contém uma dimensão de disputa, reduzir a política unicamente à luta transforma-a numa zona de guerra permanente onde não é possível o diálogo. Em sentido clássico, a política pode ser entendida como a disputa de razões e a arte do compromisso – mas quando visualizamos o próprio compromisso como resultado de dinâmicas de poder, então minamos qualquer possibilidade de ação política. Ora, é precisamente esta dimensão de polarização, entrincheiramento e violência que observamos na política atual, especialmente ampliada pelas tecnologias digitais.
Em consequência, o domínio público e político tem passado a ser dominado por um discurso de ódio e raiva. E isto diz-nos muito da sociedade moderna: enquanto as virtudes antigas valorizavam a moderação e o bom senso, hoje raiva e ódio são consideradas formas legítimas, e até mais válidas, de discurso. A esse propósito, diz-nos Adichie em dois momentos:
Há pouco tempo, escrevi um artigo sobre o que significa ser uma jovem mulher em Lagos. Um conhecido disse-me que havia muita raiva no texto, que eu não me deveria ter expressado assim. Mas eu não via razão para me desculpar. É claro que eu estava com raiva. A questão de género, como está estabelecida hoje em dia, é uma grande injustiça. Estou com raiva. Devemos ter raiva. Ao longo da história, muitas mudanças positivas só aconteceram por causa da raiva. (2015)
Lembras-te de como nos fartámos de rir com um artigo atrozmente escrito sobre mim há uns anos? O autor acusava-me de estar “furiosa”, como se “estar furiosa” fosse alguma coisa de que uma pessoa devesse envergonhar-se. É claro que estou furiosa. (2018)
Mas quando vivemos numa sociedade assente em luta, ódio e raiva, que espaço sobra para uma convivência comunitária saudável e equilibrada?
Em terceiro lugar, importa destacar o processo de legitimação que está subjacente a esta luta. De onde vem a legitimidade para intervir no espaço político? Este tipo de ideologias identitárias assenta num fenómeno que podemos designar como a epistemologia do eu: o conhecimento e a sua validação dependem apenas da nossa vivência pessoal. Se uma feminista interpreta todas as experiências negativas como resultado de ações discriminatórias pelo facto de ser mulher, isso é suficiente. Não precisamos já do outro, em especial do que é mais distante, para validar o nosso conhecimento – a verdade já não é solidariedade, no sentido expresso por Richard Rorty. O que conta é a forma como cada um interpreta a sua vivência. Adichie deixa isso especialmente evidente quando, na mesma entrevista, afirma:
Enviámos os nossos trabalhos por e-mail. O professor imprimiu-os todos, pegou num e disse: “Este é o melhor trabalho de todos. Quem o escreveu?” Chamou pelo meu último nome, e eu levantei a mão. Ele olhou para mim e ficou surpreendido. Foi um momento muito breve, mas deu para perceber a sua surpresa. Percebi que estava surpreendido por eu ser negra.

“Todos Devemos ser Feministas”, de Chimamanda Ngozi Adichie (D. Quixote)
Nesta história, Adichie refere-se à sua experiência como negra, mas o sentido dá forma ao seu pensamento feminista: ela interpretou a situação e essa interpretação corresponde à verdade. O problema é que, quando não abrimos espaço ao outro e à possibilidade de a nossa experiência pessoal não constituir toda a verdade, caímos numa lógica conspirativa. Se só a minha interpretação dos acontecimentos é válida, tudo o que dizem contra mim está errado e é feito para me prejudicar – só posso confiar naqueles que reforçam as minhas ideias e validam as minhas experiências. E isto é típico dos sistemas fechados: a voz dos outros só interessa enquanto caixas de ressonância das minhas próprias palavras; as outras vozes, as diferentes, as discordantes, devem ser caladas ou penalizadas.
Ganhar a luta, perder a luta
Devemos, contudo, notar que, quando adotamos uma perspetiva filosófica e ideológica sobre o mundo, ficamos cativos dessa perspetiva e sujeitos às suas contradições e dificuldades. É precisamente o que acontece com esta subscrição de que “tudo é poder e dinâmicas de poder”. Terminaremos a nossa análise, destacando três dessas dificuldades.
A primeira delas prende-se com a ambiguidade do mundo real. O que significa exatamente “a libertação da mulher”? Quem decide os termos e a natureza dessa libertação? Quem valida a saída do cativeiro? É possível ser-se livre e muçulmana? É fácil falar em libertação da mulher – mas, em concreto, em que consiste? Por outro lado, a complexidade da vida real desafia o pressuposto de todos os movimentos identitários: em que sentido é que ser mulher constitui toda a experiência pessoal, justificando um compromisso de sororidade incondicional e a defesa de valores comuns? Um exemplo deixará esta problemática mais evidente: o direito à interrupção voluntária da gravidez não é moralmente aceite por todas as mulheres – e isto porque há muitas formas de olhar para o mundo e muitas camadas que compõem o ser humano para lá do seu sexo.

“Querida Ijeawele: como educar para o feminismo”, de Chimamanda Ngozi Adichie (Bertrand)
Em segundo lugar, o feminismo radical tem gerado efeitos nocivos no que diz respeito ao próprio sentido do poder da mulher. Se, discursivamente, a luta se diz pelo poder, a prática mostra-nos que a luta feminista criou uma autoimagem da mulher como vítima de que o homem é o único culpado (pensemos na introdução de todo um vocabulário que diaboliza o homem: mansplaining, manspreading, manterrupting). Há dois problemas nesta imagem. Por um lado, a demonização do homem não só gera efeitos contraprodutivos para as mulheres, como nota Camille Paglia, como produz injustiças particulares contra indivíduos concretos, como chama a atenção Francisco Bosco. Por outro lado, esta cultura de vitimização espoleta dinâmicas perversas de competição pelo estatuto de vítima-maior e está muito longe do feminismo empoderador e libertador – pelo contrário, fragiliza e enfraquece a mulher, como defende Laura Kipnis. O pensamento feminista radicalizado parece ter-se limitado a substituir um cativeiro por outro cativeiro.
Por fim, a maioria das feministas parece ignorar uma lição política básica: todos os discursos geram contradiscursos, todas as ações geram reações – e quanto mais radical for um discurso, mais radical será a resposta. No domínio feminista, tal tem originado reações, por sua vez radicalizadas e polarizadas, de movimentos que reivindicam direitos para os homens. A riqueza de Margaret Atwood está muito na capacidade de perceber este aspeto. Na verdade, o primeiro passo para agirmos de modo inteligente em termos políticos é aceitar que o mundo não gira apenas em torno do nosso umbigo. Mas isso é algo que o feminismo radicalizado, que se tornou hegemónico no espaço feminista e tem vindo a conquistar espaço público, parece incapaz de compreender.
Patrícia Fernandes é professora da Universidade da Beira Interior e da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho


















