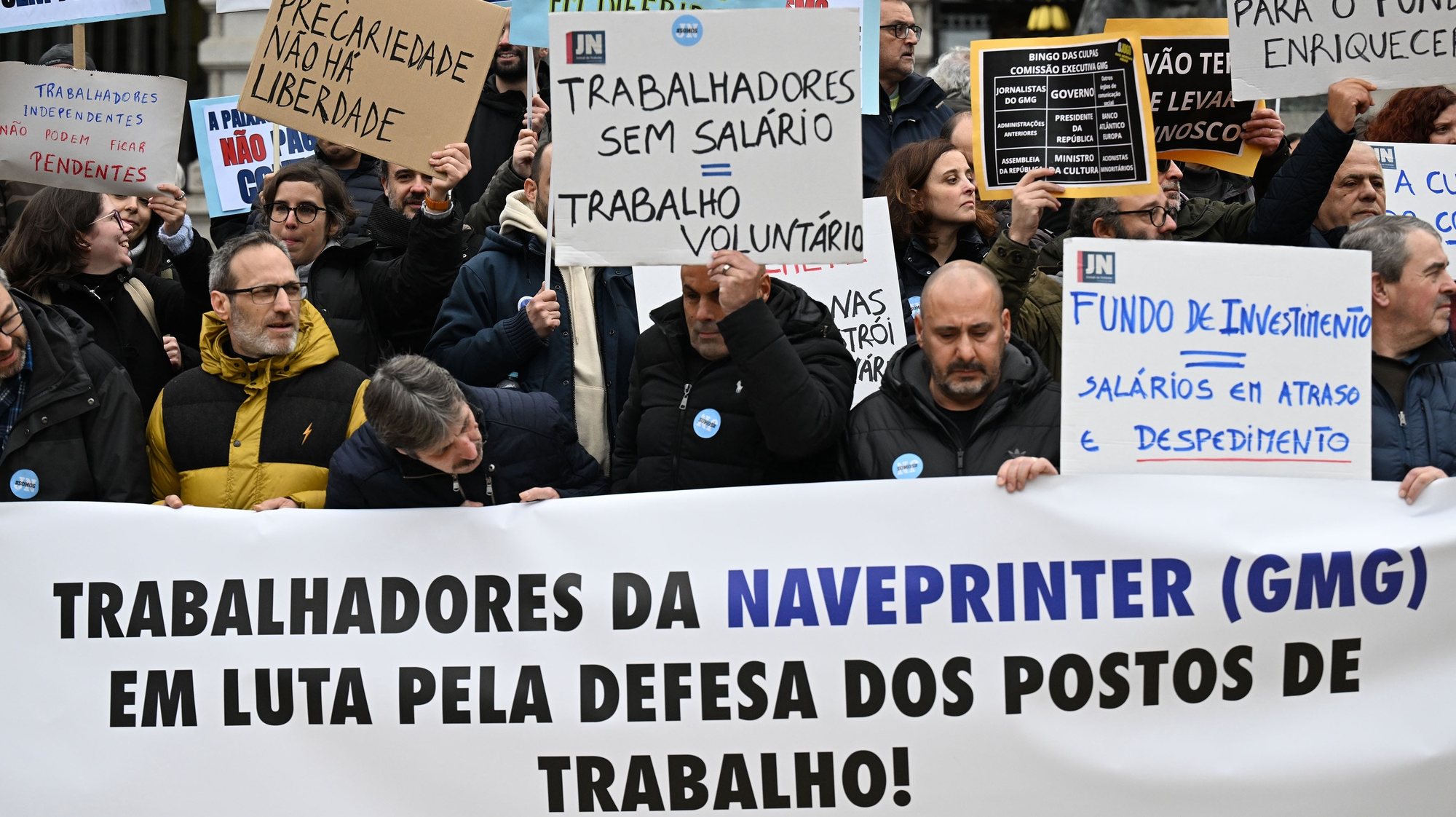Índice
Índice
Para que servem estas listas? A resposta está numa das seguintes opções, ou em todas elas, junta: para serem consultadas por quem, no final do ano, gosta de pensar em algo como “o que será que passou na TV que vale a pena e eu não vi?”; para quem quer sugestões de prendas, talvez alguma destas produções esteja por aí à venda em DVD ou blu-ray ou algo assim, embora na idade do streaming essa coisa de comprar uma série pareça meio pateta; porque é assim que funciona isto do final do ano nos jornais, que agora já não são em papel mas continuam a chamar-se “jornais”. Seja como for, estes são os favoritos (e os outros) para os colaboradores do Observador que costumam escrever sobre a matéria. De nada, ora essa:
Alexandre Borges
Melhor Série: “Wild Wild Country” (Netflix)
Aproveitemos a lacuna na lei. Ninguém disse que tinham de ser séries ficcionais e, no fim de contas, esta, como outras verdades, supera qualquer ficção. “Wild Wild Country” é a série documental dirigida por Maclain e Chapman Way para a Netflix, acerca do caso “Rajneeshpuram”. Rajneesh, ou Bhagwan, ou Osho, foi um líder espiritual que emergiu nos anos 60 na Índia e alcançou fama mundial no auge do new age. Em conflito com as autoridades indianas, emigrou para o Oregon (EUA), onde montou, com o seu gigante séquito de colaboradores e seguidores, uma polémica, mas, aparentemente, muitíssimo feliz comunidade que vivia de acordo com os seus ensinamentos.
“Wild Wild Country” tem acesso a uma tão inesperada como admirável quantidade de material vídeo da época e da vida no interior da comunidade, escolhe meticulosamente os seus entrevistados (a princípio, não percebemos porque são aqueles. Aos poucos, vamos percebendo o papel fundamental que cada um desempenhou no extraordinário desenlace da história) e, sobretudo, escolhe um elegantíssimo e inteligente ponto de vista sobre a história, que nos deixa a nós, espectadores, a responsabilidade de decidir de que lado esteve o fanatismo neste caso, o que é a liberdade, o que é a responsabilidade, onde traçar a fronteira entre o bem e o mal – e já agora, o que é que tudo isto nos pode dizer sobre os dias de hoje e as tensões interculturais que vivemos.
“Wild Wild Country”: a história de uma seita que é mais empolgante do que qualquer série
Pior Série: a temporada de “Guerra dos Tronos” que não houve
Uma pessoa habituou-se àquilo desde 2011 e, depois, é difícil. Já tínhamos de lidar com os dez meses anuais em que não há “Guerra dos Tronos”; pedir que essa abstinência alastre aos vinte ou mais meses é forçar a barra, desumano. Enquanto esperamos a derradeira temporada de “GoT” (que, ainda por cima, chegou a estar prometida para 2018 e só depois foi adiada para 2019 – é brincar com os sentimentos de uma pessoa), tentamos aplacar o sofrimento com outras coisas. Placebos. “Stranger Things”? Simpático. “La Casa de Papel”? Quase que era muito bom. “Mindhunter”? Força, rapazes. Numa fraqueza, vamos a “This is Us” – um bocadinho moral de mais, não? “Handsmade’s Tale” – bonito, duro, mas vai acontecer alguma coisa? Não vai? É agora? Não é?… E nisto se passa o tempo, sem uma morte inesperada, sem uma traição horripilante, sem um amor macabro, sem uma tirada do melhor cinismo intemporal, sem uma batalha épica pela família e entre dragões. Olá, eu sou o Alexandre e já não vejo um episódio de “Game of Thrones” há um ano e quatro meses.
Melhor Personagem: Berlin (“La Casa de Papel”, Netflix)
Não é só o amor entre seres humanos que está em crise; é também o amor entre os seres humanos e as suas séries de TV. Antigamente, o casamento era para a vida toda: com o “MacGyver”, a “Missão Impossível”, o “Poirot” – uma pessoa ficava com eles para sempre, independentemente dos defeitos. Hoje, não. Hoje, está-se deslumbrado com “GoT” agora, depois já é com o “Mr. Robot”, depois com o “Stranger Things”, a seguir o que está a dar é o “Narcos”, esqueçam, é o “El Marginal”, o “Peaky Blinders”, o “Americans”, o “Maniac”, puf. Uma pessoa está sempre a chegar tarde – é muito pior que a moda. O caso mais evidente é, porventura, “La Casa de Papel”.
[a personagem “Berlin”, em “La Casa de Papel”:]
No início do ano, não se falava noutra coisa; chegados a Dezembro, aproxima-se da relíquia saudosista. O surpreendente golpe de asa de Álex Pina não confirmou tudo o que de bom prometeu nos primeiros episódios. Mas pôs deu-nos Úrsula Corberó, pôs o mundo a cantar o “Bella Ciao” até à náusea e pode ter feito um milagre pela produção europeia e latina que elas nunca terão como agradecer. Quando os episódios se começaram a suceder em conversa sensível a dois após conversa sensível a dois, uma só personagem prosseguiu em trajectória ascendente até final, cada vez mais contraditória e humana, admirável e detestável, sólida e real: o “Berlin” de Andrés de Fonollosa. Às vezes, o único vilão da série, outras o herói; a hipérbole de uma certa forma da condição humana em que a consciência da finitude pode mudar quase tudo. Termina a última temporada de forma épica, num acto de justiça dos criadores para com a personagem.
Entrevista com Berlín, de “A Casa de Papel”: “Foi em Lisboa que dei os primeiros passos como ator”
Melhor Episódio: “Moinhos de Vento” (“Maniac”, Netflix, Ep.1.02)
“Maniac” é daquelas que ainda consegue peitar no pátio. Se ainda não viu, pode pôr-se em bicos de pés e apanhar facilmente os únicos 10 episódios que estrearam em Setembro na Netflix e que existem por enquanto. Baseada num original norueguês, a série de Cary Fukunaga (“True Detective”) e Patrick Somerville é um bom exemplo da capacidade de atracção que a televisão consegue exercer hoje sobre a indústria: os protagonistas são Jonah Hill (ou o que sobrou dele depois de uma dieta ou tratamento maluco qualquer) e Emma Stone, uma das mais preciosas princesas do momento em Hollywood; entre os secundários, nãos e surpreenda de encontrar ainda Gabriel Byrne ou Sally Field. “Maniac” acompanha o mergulho de dois inadaptados – o esquizofrénico Owen Milgrim (Hill) e a pessoa-que-convive-bem-com-as-drogas Annie Landsberg (Stone) – nos testes de um novo medicamento psiquiátrico que se anuncia absolutamente seguro e milagroso. O tema, a estrutura do argumento, a forma como não se oferece imediatamente à leitura e a estética retrofuturista prometem; mais ainda não sabemos, porque ainda não vimos. Fica este como o melhor episódio, que é o segundo, mas também o último que vimos. E o último que vimos, nas séries de que gostamos, é sempre o melhor. Até ao próximo.
[“o trailer de Maniac”:]
Melhor série que vi este ano, mas, vai-se a ver, não era deste ano: “Taboo” (BBC) (2017)
Há dois chavões muito irritantes quando se fala de séries: o “com o selo de qualidade BBC” está cheio de bolor e o “eu agora só vejo Netflix” cheio da bazófia pseudo-moderninha que se espalha como uma praga nos dias que correm. “Taboo” desmonta ambas: não está na Netflix e, sendo da BBC, não tem bolor algum desse pretenso “selo” (aliás, tal como, por exemplo, “Sherlock”); ou, se tem o selo, está todo besuntado de sangue, lama e outras viscosidades. Protagonizada por um dos actores mais interessantes do nosso tempo, Tom Hardy, e baseada numa história criada por ele mesmo e pelo pai, Edward Hardy, acompanha o embate entre o regressado James Keziah Delaney, a Companhia das Índias Orientais e a Coroa Britânica no século XIX, pela posse de Nootka Sound, uma ilhota no Pacífico que pode, na verdade, ser chave na reorganização da navegação marítima mundial. Uma intriga política, densamente coberta por camadas de mistério quanto aos passados das personagens – assombrações, incestos, crimes, talvez até canibalismos – quem sabe? Recomenda-se, além de tudo o mais, a magnífica banda sonora de Max Richter.
[o trailer de “Taboo”:]
Ana Markl
Melhor Série: “Kidding” (Showtime)
Actores incríveis — Jim Carrey, Frank Langella, Catherine Keener — a ser ainda mais incríveis que o habitual. A perfeita tradução da vida em metáfora e da metáfora em possibilidades infinitas através da imaginação plástica de Michel Gondry. “Kidding” não é uma série, é um milagre.
[o trailer de “Kidding”:]
Pior Série: “A Maldição de Hill House” (Netflix)
Na sua forma até encontramos pormenores curiosos, mas alguém se esqueceu de encher o bonito chouriço. Do desfile de assombrações eficazes e de realização virtuosa, resta pouco do que devia funcionar como parábola. Os diálogos e as personagens são uma miséria.
[o trailer de “A Maldição de Hill House”:]
https://www.youtube.com/watch?v=G9OzG53VwIk
Melhor Personagem: Jeff Pickles (por Jim Carrey, em “Kidding”)
Quando nem a perda abala a bondade de um homem, corre-se o risco de que a bondade o torne inadaptado ao ponto de se tornar mau. Não é só a personagem e a sua evolução, é a forma como Jim Carrey lhe dá corpo.
Melhor Episódio: “Kintsugi” (ep. 7 de “Kidding”)
Aplica-se a toda a série, mas este episódio, em particular, consegue misturar simbolismo, insinuação, surrealismo e verdade bruta, tudo no mesmo registo, tudo a fazer sentido e quase sem darmos pelas variações.
Melhor série que vi este ano, mas, vai-se a ver, não era deste ano: “BoJack Horseman”, de Raphael Bob-Waksberg (Netflix)
Diziam-me que custava a entrar na primeira temporada e por isso guardei-a para quando parti uma perna e precisei fortemente de “binge watching”. Acontece que, se o espectador deixar de ser caprichoso e continuar a ver daí para a frente, essa primeira temporada ganha ainda mais sentido ao lado das excelentes que se lhe seguem. Um primor de construção de personagens.
[o trailer de “BoJack Horseman”:]
André Santos
Melhor Série: “Atlanta”, Segunda Temporada (Fox Comedy)
Há uma forma muito fácil de explicar “Atlanta” como “Melhor Série”: passou pela dificuldade em escolher o “Melhor Episódio” para esta lista. Existiam quatro de “Atlanta” e, bem, outro. Embora a soma de coisas seja uma justificação preguiçosa para um “melhor” ou um “primeiro lugar”, há também que considerar que a série criada por Donald Glover é, de facto, a melhor coisa que aterrou na sala de estar em 2018 (embora a Fox Comedy tenha dificultado muito esse processo, mas isso é outra história). Uma pessoa esquece-se, por vezes, com tanta coisa que vê, que a sequência de episódios “Teddy Perkins”, “Champagne Papi”, “Woods” e “North Of The Border” proporcionou as duas melhores horas de televisão, aliás, de consumo de qualquer média, de 2018.
[o trailer da segunda temporada de “Atlanta”:]
Por diferentes razões, qualquer um desses episódios recusa um “género” e perde a noção de entretenimento. São livres, experiências, que vivem além de 2018 num momento em que a televisão, o seu consumo, está saturado de binge e de urgência. A primeira temporada de “Atlanta” prometia mais ou menos isto, mas a segunda está noutro nível. Coloquem ao lado da melhor televisão: “The Wire, “The Sopranos”, “Black Mirror”, etc. Botem os olhos nisto.
Melhor Episódio: South Park – “The Problem With A Poo”
Nas últimas quatro temporadas, “South Park” tem-se debatido com a sua existência num mundo de julgamentos apressados e de censura espontânea. À vigésima segunda temporada é difícil convencer alguém da relevância de “South Park”, porque para muitos é um aglomerado de referências de personagens, algo estúpido ou ofensivo ou, bem, está na vigésima segunda temporada. Continua relevante, talvez ao nível da sua melhor fase (entre a sétima e a décima temporada) e nesta optou por desistir de compreender o mundo. Como é que uma série de humor vence se perde aquilo que a caracteriza, o humor?
[o resumo do episódio num minuto:]
Bem, Trey Parker e Matt Stone respondem com dez episódios que se afundam nos absurdos das justificações e das polémicas dos últimos anos. “The Problem With A Poo”, que o Guardian explica, muito bem, neste artigo, mostra como uma das séries mais importantes da cultura popular das últimas três décadas deve reflectir a sua existência quando não existe um lugar para si. E, enquanto o faz, resolve os seus problemas com a acidez e clarividência sobre a sociedade que sempre a caracterizou. Ao fim de 22 temporadas já se deveria saber que os exageros de “South Park” são mera futurologia. Trey e Matt sempre viram à frente de todos nós.
Melhor Personagem: Sara, “Sara” (RTP2)
Há uma dia em que simplesmente deixa de conseguir fazer aquilo pelo qual é reconhecido por fazer. E bem. A premissa de “Sara” é essa. Sara é atriz e há um dia em que não consegue mais chorar. Por problemas da sua vida pessoal, porque também está farta de ser essa pessoa – a que chora, em filmes que não respeita – e porque, como todos nós, por vezes procuramos algo novo. O pormenor – exagerado, talvez – fala um pouco sobre a forma como silenciamos a inconformidade para bem do nosso bem-estar. Bruno Nogueira idealizou Sara para a sua mulher, Beatriz Batarda, e juntou Marco Martins e Ricardo Adolfo para contar esta história.
[o trailer de “Sara”:]
“Sara”/Sara parte dessa premissa para contar uma história sobre o meio audiovisual em Portugal, o passado e o presente, e, enquanto o faz, desenha crítica e autocrítica, explora narrativas e metanarrativas, com um jogo de cintura que agrada a diferentes tipos de público. E no que toca a nós, portugueses, consumidores de televisão, entretenimento: andamos sempre à procura do novo Herman José, ou de um novo Ricardo Araújo Pereira, que faça qualquer coisa que abane isto tudo e que sirva de referência, após todo o Herman até ao “Herman Enciclopédia” ou “Gato Fedorento”. “Sara” é um desses momentos e Sara é um veículo das várias intenções de Bruno Nogueira, Marco Martins e Ricardo Adolfo. Precisamos de mais “Saras” e Saras.
Pior Série: “Narcos: México” (Netflix)
Houve dezenas de séries piores que “Narcos: México”. E isto não é um castigo à Netflix por prolongar a marca “Narcos” com soluções abaixo da original e, em última instância, inconsequentes. Ou se calhar é, numa altura em que há um filão de séries e documentários à volta do tráfico de droga e nenhum deles tem a força do “Narcos” original. Ainda não vimos tudo o que há para ver, sim, e há sempre coisas diferentes, novas e chocantes no tráfico de drogas, dezenas de histórias reais que são surpreendentes e fantásticas, etc. Mas deem um descanso à coisa, por favor.
[o trailer de “Narcos Mexico”:]
Melhor série que vi este ano, mas, vai-se a ver, não era deste ano: “Nathan Barley”
Quando se está aborrecido, sem nada para se ver – acontece mais do que se imagina – vai-se ao IMDB e procura-se por trabalhos que ainda não se tenha visto de alguém que se gosta. “Nathan Barley” é de 2005 e é uma mini-série britânica realizada e escrita por Christopher Morris (“The Day Today”, “Brass Eye” e tanta coisa boa) a meias com Charlie Brooker (“Black Mirror”). Como qualquer coisa feita pelos dois, está à frente do seu tempo. Em “Nathan Barley” sente-se a cultura hipster, a gentrificação e a necessidade de se falar mais alto do que o próximo, com a lucidez de quem vê a estupidificação da sociedade a acontecer e a consegue mascarar de outra forma. Estranhamente pertinente em 2018 e ainda muito ruidoso, mesmo para o padrão de 2018.
[um excerto de “Nathan Barley”:]
Menção honrosa (porque não é bem uma série): “American Vandal” – Segunda temporada (Netflix)
A primeira temporada de “American Vandal” foi a melhor série a estrear-se em 2017. Era complicado manter o nível, a relevância e o fator surpresa numa segunda temporada e, por isso mesmo, “American Vandal” não o faz. Se a primeira era uma excelente crítica à cultura de consumo dos “Serial” – em podcast e televisão – desta vida, a segunda gira em volta do bullying e da necessidade de acharmos que somos todos especiais. Não somos, os nossos filhos também não, porque se assim fosse, não se fariam séries sobre a estupidez que isso é. E se a primeira andava à volta de desenhos de piços em carros, esta anda à volta de cocó. Eu sei que é muito complicado alguém perceber como é que isto é bom e pertinente, mas é. E se na sua vida só tem lugar para ver uma coisa que envolva cocó, então é a segunda temporada de “American Vandal”.
[o trailer de American Vandal:]
Susana Romana
Melhor Série: “Better Call Saul” (Netflix/AMC)
Foi uma das discussões do ano para os geeks de séries de televisão, com direito a argumentações acérrimas e ameaças de porrada nunca concretizadas: será “Better Call Saul” melhor do que “Breaking Bad”? A série que serve de prequela àquele que será o advogado de Walter White chegou este ano à sua quarta temporada, num desfilar de episódios que são um portento de escrita, realização e representação. É uma comparação injusta aquela entre uma série de seis temporadas que foi encontrando progressivamente o seu tom e o seu território e outra que pega no conhecimento dessa jornada logo desde o primeiro suspiro. Mas o encanto de “Better Call Saul” é exactamente o de conseguir ser surpreendente mesmo quando já sabemos de ginjeira em que é que aquela história vai dar: o adorável rapaz da sala do correio de um escritório de advocacia Jimmy McGill vai dar lugar ao advogado pintas e corrupto Saul Goodman. Aliás, nós até já sabemos que, quando o império de meth de Walter White implode, Saul Goodman transforma-se por sua vez em Gene Takovic, um desterrado funcionário de uma cadeia de lojas de bolos.
Tal como outros fãs que olham para “Breaking Bad” como o pico de forma de uma era dourada e particularmente competitiva da televisão mundial, também eu recebi com muito cepticismo a notícia de que existiria um “Better Call Saul”. Soava a oportunismo. E de início a ideia que pairava era a de pegar no personagem comic relief e fazer uma série humorística – o protagonista, Bob Odenkirk, é um reputado actor e guionista de comédia, sendo um dos autores dos Simpsons ou dos primórdios do Late Night de Conan O’Brien. Mas o que saiu dali foi totalmente oposto e inesperado: uma série de detalhe, sem receio de tomar o seu tempo, com personagens incríveis que estabelecem relações palpáveis entre si. Odenkirk é, pasme-se, um magistral actor de drama e Rhea Seehorn devia ser uma actriz de A List há anos, a concorrer aos Óscares com a Meryl Streep.
[o trailer da temporada 4 de “Better Call Saul”:]
A quarta temporada debruça-se menos na relação de Jimmy com o irmão (entretanto falecido) e mais naquilo que estávamos aguados para ver: a transformação lenta, pesarosa, dolorosa de um bom rapaz que nos irrita num mau tipo que adoramos. E na última cena do último episódio percebemos, ao mesmo tempo que Kim, que Jimmy McGill já não está entre nós. “It’s all good, man”, assegura ele, numa menção ao nome da sua nova persona. Mas nós já vimos “Breaking Bad”, já vimos o futuro daquela personagem e já sabemos que está tudo muito longe de estar good.
Aguardamos pela conclusão da viagem. Temos mais duas temporadas para decidir o que se começa a alinhavar: talvez o discípulo tenha suplantado o mestre, talvez Guillermo Del Toro tenha razão, talvez “Better Call Saul” seja mesmo superior a “Breaking Bad”.
Pior Série: “Disenchantment” (Netflix)
Os Simpsons são talvez a obra de cultura pop mais influente e persistente da minha vida. Acompanham-me desde os nove anos que tinha quando estrearam na RTP às quintas à noite; escoltaram-me fielmente nas décadas seguintes, nas quais vi e revi tudo mais vezes do que aquelas que consigo contar. Não desisti nem quando o Familiy Guy ou o South Park é que eram a cena e os Simpsons já eram sobretudo um padrão de pijamas da Primark. Por isso, ia com um misto de expectativas e devoção para aquele que é o primeiro projecto original de Matt Groening em vinte anos (pelo meio tivemos o Futurama).
Mas este tal desencantamento é desapontante. É, vá, chato. Bati o meu recorde pessoal de vezes que dormitei no sofá. Vi a série na sua totalidade, há escassos meses, e mal sou capaz de vos descrever quem é quem, tal foi o gigantesco “meh” que “Disenchantment” me mereceu.
A série passa-se num ambiente medieval, com uma princesa rebelde e alcoólica como protagonista. Mas a rebeldia da série é tonta e aborrecida e previsível, como a de qualquer chunga adolescente com a mania. Nada ali é memorável (dos personagens sem apelo aos arcos narrativos sem grande interesse ou graça), num molho de episódios desconexos que ainda por cima no final tentam forçar uma unidade que nunca tiveram só para a história acabar em gancho.
[o trailer de “Disenchantment”:]
https://www.youtube.com/watch?v=Gp_RnJcb8Ig
Em outubro a série foi renovada para mais duas fornadas na Netflix, perfazendo assim quatro temporadas asseguradas no total (foram emitidos 10 episódios da primeira, faltam 10 logo apalavrados da segunda). A primeira mítica temporada dos Simpsons na qual a série encontrou a sua voz e passou a valer verdadeiramente a pena foi, precisamente, a quarta temporada. Talvez “Disenchantment” também precise desse compasso de espera. Mas numa altura em que já não tenho de esperar por uma quinta-feira à noite num canal de sinal aberto para matar a minha fome de séries, talvez eu já não esteja disposta a aguardar esse tempo todo.
Melhor Personagem: Miriam Maisel, “The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime)
Ciclicamente tenho de responder a perguntas sobre ser, supostamente, uma figura feminina num meio eminentemente masculino. Talvez por isso simpatize tanto com a protagonista da nova série de Amy Sherman-Palladino, a criadora de Gillmore Girls.
Miriam “Midge” Maisel é a protagonista de uma série que se revelou na primeira aposta certeira da Amazon Prime. “The Marvelous Mrs. Maisel”, que recentemente estreou a sua segunda temporada, relata a história de uma mulher despachada, de uma clássica família judia cheia de preceitos. O marido, um cómico frustrado que não vai a lado nenhum e se limita a recontar anedotas (olá, “Levanta-te e Ri”), deixa-a depois do vexame de um espectáculo particularmente mau. Desarmada, Midge serve a sua vingança em palco, onde se torna num fenómeno nos clubes nova-iorquinos. Uma espécie de símbolo feminista sem um plano activista, uma miúda que retira genuíno prazer em desconstruir o mundo pela comédia sem reflectir muito nas consequências.
[o trailer de “The Marvelous Mrs. Maisel”:]
O pai de Palladino foi cómico nos anos 50, e por isso Miriam é baseada em várias figuras dessa altura. As homenagens mais óbvias são a Phyllis Diller e, sobretudo, a Joan Rivers. O resto é carisma e diálogos cheios de wit à velocidade da luz – a protagonista (interpretada por Rachel Brosnaha) fala mesmo muito depressa, tendo os guiões 10 a 15 páginas a mais do que o normal para uma série da mesma duração, algo muito Aaron Sorkin. Uma série que vive essencialmente da empatia com a protagonista, com quem eu gostava de ir para os copos uma noite destas.
Melhor Episódio: START, “The Americans” (s06e10) (FOX)
São 90 minutos de derradeiro episódio e de pura tensão. 2018 marcou o final da saga dos Jennings, uma família tipicamente americana. Vá, tirando aquele detalhe de afinal os progenitores serem altamente qualificados espiões russos.
As seis temporadas de “The Americans”, série passada em plena Guerra Fria, são difíceis de ver. Das inúmeras pessoas a quem já a recomendei, raras são as que conseguem acompanhar a história até ao fim. Lenta, tensa e complexa, “The Americans” nunca escolheu o caminho fácil – e o desenlace final fez o mesmo. Já todos sabíamos que o desfecho tinha de ser trágico, mas foi pior do que julgávamos. Mas ao mesmo tempo, talvez seja um final feliz. É se calhar essa uma das premissas mais interessantes de “The Americans”: afinal, que raio é um final feliz?
[o trailer da temporada 6 de “The Americans”:]
A URSS pela qual os Jennings lutaram e por causa da qual se separam tem os dias contados. Mas só nós, em pleno 2018, é o que sabemos. Ali ainda se acredita no sonho, mesmo sabendo que é um sonho construído à base de muitos pesadelos. A última imagem da série é de uma Moscovo repleta de neve, escura, nocturna, imperial, que mistura encanto com dureza. Para trás ficou hora e meia de murros no estômago, de abandono, de lealdade, de escolhas. E no meio do gelo, a beleza: um confronto num parque de estacionamento, que ao longo de uns longos 11 minutos vai do confronto visceral a uma das mais belas declarações de amizade que alguma vez vi.
“The Americans” é frieza e ourivesaria, do início ao fim. E uma coisa vos garanto: mesmo que hoje em dia até tenham um ódio de estimação aos U2, nunca mais vão ouvir “With Or Without You” da mesma maneira. Nem olhar para plataformas de estações de comboio.
Melhor série que vi este ano, mas, vai-se a ver, não era deste ano: “The Good Place”, primeira temporada (de 2016) (NBC/Netflix)
É impossível explicar os encantos de “The Good Place” sem estragar a história e os seus twists a quem nunca viu. Isto terá de chegar: esta sitcom sobre a vida depois da morte mistura bobagem da mais tola com conceitos de filosofia dos mais complexos. Um grupo de quatro indivíduos vai parar ao Lugar Bom, uma espécie de paraíso ao qual se acede com base numa pontuação terrestre. E mais não posso mesmo dizer. Só que Ted Danson é um dos grandes, a personagem Janet é uma das melhores de sempre e agora consigo citar Schopenhauer com precisão. Por tudo isto, vale a pena chegar a “The Good Place”, mesmo que com uma décalage de dois anos. Vai um frozen yogurt?
[trailer de “The Good Place”:]
Menções honrosas (porque não são bem séries, vá):
“Patriot Act”, com o ex-correspondente do Daily Show Hasan Minaj a provar que ainda é possível fazer algo novo no campeonato do humor político e de actualidade. Meio stand up, meio TED Talk, completamente fresco e acutilante. E a prova de que os milenials não andam aqui a dormir e a enfardar tostas de abacate, ao contrário do que acreditam os baby boomers.
“Wild Wild Country”, o documentário sobre a inacreditável seita de Osho na América rural. Mais detalhes aqui.