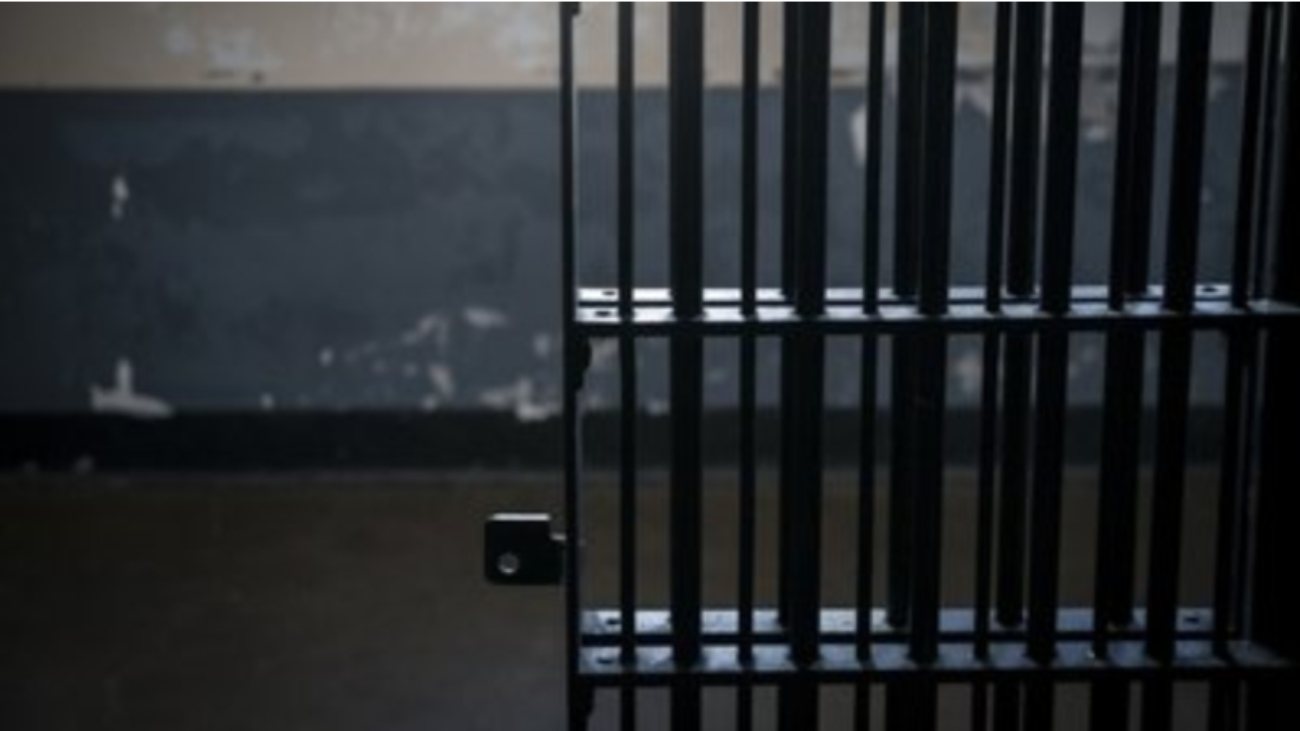Índice
Índice

“Porca? Não me entra cá na cabeça ser da Porca”
Chegados a Ponte de Lima vindos de Lisboa, numa manhã abafada de abril, encostámos o carro depois de atravessar o rio para a outra margem, na direção da Estrada Nacional 201. O Google Maps desconhecia os lugares que procurávamos, mas alguém da terra haveria de saber onde ficam. Nem tempo houve para perguntar da janela as indicações a uma senhora, septuagenária, cabelo de um louro reluzente e florida na vestimenta, que caminhava distraidamente no passeio. Mal o carro parou, a dois passos dela, abriu a porta de trás, preparou-se para entrar, exclamando depois, com um pé dentro e outro fora: “Ai, que me enganei! Pensei que era o carro da minha Ana…”
Não faz mal. Mas lá ficámos a saber que a Porca era mais perto do centro de Ponte Lima do que Cabrão (esse mais para os lados de Paredes de Coura), e que era um lugar na freguesia da Facha. Disse-nos ela que, seguindo pela Estrada Nacional 203, num quarto de hora estávamos lá. Demorámos mais do que isso. Muito mais. É que a freguesia da Facha tem 15 quilómetros mais uns pozinhos e duas encostas: a meia encosta alta (“Meia de Cima”) e a meia encosta baixa (“Meia de Baixo”). Encostámos de novo.
— Porca? Hmmm… Isto aqui é a Meia de Baixo. Isso não sei onde é, mas é capaz de ser lá para a Meia de Cima. Isto aqui é Vitorino de Piães. O melhor é os senhores fazerem meia-volta e seguirem por esta estrada acima. E depois seguem, seguem, seguem… sempre por aí acima! — responde-nos um homem que encontrámos no caminho.
E seguimos. Até que chegámos a Porca. Ou melhor, ao Lugar da Porca. Com uma tabuleta um tanto improvisada à entrada da povoação. Antes, dizia o nome da freguesia: Facha. O último “A” foi raspado, ficando o “FACH” ainda visivel. Logo abaixo, escrito a spray e com a letra desenhada de uma criança na primária, lê-se: “Luçar Porca”. Assim mesmo, com um “C” cedilhado onde se deveria ler um “G”. Era uma entrada inclinada com uma casa logo à direita. Não vivia ninguém nessa primeira casa, velha, cinzentona na traça e de vidraças partidas, com giestas a toda a volta. E continuámos a subir pelo Caminho da Porca, assim se chamava a estrada. Iam-se sucedendo as casas, de um lado e de outro, numa subida que se estreitava cada vez mais, mas onde as portas estavam fechadas, as portadas das janelas também, e tudo quando se ouvia era o correr da água num riacho que nasceria no alto daquele lugar íngreme e desaguaria num fontanário logo à entrada.

O relógio marcava 14h30. Não se via vivalma em Porca. Até que se escutou um ruído, vindo de longe, de cima, diferente do do riacho. E foi-se aproximando, aproximando. Era uma motoreta, antiquada, barulhenta, com um homem que seguia apressadamente para Ponte de Lima, mas lá parou por instantes e nos aconselhou a continuar a subir. Até ao topo da Porca, “mesmo lá em cima”. Mas chegados ao topo, ao fim dos casarios que no começo se ladeavam, não havia nada, e o asfalto foi dando lugar ao empedrado e depois à terra batida. Era aqui? Mas aqui não há nada. E subimos mais. Mais um pouco. Até que avistámos uma casa no alto, a rasgar o cume da serra, um casarão largo, com um miradouro e árvores de fruto, rodeado de um muro alto e com cães a ladrar. Era aquela a casa de Alcinda.
Os cães continuavam a ladrar, denunciando a nossa chegada. Escutava-se também o balir de um rebanho no curral paredes-meias com a casa, mas de Alcinda nem sinal. À entrada, com portões e portas abertas, janelas a arejar e roupa estendida, estava um sino com uma inscrição “RMS Titanic 1912”. Badalámos. E Alcinda veio prontamente, sorridente. Quando dissemos ao que viemos, à procura das origens de Porca e das histórias de quem cá vive, atirou de pronto: “Isto aqui não é a Porca. Isto sempre foi Eido do Monte. Agora é Caminho da Porca-Eido do Monte.”
Como assim? “Esta casa aqui no cimo foi o meu avô que a comprou em 1934. O meu pai veio para aqui com sete anos. Eu tenho 62 anos, cresci aqui e sempre vivi aqui. E isto sempre foi Eido do Monte. Mas há 15 anos, mais ou menos, o presidente da Junta de Freguesia [da Facha] quis que fosse tudo Porca. Ora, se eu nunca fui da Porca, ia lá ser agora?! Não me entrava cá na cabeça ser da Porca…”
E protestou. “Protestei, protestei. Oh se protestei. Mas ele disse-me que tinha que ser. Se tem que ser, tem que ser, respondi-lhe eu. Mas não me convenceu.” Mas o nome “novo” não convence Alcinda por fazer dela uma moradora da Porca ou por enraizamento que tem a Eido do Monte? “Não acho piada nenhuma ao nome. É que as pessoas riem-se de nós quando damos as indicações ou assim. Isto aqui é sossegado, vive-se da terra, vivemos cá vinte e tal pessoas na Porca, e estamos tranquilos. O nome é que não, isso é que não…”
Ah, a propósito, sabe o porquê do nome do lugar? “A minha avó contava-me que era uma mulher muito porca que aqui vivia, que não lavava a roupa ou que não se lavava ela, não sei. Já não era do tempo da minha avó sequer — e ela já morreu há 30 anos. Mas a história que eu sei é essa. Eu tenho três tias-avós, todas com os seus noventa anos, que vivem numa daquelas primeiras casinhas à entrada da Porca. É a segunda à direita, mesmo na curva. Batam lá à porta que elas lhe contam esta história melhor que eu”, sugeriu.
As tias não estavam em casa àquela hora. E deixámos a Porca rumo a uma terra vizinha.
Vai chamar Cabrão a outro!
Porca tinha uma tabuleta a anunciá-la na estrada. Improvisada, mas tinha. Cabrão não. E se dar com a freguesia onde fica este lugar, Cepões, foi fácil, a descoberta do Cabrão parecia uma tarefa impossível. A tarde ia avançando veloz, o calor era mais do que muito àquela hora, e era tempo de parar para refrescar num café de berma, na Estrada Nacional. Mal entrámos, a senhora do outro lado do balcão, vivaça, baixinha, a sorrir, atirou de pronto: “Ó, rapaziada, vocês não são daqui, pois não?”. Conversa puxa conversa, e lá lhe perguntámos onde ficava Cabrão. Era a não mais de 500 metros dali, deixando a Estrada Nacional 202 de lado e escalando pela primeira curva à direita. Mas Cabrão não seria logo, logo ao virar da esquina, e “escalar” é mesmo o verbo a usar. A palavra mais vezes repetida pela senhora do café foi “subir” – onde é que nós já ouvimos isto? “Cabrão, o Lugar do Cabrão, é mesmo lá no alto, onde só há duas casinhas”, explicou-nos.
A estrada, tal como em Porca, começava alcatroada e de vias largas, ia-se estreitando com o chegar do empedrado, até que, na terra batida, o carro só passaria à justa. Chegados até onde a estrada termina, não encontrámos duas casinhas no alto. Aquilo era um alto, sim, mas casas eram seis, três de cada lado, afastadas umas das outras por quintais. Não havia sinal que nos dissesse que aquilo era o Lugar do Cabrão.
A única tabuleta dizia “Travessa dos Barreiros”. A primeira casa tinha o portão exterior aberto, mas tudo o mais fechado lá para dentro. Campainha não havia e ao “Ó-da-casa” ninguém respondeu. A casa seguinte mais fechada estava. Mas havia nela sinais de vida, num pequeno santuário à entrada, escavado na parede, com velas acesas e a queimar não há muitas horas, pois a cera mal havia derretido. Em casa, ninguém. Até que se escutou um grito de aflição: Baaa, baaaaaaa! Ou melhor, um balir. À terceira é de vez e à terceira casa encontrámos gente dentro.
Um mulher idosa, acompanhada de uma contrariada neta adolescente, tosquiava uma ovelha, não com uma máquina de tosquia, mas à tesourada, enquanto segurava nas patas traseiras do animal com uma mão só.
— Shhhhhh, ‘tá qu’eta!
Perguntámos-lhe do portão se ali era o Lugar do Cabrão. “Não é não. A Junta de Freguesia [de Cepões] já quis que fosse, quis que o Cabrão começasse aqui nesta casa, mas nós não quisemos. Isso é lá em cima. Mas olhe que o carro não vai lá. O melhor é deixá-lo aí. Mas encostadinho, que isto aqui tem muito movimento a esta hora”, disse-nos, talvez gracejando (não passou nenhum carro, antes ou depois), sem nunca tirar os olhos da tosquia.
Avançámos por um longo caminho de terra, a pé. Lá longe, vinha um vulto. Ao aproximar-se, vagarosamente, aos socalcos, encontrámos uma mulher, enlutada na roupa que trazia, de postura curvada, a arrastar por um cordel (sempre de costas para nós) um pesado molho de ramos para acender a lareira e cozinhar. Contou-nos, tagarela, que tinha 97 anos, que tinha sido operada a um joelho há poucos meses e por isso coxeava, que os filhos vivem em Ponte de Lima e ela ali sozinha na última casa dos Barreiros.
Mais: contou-nos que Cabrão não era ali, “nem nunca foi”. Ajuda não quis para levar os ramos. No portão da sua casa lia-se, num cartaz e em letras garrafais: “PROIBIDA A ENTRADA A ESTRANHOS”. No fim da estrada de onde a mulher vinha, na direção do Lugar do Cabrão, o caminho separava-se em dois, uma subida à direita, outra à esquerda, ambas sinuosas, ambas estreitas e íngremes. Havia que escolher uma, à falta de indicações. Mas qual?

Valeu-nos a chegada de outra personagem pitoresca, um pastor, ainda adolescente e rosado nas faces, com um rebanho de ovelhas a seu cargo, que confirmou: “Para Cabrão é virar aí à direita, fica no alto, onde só há duas casas. É aí”. A primeira indicação que recolhemos, vinda do café na Estrada Nacional, estava certa. As outras confirmaram-na. Chegados, por fim, a Cabrão, lá estavam as duas casas. Uma delas mais envelhecida, à direita, porém habitada. O cheiro a roupa estendida e acabada de lavar, a terra lavrada e húmida davam-nos conta disso, ainda que àquela hora não estivesse ninguém em casa. Ao lado erguia-se uma casa nova, ainda com os últimos acabamentos por fazer, mas já com portas, janelas e gente e habitá-la. Foi lá que encontrámos Adelino, 48 anos.
– Foi difícil dar com o Lugar do Cabrão. É aqui, não é?
– Não, não. Isso é lá em baixo, de onde vocês vieram! – garante Adelino, apontando para a casa da tosquiadeira. Isto aqui é o Lugar da Bendevisa. Acolá é que é o Cabrão.
Algo não batia certo. A freguesia de Cepões tem os seguintes lugares: Agriboa, Aldeia, Alfarrula, Arco, Aveleira, Barreiros, Bouçois, Cabrão, Carvalhinhos, Carvalho de Mouco, Crasto, Cunha, Ínsua, Mó, Outeiro, Outeiros, Padrão, Parada, Paredes, Pousada, Prelada, Regato, Sobral e Valinha. São 24. E nenhum é Bendevisa. Não insistimos com Adelino. Mas quisemos saber a origem do nome.
“Isso não sei. São histórias muito antigas. E eu nem sou de cá, a minha mulher é que é; eu sou da freguesia do Bárrio. Aqui só vivia a minha sogra, numa casita ali mais abaixo, que até está tombada agora. O que eu sei é que há um rio com esse nome, o rio Cabrão, mas isso é ali para os lados de Arcos de Valdevez, nem é daqui. Se calhar o rio nasce aqui, não sei.”
Vamos recapitular: Adelino, a viver numa de duas casas no alto de um monte onde todos dizem que é Cabrão, nega ser ali a localidade. Os vizinhos lá de baixo, onde Adelino diz que é Cabrão afinal, falam pouco, mas garantem que Cabrão está lá em cima. E esse lugar, o de baixo, até tem um nome: Barreiros. Mas o de cima, nem Bendevisa, nem Cabrão, nada. Se algum dia uma placa houve com Cabrão, foi arrancada. Não julgamos ninguém. Mas para o carteiro deve ser uma carga de trabalhos.
Última tentativa.
– Porque é que acha que ninguém quer ser do Cabrão, senhor Adelino? Lá em baixo dizem que é cá em cima, o senhor diz que é lá em baixo?
– Não sei, não sei. O que eu sei é que há muita gente que não gosta do nome da terra que tem. Mas aqui é a Bendevisa, depois mais adiante é o Sobreiro, depois o Outeirinho…
Na verdade, confirmámos depois que eram o Sobral e o Outeiro, lugares de Cepões. Adelino não se dá com as geografias, está visto. Nem com o nome do lugar onde vive.
Chiqueiro: a aldeia das duas lendas (mas uma delas é falsa)
O segundo dia de estrada começou cedo, às 7h30, e a viagem foi de Ponte de Lima até à Lousã, em Coimbra. Na autoestrada, entre a A3, primeiro, e a A1, depois, a viagem fez-se em pouco mais de duas horas. O destino: Chiqueiro. Uma das cinco Aldeias de Xisto da Lousã, a mais longínqua das três (as outras duas são o Casal Novo e o Talasnal) na vertente ocidental da serra.
É fácil chegar a Chiqueiro. Sobretudo para quem no dia anterior não tinha uma só indicação dos lugares que procurava. Chiqueiro tem muitas. O percurso faz-se por entre curvas e contracurvas, sempre serra acima. A estrada foi alcatroada há cinco anos, mas alguém poupou no alcatrão: é que se se encontram dois carros, um a subir e outro a descer, não passam os dois e algum tem que parar. O problema é que com tantas curvas, com tanto arvoredo à volta, era impossível saber se vinha a descer algum carro ou não. Como não apitava ninguém de lá, quando a curva era mais “cega”, apitávamos nós de cá. A buzina quase ficou rouca. E só nos cruzámos com um carro naquele quarto de hora a subir, numa reta.
Chegados ao alto da serra, e já deixadas as aldeias do Casal Novo e do Talasnal para trás, encontrámos uma construção de madeira, exígua, com um miradouro vertiginoso sobre a serra e avistando a Lousã, pequena, pequenina, lá em baixo. Não vivia lá ninguém. Certamente será uma casa para alugar a turistas. E esses turistas deixaram a sua marca, raspando pelas paredes exteriores os nomes: a Vera, em 2012; o Rosty, em 2016.
Chiqueiro era logo à frente, numa descida. Em todo o lado se anunciava “Chiqueiro. Aldeia de Xisto”. Do lado direito, na entrada da aldeia, uma casa por acabar de construir, visivelmente ao abandono, deixava ler: “Casa d’Avó Celeste. Turismo rural. Futuras instalações”. Dois cães vieram receber-nos, saídos de trás de uma carrinha de caixa aberta estacionada logo à entrada de Chiqueiro, com as portas destrancadas e ninguém próximo. Havia roupa estendida, dois panos de cozinha, ao lado do tanque onde a água é corrente (nasce ali a Ribeira de São João) e se lava a roupa. As casas são escuras na traça. O mesmo xisto que as cobre é o que faz os caminhos pelo Chiqueiro abaixo. Tudo parece reabilitado, não de hoje, mas não de há muito tempo. Pelo menos por fora. Quando se espreitam as casas por dentro desde a janela, nada se vê no interior. Aqui não vive ninguém. Todas as casas tinham o mesmo interior vazio. E as portas fechadas. E ninguém a responder desde dentro. No fim de Chiqueiro, que não terá mais do que uma dezena de casas, há uma capela: a de Nossa Senhora da Guia. Nela se lê desenhada a inscrição “IHS”, o trigrama utilizado pela Companhia de Jesus.

Era o fim da linha. Havia que voltar para trás. Depois, à volta, escutamos o bater de uma colher numa panela, abriu-se lentamente (e só pela metade) uma pequena janela do alto de uma casa, vem-nos o cheiro a café acabado de fazer, e fala-nos de lá uma mulher, talvez na casa dos sessenta anos, de gorro e ar desconfiado, que nos pergunta: “Os senhores precisam de ajuda?” Sim, obrigado. Apresentamo-nos como jornalistas. Queríamos saber histórias do Chiqueiro e de quem nele vive. “Mas ninguém quer falar convosco. Nem vale a pena estarem a bater às portas, que ninguém quer falar convosco. Nós aqui queremos é paz e sossego”, atira bruscamente. Mas… “Não é mas nem meio mas. Ou você não entende o que lhe digo ou não quer entender. Querem trazer para aqui o turismo, depois o turismo vem e não é turismo, o que quer é roubar-nos as cabeças de gado. E nós não queremos cá publicidades à aldeia.”
Passaram-se vinte minutos, talvez mais. O tom foi sempre de desconfiança no trato. Mas sempre que, desculpando-nos pelo incómodo, seguíamos Chiqueiro acima para o carro, a senhora à janela, ajeitando o gorro e deitando um olho ao fogão, continuava a falar, como que chamando-nos de volta, como que querendo falar mais. E falou. Ao fim de trinta minutos, falou sem pedras na mão.
“Então querem saber a história de Chiqueiro, não é? Pois eu vou dizer-vos, só para não irem daqui de mãos a abanar. Isso, reza a lenda e contavam-me os velhos cá de Chiqueiro, era por causa de uma princesa: a Princesa Peralta. Acho que era preta. Pelo menos é o que contavam. E um dia essa Peralta teve que fugir do Castelo da Lousã por causa de umas invasões. E veio-se refugiar aqui, no alto da Serra, no Chiqueiro.”
A história remontará a 72 a.C., e fugida de Colimbria, a capital de um reino poderoso, por causa da invasão do reino, Peralta (que seria de tez escura por ser magrebina como o pai, o rei Arunce) refugiou-se no Castelo de Arouce, na Lousã. Como chegou a Chiqueiro não se sabe. Nem a senhora à janela sabe. Mas garante-nos que é verdade.
“Isto aqui há muitos anos, em mil novecentos e cinquenta e tais, quando se fizeram obras na Senhora da Guia, descobriram-se coisas muitos estranhas: espadas, brincos, colares e coroas. Era tudo da Peralta. Aliás, essa casa onde você está encostado [ao lado da capela e em frente da janela da senhora] era a da Peralta. Ficava aí a casa original dela, que depois ficou para os criados e foi passando de geração em geração”, explicou.
Mas a lenda de Peralta tem alguma coisa a ver com o nome, “Chiqueiro”? “Pois, isso o nome da terra, diz-se, é porque aqui se fazia criação e matança de animais, maioritariamente de porcos. E ficou o Chiqueiro. Agora, se foi antes ou depois da Peralta, não sabemos.”
A lenda de Peralta permanece. E continua a levar curiosos à Serra da Lousã e a Chiqueiro. Mas outra lenda, mais recente, caiu depois de partirmos dali: afinal, Chiqueiro não era uma aldeia a latejar de vida. Chegaram a viver 45 pessoas aqui. Em 1940. Mas desde 1991 que aqui só vivem duas, precisamente na casa daquela senhora, ela e o marido. Nunca soubemos o nome dela. Não nos quis dizer. Chamemos-lhe “Peralta”.
Orgulhosamente da Picha. Mas nem todos
O percurso entre Chiqueiro, na Lousã, e Picha, em Pedrógão Grande, faz-se em menos de uma hora, pela Estrada Nacional 236. É isso que garante o GPS. O problema é que a Estrada Nacional pode pregar-nos partidas, com camiões em barda pela frente, estradas com duplo traço contínuo o tempo todo ou curvas apertadas a cada cem metros. E aí, há que seguir os camiões, pachorrentamente, curva após curva, sem pisar a linha. E o que demoraria uma hora, faz-se quase no dobro do tempo. Mas haveríamos de chegar à Picha a meio da tarde.
Contudo, a primeira paragem não foi na Picha, a aldeia, mas na reta da Picha, onde fica o café Picha. Perdoem-nos a repetição. Mas a conversa com Manuel José, o dono do café, deixou-nos precisamente essa marca: a da repetição do nome da terra. Sem rir. “Isto aqui não é a Picha. A Picha é lá em cima. Aqui é a reta da Picha, não é? E eu até costumo dizer, assim à laia de brincadeira, que isto aqui são os tomates. E às vezes nem digo tomates, está a ver?” A entrevista com Manuel José gera gargalhadas, mas ele não se ri. Está habituado e provoca.
Mas a verdade é que, segundo o dono do café, o nome não tem nada de brejeiro. “O nome não tem a ver com isso que vocês estão a pensar e que as pessoas pensam habitualmente. Antigamente esta era uma zona de resineiros. De pinheiros. Ao colocar o recipiente, o púcaro, para receber a resina da pinheiro, colocava-se também uma estaca, que é o picho. E aqui havia uma loja que produzia pichos. É por isso que se chama Picha.”
Mas nem todos são orgulhosamente da Picha. “São, são. Orgulhosamente da Picha. É um nome atrativo, que chama, que seduz, um nome sugestivo. Há um personagem aí na aldeia, que nem cá vive, e que quer mudar o nome da Picha para Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da terra. Mas as pessoas não querem. Elas gostam de ser da Picha.”

Seguimos para a aldeia. E não encontrámos o “personagem” de que Manuel José falou. Picha é uma aldeia pequena, com duas dezenas de casas e outros tantos habitantes. Mas encontrámos Elídia, de 88 anos, sentada à sombra do seu telheiro. É irmã do homem que quer alterar o nome à Picha. “Se tivessem vindo uma hora antes, não me apanhavam cá, que estava a dormir uma sesta”, graceja. Depois, confidenciou-nos que o nome “não é decente”, que mudá-lo para Nossa Senhora do Carmo “era evoluir”, mas sobretudo que não é de hoje (nem do seu irmão) que se tenta mudar o nome à terra. É coisa de família e de há muitas gerações.
“É uma luta antiga. O primeiro pedido foi o meu avô que o fez. Na altura conseguiu a assinatura de vários habitantes para mudar o nome. Só faltou uma assinatura: a do rei, creio que o D. Carlos. Depois o meu pai também tentou, mas ficou tudo em águas de bacalhau. Agora só espero que o meu irmão consiga”, conta, com voz arrastada mas mente sadia.
Voltámos ao café de Manuel José sem ouvir Elídia dizer uma só vez o nome que a sua família renega. Mas o proprietário do café mais conhecido das redondezas usa-o até o gastar. “Vou-lhe contar aqui uma história engraçada da Picha. Um dia houve aqui um grande nevão e a estrada da Picha ficou intransitável. E houve um rapaz, novito até, que ficou aí preso. E ligou para a mulher: Estou? Estou preso na Picha. E ela desligou. E ele ligou de novo: Amor, estou na Picha. E ela voltou a desligar. E tive que ser eu a explicar à senhora que era mesmo verdade, que há uma localidade chamada Picha e que ele estava cá preso.”
Despedimo-nos de Manuel José com esta história. Mas havia tempo para mais uma. Rápida: “Sabem o que é isto?”, pergunta enquanto nos mostra um recuerdo com orifícios de vários tamanhos e uma régua. “É um pichómetro. Fui eu que mandei fazer. É para medir o comprimento e o diâmetro. Do esparguete, do esparguete. Para medir as doses…”
Mal Lavado. Onde se lava um português, lavam-se (mal) dois ou três
É quase hora de almoço quando chegamos a Mal Lavado, em Odemira, e talvez por isso não se veja vivalma nas ruas. Existem dois cafés na localidade, um de um lado da estrada, o outro logo em frente. Procurámos primeiro o que tinha mais movimento – ou pacatez povoada. Ninguém sabia a origem do nome da terra.
– Isso, Mal Lavado, é porque vivia aqui um homem que era como eu: também não se lavava!” — graceja um homem sentado a meias entre a sombra e o sol, de camisa desabotoada até ao umbigo e várias cervejas vazias em cima da mesa.

Eram 11h30 da manhã. Dali, daquele café, traríamos mais tagarelice do que verdades. E seguimos para o outro. Entre uma bica e uma água, logo o proprietário nos disse que a mulher, Rosa, sabia a história do Mal Lavado de trás para a frente. E chamou-a. 69 anos, cabelo pintado de um negro muito negro, penteado com aprumo, como se soubesse que ia ter visitas, encaminha-nos para fora do estabelecimento e, apontando para o horizonte, para o alto de um monte, diz: “É ali. Ou pelo menos é para ali o Mal Lavado. A primeira casinha que aqui se construiu era ali no monte. Acho que ainda lá está qualquer coisa, umas ruínas ou assim.”
Mas, afinal, o que tem essa primeira casa a ver com o nome da terra? Rosa conta, num linguarejar muito próprio do Alentejo. “Isto aqui é um sítio com muitas nascentes. Só havia para aí uma casinha. E quando quiseram fazer outra, logo ao lado, tiveram que escavar um buraco para tirar água; naquela altura as casas ainda eram construídas em terra. E também era naquele buraquinho que eles se lavavam, que tiravam a água para cozinhar e onde faziam tudo. E um dia há um homem que diz para o outro: ‘Ficamos mesmo mal lavados aqui neste buraco’. A aldeia cresceu, tem uns 600 habitantes, e o nome ficou.”
A localidade tem duas grafias na sua toponímia: “Mal Lavado”, a mais antiga e cuja origem Rosa nos contou, e “Malavado”, adotada hoje pela Câmara Municipal de Odemira. Em algumas placas o nome surge separado e noutras (mais recentes) numa só palavra. Curiosamente, este último causou alguns mal-entendidos. “É verdade. Houve alguém que inventou uma história e andou para aí a dizer que isto era o Malvado, porque vivia aqui um homem que era muito malvado. E ainda acreditaram, algumas pessoas”, conta Rosa. Está visto: antes ser mal lavado, mas bondoso, do que malvado e limpinho.
Despedimo-nos de Rosa, partimos em busca da tal primeira casa do Mal Lavado. Primeiro seguimos uma estrada esburacada em direção à velha escola de Mal Lavado, desativada há quase uma década, depois cortámos à esquerda, em direção ao tal monte – ou pelo menos até encontrarmos um canal com água. Pelo caminho, iam-se sucedendo os casarões, quase herdades, isoladas de tudo, acessíveis só de jipe ou trator, e onde se vive sobretudo do cultivo do campo. O Mal Lavado é conhecido pela produção de tomate, pimento e framboesa. Por fim, um canal, de águas paradas, sujas e cheias de mosquitos à tona. Não estávamos longe. Mas dali até à casa, seguindo o curso da água, o caminho teria que ser feito a pé, por entre silvas, giestas e arbustos altos, que ali não passava ninguém há muitos anos.
Pelo caminho, quase tropeçámos. Era o tal buraco dos banhos mal lavados, uma irrigação que ligava o canal a uma casa, ao longe. A casa, tombada, da qual quase só restavam paredes, fora erguida em terra, talvez argila, tal como descreveu Rosa. Era ali o Mal Lavado. E dali se via, do alto daquele monte, o Mal Lavado em toda a volta.
No (longínquo) Vale da Rata só vive Zé e as abelhas
Não foi fácil, mas valeu pela vista. O problema foi depois: chegados de novo ao carro, duas mãos eram poucas para sacudir os carrapatos, coçar as borbulhas provocadas pelas urtigas e matar algumas carraças. Dali até à última paragem, o Vale da Rata, algures em Almodôvar, também no distrito de Beja, era uma hora de viagem pela Estrada Nacional 236 – pelo IC1 também é possível ir, mas a paisagem não é a mesma coisa; nem as pessoas.
Vale da Rata, como Porca, como Cabrão, não existia. Não no GPS. Mas sabíamos que era um lugar em Santa Clara-a-Nova. E essa freguesia de Almodôvar já existia. Chegados lá, ao final da tarde, saiu-nos “a sorte grande e a terminação”. Pelo menos foi assim que Zé, “o Zé do Peixe, porque eu vendia peixe em gaiato”, se apresentou. Não só ele conhecia o Vale da Rata, ainda longe dali e perdido no alto de um monte, como se predispôs a levar-nos até lá para conhecer um outro Zé, o que vivia em Vale da Rata, sozinho há quase 20 anos.
Pelo caminho, esburacado, empoeirado, Zé do Peixe, sentado no banco de trás, foi contando histórias atrás de histórias, desde o medo que sentiu num assalto dos turras ao quartel em que serviu na Guerra Colonial em Moçambique, ao tempo em que (também) serviu nos melhores e mais luxuosos hotéis algarvios. E conta aventuras enquanto queima cigarros uns atrás dos outros, de um modo peculiar, sem nunca os tirar dos lábios para a mão. Mas com Zé a viagem fez-se mais rápida, por entre “direita”, “esquerda”, “mais devagar que isto é traiçoeiro e não queremos ficar aqui!”.
Vale da Rata só tem duas placas, uma antiga e uma nova. Mas só estão em Vale da Rata. Antes, no quarto de hora até lá, nem uma se vê. Só a encontra quem conhece. Só lá vive quem não quer ser encontrado. E esse é José Palma. Ou apenas Zé, de 68 anos. Encontramo-lo com os três cães e de volta das colmeias que continua a ter. “Cheguei a ter umas 12 ou 13 colmeias. Hoje só tenho duas ou três. Tenho problemas de saúde, já estou reformado também, e não vale a pena o trabalho. É só para dar aos amigos e para o gasto da casa.” Mas gosta de mel? “Continuo a gostar. É estranho, mas nunca me enjoei. E quando estou assim pior do estômago, quando o jantar não me assentou bem, tomo uma colher de mel e a coisa passa.”

Zé nasceu em Vale da Rata. E só deixou o lugar quando foi trabalhar para o Algarve. Assim que se reformou e voltou a Santa Clara, voltou também “à Rata”. Sozinho. “Isto hoje é aborrecido. Chegámos a ser, neste monte de cima e no de baixo, à volta de 25 pessoas. O ‘ti’ Custódio, o ‘ti’ Chico, a ‘ti’ Maria, o ‘ti’ António, a minha mãe… Era tudo família. Havia uma mulher que era tecedeira. Os homens eram quase todos corticeiros”, conta Zé. Mas gostará ele de viver isolado no monte? “Não, não. Eu não há dia que não me monte na mota e não vá visitar gente amiga. Sabe, dá-me desgosto ver isto assim, tudo ao abandono. Os filhos da minha irmã são engenheiros – e há um que vive na Suíça. Eles não querem saber do Vale da Rata para nada. Não querem e também não sabem. Vê acolá aquelas flores brancas? Aquela pétala do meio, que encabeça a rosa, aquilo é comestível. Comi muito daquilo em gaiato. A mocidade de hoje em dia não conhece nada disto.”
Zé não sabe o porquê de o Vale da Rata se chamar assim. “Sempre foi. E nunca ninguém fez troça. É Vale da Rata, é Vale da Rata.” Mas o outro Zé, o do Peixe, o nosso guia até aqui, depois de beber uma malga de água num riacho que só ele conhecia à saída do vale, lá nos sugeriu: “Vamos falar com a tia do Zé, a ‘ti’ Maria, que ela tem noventas-e-muitos e há-de saber a história do nome.” E levou-nos de volta a Santa Clara, até Maria.
– Oh, isso é muito antigo. Aquilo era um vale, não vivia lá ninguém, não tinha nada, e quando as primeiras pessoas foram para lá construir casas, contava-se, tinham problemas com os ratos, que atacavam a comida e as plantações. E ficou o Vale da Rata, contou Maria, ao portão de sua casa, a fazer sombra com a mão na testa, de olhos semicerrados, que o sol ia baixando.
Ela, como o sobrinho Zé, nunca tiveram problemas com o nome do lugar onde cresceram, de onde são naturais. Mas outras gerações sim. “Vou-lhe contar uma história: certo dia o meu neto foi sair à noite para Almodôvar e conheceu uma moça. E ela perguntou-lhe de onde ele era. Ele respondeu: ‘Sou do Vale da Rata’. A moça desatou a rir e ele, chegado a casa, muito envergonhado, disse para a mãe: ‘Nunca mais digo a ninguém de onde sou’.”