Um século é muita fruta. Principalmente um século sem heróis — melhor, onde os heróis são pessoas normais, como eu e o leitor (imagino). É essa a proposta do novo romance de Pedro Vieira, Maré Alta, o seu terceiro, depois de Última Paragem, Massamá (Quetzal, 2011) e O Que Não Pode Ser Salvo [Quetzal, 2015], e um livro de crónicas, Éramos Felizes e Não Sabíamos (Quetzal, 2012).
O encontro é no São Jorge, onde tem o seu nine to five. Mas conhece-se, também, Pedro Vieira de outras andanças: do blog Irmão Lúcia, de “Inferno” no Canal Q ou do programa semanal da RTP “O Último Apaga a Luz”. Ou se calhar de uma livraria, quando trabalhou ao balcão, ou da Booktailors. Ou das crónicas que escreveu nos jornais. Ou dos seus livros. É um homem de várias caras? Não parece. Gosta, simplesmente, do desafio de fazer coisas novas, do que aprende com elas e de como a dinâmica de vários ofícios abrem a cabeça para tanta coisa. É um exercício maravilhoso para compreender o mundo, para escrever um romance como Maré Alta.
Neste novo livro cria uma história do século XX português. Cria porque é sempre ficção, embora seja inspirada em eventos reais. A inspiração nasce de uma vontade de criar uma história para um elemento da sua família que não conheceu. O herói, ou os heróis, são homens comuns, as pessoas que Pedro Vieira imaginou para compor a sua história, que pode ser também a nossa.
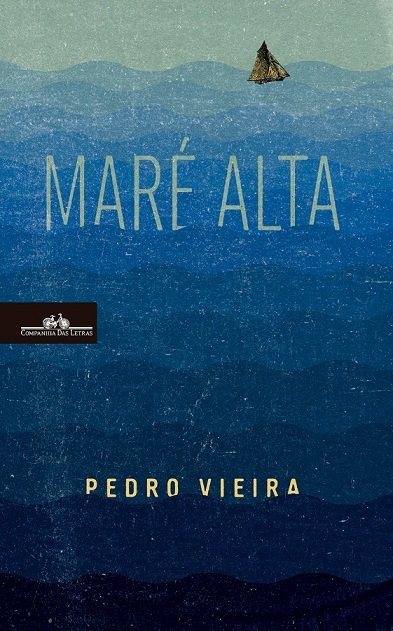
“Maré Alta”, de Pedro Vieira (Companhia das Letras)
No percurso da sua vida, com vinte e poucos anos, imaginava-se a fazer televisão?
Surgiu por acaso. Quando isso apareceu, trabalhava numa livraria, coisa que fiz durante vários anos.
E gostava?
Mais ou menos. Algumas coisas gostava, outras abominava. Lidar com público repetidamente foi algo que me ajudou a ganhar uma consciência de classe… quando preciso de algum serviço, tenho muito presente o respeito que é preciso ter com as pessoas que estão lá a trabalhar.
Percebo o que diz.
E é muito cansativo, mesmo. E trabalhava numa área que pode ter algumas vantagens em relação a outras, como restauração, por exemplo, em que eu vejo que os clientes são muito impacientes, e que há muitos problemas com frequência. Ali não era tanto assim, mas uma pessoa a trabalhar ao público está muito exposta e isso às vezes era terrível. Não há resguardo, há sempre sobre escrutínio e não sei quê. Lidar com os livros era bom, era bom porque era um território natural. Mas não gostava, o trabalho por turnos, trabalhei quase sempre em centros comerciais e não era bom. A TV apareceu por acaso, foi quando apareceu o Canal Q das Produções Fictícias e o canal começou com um programa dos irmãos Markl, o programa deles era diário e queriam ter todos os dias uma rubrica que tivesse a ver com a internet. Eu na altura tinha um blog que alimentava muito, que era o Irmão Lúcia.
A Ana via o blog, eles estavam a pensar nas tais rubricas para ter durante o programa e ela pensou que gostava de ter uma rubrica qualquer sobre este tipo, nem sequer havia uma ideia definida sobre o que iria ser aquilo. Fui lá e depois decidimos na altura o que iria ser essa rubrica, acabava por ser uma crónica desenhada, eu desenhava e falava e fazia uma espécie de episódio semanal, de dois ou três minutos. Depois disso é que comecei a fazer mais coisas para lá. Depois comecei a fazer TV para lá, isso nunca tinha estado nos meus planos. Não estava fora, mas nunca tinha pensado nisso. Aconteceu, perguntaram-me se estava interessado e eu disse “bora”.
Gosta de o fazer, de adaptar o seu humor para televisão?
Sim, depois fiz um programa sobre livros, que era o “Ah, a Literatura!” e outro, que ainda existe, “Inferno”, e gostava muito de fazer aquilo, foi das coisas que mais gostei de fazer, uma espécie de telejornal com um lado sempre humorístico, pelo menos uma tentativa de fazê-lo. Foi porreiro porque era uma coisa muito livre de fazer, era o privilégio de um canal pequenino, de experimentar se resulta ou não resulta. E gosto de fazer o que faço agora, uma coisa diferente, mas é um programa de debate com um painel (“O Último Apaga a Luz”, RTP3), que se complementa bem. Acho que acabei de fazer essas coisas para TV porque não penso que há pessoas do lado de lá a verem.
Como assim?
No outro dia alguém perguntou-me isso, se não me faziam pressão, porque as pessoas estão em casa a ver. Mas eu não penso nisso, não penso mesmo. Só penso nas pessoas que estão na régie e os câmaras que estão no estúdio. Não me preocupo muito se está a ter repercussão ou não, se estou a ser escrutinado pelo desempenho ali. É mais os meus pares, estão ali à volta, se acham que funciona ou não. Quando acharem que não funciona, deixo de fazer aquilo. Não sei. É como se fosse outra coisa qualquer.
No meio destas coisas todas que fez, até quando já fazia o blog, já pensava em escrever romances?
Não.
Como é que começou?
Isto começou por causa do Paulo Ferreira, foi a pessoa que me conheceu através do blog, ele estava a começar a Booktailors nessa altura e numa ocasião qualquer disse que no meu registo de escrita, que eram coisas pequenas, era um blog, que eu podia escrever um romance. Perguntou-me se tinha uma ideia para um livro. Eu não tinha. Ele é muito insistente, de mais, foi ele que acabou por me convencer a fazer um livro. O meu processo foi ao contrário, não tinha grande objetivo e fui pressionado para escrever um romance. E tive a porta aberta logo para publicar. Normalmente isso não acontece. Há muitas pessoas que andam a bater às portas das editoras, isso é um bocado ingrato. Eu fui ao contrário, tive uns tipos a dizer “bora lá”. Tive de pensar numa ideia e acabei por escrever dois capítulos [do que viria a ser Última Paragem, Massamá, 2011], ele mostrou ao Francisco José Viegas, que na altura estava a refundar a Quetzal, andava à procura de uns nomes portugueses e tal. E foi assim. O Francisco leu aquilo, disse “isto é bom, continua”. E pensei que estava avalizado por uma pessoa que percebe sobre o assunto, se este tipo acha que vale a pena… e assim foi, foi de raiz. Acabei por usar uma temática, um universo a que eu ia assistindo diariamente, numa ocasião que trabalhava em Sintra, fui recuperar esse contexto. Sentia-me confortável e tinha vontade de falar sobre aquilo. Foi assim que começou.
A carreira de escritor?
Não é bem uma carreira. Este romance será o terceiro, agora, mas é sempre com intervalos grandes. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas que dá muito trabalho. E faço-o por gosto mesmo. Em termos de rendimentos nunca poderia pensar em viver da escrita dessa maneira, vivo de outra maneira da escrita. Mas também nunca fui pressionado para ter uma calendário para publicar. O Paulo Ferreira chateia-me muito com isso. Mas lá está, para isso também preciso de uma disponibilidade. É preciso dedicar bastante tempo a isto. E agora este terceiro livro, precisou de muito mais tempo, porque quis fazer uma coisa diferente. Quis descolar do outro registo e fazer uma coisa diferente, contar uma história que gostava de contar. E acabei por fazê-lo e tive de arranjar um tempo próprio para fazer isso. E acabei… na altura continuei a fazer o programa da RTP, mas despedi-me do emprego que tinha, que era da Booktailors.
Chegou a ser agente literário?
Não tinha essas tarefas. Trabalhava mais na parte da comunicação e organização dos eventos. Uma vez que sou agenciado por eles, era melhor não ter esse trabalho de ter de lidar com outros autores, achei que seria estranho. Nunca tive tarefa nenhuma nessa área da Booktailors. Mas chegou a uma altura, coincidiu com o nascimento do Gabriel, o trabalho lá me obrigava a estar muitas vezes fora de Lisboa e eu não queria. E aproveitei essa vontade de querer estar mais em casa para me despedir, ficar uns meses sem emprego, viver de uma maneira mais contida em termos financeiros, mas tive muito mais tempo para fazer o livro que queria fazer. E precisava disso. E consegui fazê-lo, pelo menos estou satisfeito com o que o fiz. Foi preciso mais tempo, disponibilidade para ler, pesquisar coisas e transformar isso na história que eu queria contar. Os livros vão-se encaixando nestes ciclos de trabalho e de vida pessoal.
Quanto tempo demorou a escrever Maré Alta?
Foi à volta de um ano. Mais intensivamente durante oito meses, depois com leituras para trás e edição para a frente. A edição do livro foi bastante discutida e ainda bem, gostei muito de fazer isso. Fomos decidindo coisas e fui deitando caracteres fora de uma forma bastante intensa, coisa que nunca tinha feito. Tive que me desprender de uma série de episódios e de que coisas que tinha escrito, porque fazia sentido fazer isso, para a economia do livro e para a narrativa.
Há uma simplicidade da escrita que é cúmplice com o carácter normal, ou mundano, das personagens. Porque resolveu pegar nessa perspetiva de pessoas normais e contar uma história do século XX a partir desse ponto de vista?
Isso faz uma ponte com o que já tinha feito. Os dois romances que tinha escrito eram ambientados no agora, embora não tivessem uma data própria, mas o ambiente era contemporâneo ao tempo que fora escritos. Esse é o meu cavalo de batalha das coisas que vou publicando e tem sido até agora assim. E imagino que possa continuar a ser, no que possa para a frente publicar, que é essa batalha pela normalidade na literatura. Puxar a vida de todos os dias e as pessoas de todos os dias para os livros. Uma coisa que sempre achei, sem ter um conhecimento muito alargado sobre aquilo que se faz ou se fez na literatura portuguesa, é que essas pessoas estão um bocado ausentes da nossa narrativa literária.
Não acha isso também passa porque alguns escritores estão alheados dessa vida dita normal?
Talvez, é possível, não tenho uma teoria muito desenvolvida sobre isso. Mas já pensei nisso, que alguns dos grandes escritores do século XX não faziam parte dessas dinâmicas pessoais e sociais e estavam um bocadinho alheados disso. Tenho ideia que esses grandes autores que tivemos estavam um bocadinho circunscritos: ou eram jornalistas ou tiveram acesso a uma educação mais… não queria dizer privilegiada, mas tiveram acesso a educação. Essa barreira é suficiente para definir o que foi a nossa história do século, houve uma minoria que teve direito a educação e uma grande maioria que não teve. E nós tivemos grandes autores que tiveram esse acesso e fizeram esse percurso e depois refletiam outras coisas, refletiam um bocado a burguesia lisboeta, as dinâmicas do mundo da própria escrita, autorreflexivo, que não tem problema nenhum. Podemos ir realmente a todos os sítios, ir buscar inspiração a todos os lados… por exemplo, o Cardoso Pires, do que eu conheço, refletia o universo onde ele vivia, que lhe seria natural. Embora fosse frequentador de bas-fonds e ter retratado isso. Mas sim, acho que houve uma demarcação… houve aquele período de neo-realista, porque havia uma luta política feita através dos livros e que acabou por ficar como uma espécie de chancela de literatura empenhada, logo sem préstimo. Acho que é um chavão que não faz justiça a coisas que se escreveram nessa altura. Parece que se teve de fazer um luto desse período. Não foi só cá. Parece que houve uma literatura moderna e pós-moderna que se afastou um bocado, mais mundanas, chãs, mais da vida das pessoas. Esse é um universo que me interessa bastante. Faz sentido se eu fizer uma coisa por aí. Acaba por espelhar algumas coisas que eu gosto de falar no dia a dia mas com mais tempo. E se puder usar os livros para isso, tanto melhor. É assim que me sinto bem a escrever.
Mas é atraído por uma vontade de estilo enquanto escritor ou porque é aquilo que vê no dia-a-dia?
É um misto de várias coisas, adapta-se ao que quero escrever e a forma como eu escrevo, não é o que eu vejo todos os dias, mas já foi. Não tenho uma definição para dizer porque faço isso, um programa pensado, escrito, para isso. Mas é o ambiente em que me sinto natural. A minha vida hoje em dia já não é essa, mas já foi. E de alguma maneira, também por razões pessoais, é uma forma de devolver à vida que eu tive, o que eu pude de extrair de bom, e de homenagear literariamente aquilo que pode ser matéria de livros. Tenho algum pudor em usar a palavra artística, mas que tenha uma qualidade literária. São universos onde me reconheço, porque foram onde cresci também, não é um universo onde vivo agora, mesmo o que fiz nos outros livros não são a forma que eu vivi, mas sempre gostei de trazer essas coisas à tona e dar-lhes visibilidade.
Qual foi o ponto de partida para Maré Alta? Quando é que percebeu que queria fazer um romance assim? Porque há um lado ambicioso…
O ponto de partida disto foi pessoal, vincadamente pessoal. Acaba por ser uma curiosidade, mas foi a faísca para fazer o livro: eu não sei como se chama ou como se chamava o meu avô materno. Porque nunca foi assunto, foi um homem que fez parte da nossa vida familiar, durante muito pouco tempo. Deixou descendência que acabou por ser a minha ascendência. Deixou o sítio onde vivia, não sei se desapareceu ou não, não conheço a história dele, mas deixou aquele lugar, eventualmente terá vindo para Lisboa e perdeu-se o rasto dele. Talvez outros filhos que ele teve não tenham perdido, mas a minha família sim. Nunca soube o nome dele e nunca procurei. Sempre cresci com essa espécie de tabu, da minha mãe nunca falar do seu pai, nunca ter lidado com o seu pai e de nunca o ter transmitido, a nossa ligação era só com a mãe dela, a minha avó materna. Isso é uma coisa que para nós sempre foi corriqueira, quando estava a pensar fazer um novo livro, queria fazer uma coisa maior, não sabia bem em que termos, queria demarcar-me dos outros livros e pensei nesse homem que não sei quem é. Isso poderia ser o ponto de partida para isto. Ir para trás, construir uma identidade fictícia para a minha família. E a partir daí comecei a estruturar a história, que é uma espécie de “e se”.

“Tive de parar, porque já não estava a escrever livro nenhum, mas a beber informação e a acumular uma série de coisas que não iria conseguir transformar em matéria de livro”
Criou uma família.
Então fui arranjar uma ascendência nova, ficcional, para nós. E quando decidi fazer isso, pensei em fazer uma coisa mais ambiciosa, que possa construir essa árvore genealógica nova, com homens que também desapareçam e mulheres que ficam. Se vou fazer uma coisa com este alcance, ou se vou tentar fazer com algo abrangência, vou fazer pelo olhar daqueles que seriam os meus. Mesmo que fossem outros, seriam as minhas. E criei uma estrutura onde essa pessoas atravessassem o nosso século, que contassem um pouco do nosso século, que acho que está pouco contado ainda, visto pelos olhos das camadas populares, dessas pessoas que migraram para Lisboa, que tiveram as profissões que eu sempre conheci à minha volta e tentando ter uma narrativa literária que compusesse mais a nossa narrativa familiar. Isto parece um bocado caricato, mas como se tentasse fazer com que a nossa narrativa familiar fosse mais interessante e mais participativa no século, porque o nosso século tem muitas histórias por onde pegar.
Como teve mão nisso?
Acabei por deixar cair uma série de coisas porque estava a perder a mão e não faz sentido, a dada altura tive que me focar no que estava a fazer, porque me comecei a entusiasmar com as leituras, tive de parar, porque já não estava a escrever livro nenhum, mas a beber informação e a acumular uma série de coisas que não iria conseguir transformar em matéria de livro. Mas acho que temos muito por contar e quis tornarmo-nos a nós todos mais interessantes, desse ponto de vista, pô-los a viver coisas que não vivemos e contar um bocado do nosso século, da violência, da mesquinhez, dos desvalidos do nosso século. Trazer isso para uma vertente mais literária.
Acha que muitas dessas coisas passaram ainda para este século?
Acho que não nos livrámos do século, não sei se estamos no século XXI, estamos em calendário. Mas temos uma carga que vai beber muito aí. Há povos que fazem muito essa exegese própria, essa autocrítica, e que estão sempre a problematizar o passado recente, como os norte-americanos, os britânicos, estão sempre a pôr-se em causa nesse sentido. E nós vivemos um bocado aos repelões, temos uns saltos, deixamos umas coisas para trás. A primeira república foi enterrada por um regime novo, depois esse regime durou demasiado tempo, apodreceu e foi tapado por uma série de coisas novas que aconteceram e com alguma naturalidade. Mas ficaram muitas pontas soltas, por causa das colónias, da vida que vivemos aqui, do atraso gritante que vivemos durante tanto tempo, depois quisemos ser modernos muito depressa, depois fomos obrigado a ser resfriados outra vez. Porque é que não temos as ferramentas para sermos modernos como os outros?
E agora estamos outra vez a ser muito rápidos.
E andamos aos repelões. Não tenho a pretensão que quero pôr as pessoas a pensar, quis contar uma história que eu acho que era importante olhar. E porque acho que temos uma história realmente interessante. Em termos de produção cultural , usamos pouco o que temos vivido. Outra coisa que os anglo-saxónicos fazem muito bem, que é usar esse património social e histórico nas ficções, seja no cinema, na televisão, na literatura. Isto também se prende com outra coisa, já tinha acontecido antes, eu não tenho vontade nem músculo para criar universos alternativos. Não me interessa muito e não consigo fazer muito bem. Prefiro ler outras pessoas que o fazem, prefiro olhar para nós, para o que temos para contar.
Que leituras é que fez?
Devo muito a muita coisa e a muitas pessoas, que eles não sabem. Li muito de história contemporânea, li e vi fotobiografias do século XX, revistas, revistas temáticas, como a Visão História, procurei alguns números em particular. Fui buscar também não ficção, agora começa a existir mais, houve a moda do Salazar, houve anos em que havia 17 títulos com o nome Salazar na capa. Mas ainda bem. Comecei a ler algumas coisas de não ficção sobre esse período. Fui beber a muitas fontes, quase tudo não ficção. De ficção não li nada, não tenho ideia disso. Mas por vezes coisas muito marginais, instalei-me na Biblioteca do Camões onde tinha sossego para pesquisar e escrever, por vezes percorria as estantes e encontrava livros que nem tinha pensado em ler. Lia episódios, de coisas passadas em África, coisas passadas em França… que surpreendentemente envolviam portugueses, estamos em todos o lado, somos aquela praga que está em todo o lado. Tivemos gente a participar em momentos decisivos do século, não só português. Acabei por recolher muita informação dessa maneiras, por vezes de uma forma errática ia tomando nota de coisas, até construir uma coisa coerente com isso.
Que momento do século é que não poderia faltar?
Há uma revolta falhada na Marinha Grande conhecida como o 18 de Janeiro de 1934. Um grupo de anarquistas e comunistas portugueses. Historicamente, são duas correntes políticas que sempre se deram mal, juntaram-se para fazer um golpe de estado, que fracassou redondamente, tinham um plano ambicioso, de fazer explodir umas bombas na zona do Castelo de São Jorge, guardar umas guarnições em Lisboa e em várias zonas do país, um levantamento armado. Logo nas primeiras horas do dia aquilo fracassou, houve muita gente que desistiu, o plano foi mal montado. Uns queriam fazer uma sublevação armada, no caso dos anarquistas; os comunistas queriam criar células em fábricas e minar o regime. Lá chegaram à conclusão que ia haver um dia com uma revolta armada, que foi um fracasso absoluto. E, na Marinha Grande, os operários tiveram um papel importante nisso, tentaram levar isso avante, capturaram o posto da GNR, dispararam uns tiros para a fachada. Não tenho ideia de ter havido mortos. Eles rapidamente perceberam que correu mal, os tipos que eram suposto ter sabotado os caminhos de ferro, não fizeram, veio a tropa de fora da Marinha Grande e liquidou o golpe. Esse episódio sempre me fascinou um bocado, é uma coisa meio romântica, destinada ao fracasso. Nós por vezes temos um bocado isso, temos uma ideia, toda a gente sabe que vai ser um fracasso e mesmo assim levamos avante. E temos de lidar com as consequências delas. Muitos dos capturadores nesse dia foram inaugurar as instalações do Tarrafal.
Acha que esses momentos de confronto também nos ajudam a definir?
Sim, não compro os brandos costumes. Sempre fomos um bocado, como outros lugares, de violência, confronto, o que é natural da nossa condição, e entretivemo-nos a fazer isso pelo mundo inteiro.
Sente que reconstitui essa família que não conheceu?
Sim, sinto-me contente com o resultado, foi o livro que mais me esforcei.
Como é que convive com o outro Pedro Vieira [existe um outro autor com o mesmo nome], nunca pensou em dar o passo para o segundo apelido?
Não, é uma coisa que acho graça. No outro dia estive com um livro dele na mão e pensei em tirar uma foto com ele. Mas não o fiz. Espero até me cruzar com o próprio, acho graça. Acho mesmo graça. E é o resultado de um nome comum, de pessoa normal. O Pedro Vieira, o mágico que não acredita em magia, eu imagino que ele venda, se as pessoas comprarem o meu livro ao engano não me importo nada com isso. Para lidarem com a desilusão podem ir sempre a uma palestra dele e ter um reforço positivo através disso. Mas acho graça, sinceramente.
Por isso perguntei, há muita gente que não gosta de ser confundida.
Não me faz confusão nenhuma. Aliás, eu já me autoparodiei com isso. Para mim, a melhor comédia é de equívocos. Quem sabe, um dia apresentar um livro e pedir-lhe para apresentar. Ou ir ele em vez de eu.
Ou podia fazer um livro de autoajuda.
Quem sabe, está tudo em aberto.
Pode ser um caminho.
De certeza que ele tem mais resultados, dividendos, do que eu.


















