Estabelecer os limites do que é o jazz é uma questão quase tão antiga como o jazz. Cada nova “revolução”, faz os guardiões da tradição tentar excluir a nova orientação estética, mas esta acaba quase sempre por impor-se. Foi assim com o bebop nos finais da década de 1940, mas já não se passou o mesmo com o free jazz do início da década de 1960 e com a fusão com o rock e o funk na viragem das décadas de 1960/70, que ainda hoje encontram resistência pela parte de alguma crítica e público mais conservadores.
A questão “o que é o jazz?” era escaldante em 1969, quando Manfred Eicher (com Karl Egger e Manfred Scheffner) editou Free at last, pelo Mal Waldron Trio, o primeiro disco do catálogo da ECM, e não terá sido por acaso que escolheram evitar o termo “jazz” e baptizar a editora como Edition of Contemporary Music. Todavia, a ECM era, indiscutivelmente, uma editora de jazz e quando, em 1984, Eicher começou também a editar música “erudita” (“clássica” ou “contemporânea”), criou para ela uma chancela à parte, a ECM New Series.

Manfred Eicher e o compositor estónio Arvo Pärt, um dos nomes mais representados na ECM New Series
Na verdade, o respeito e prestígio que a ECM conseguiu granjear ao longo dos anos seguintes contribuiu decisivamente para dilatar as fronteiras do jazz: este passou, para muitos melómanos, a ser definido como qualquer música que fosse editada pela ECM. É certo que há imenso jazz de indiscutível mérito que não se encaixa na estética tendencialmente sóbria e meditativa da ECM (ou que até lhe é diametralmente oposto), mas, ainda assim, dificilmente poderia fazer-se maior elogio à obra erguida por Eicher.
[“Rat now”, de Free at last]
Um farol numa Idade das Trevas
Os primeiros anos de actividade da ECM coincidiram com um dos períodos mais sombrios da história do jazz. A ascensão do rock’n’roll no final dos anos 50 começara por ser um fenómeno estritamente adolescente, mas à medida que, a partir de meados da década de 60, o pop-rock foi sofisticando-se e conquistando ouvintes mais maduros e exigentes, houve uma crescente sangria de público para o novo género.
Entretanto, as editoras independentes que tinham editado o jazz mais emblemático da década de 50 e do início da década de 60 tinham desaparecido ou sido absorvidas por grandes companhias e perdido a identidade. Em 1965, a Blue Note fora adquirida pela Liberty ao seu fundador, Alfred Lion, que se manteve como produtor apenas mais dois anos, acabando por reformar-se, por não conseguir encaixar-se na forma de funcionar de uma grande estrutura (ver Blue Note x 5: Estes clássicos são mensageiros do jazz e Os melhores anos: Quando a Blue Note mudava o mundo). As responsabilidades de produção na Blue Note recaíram sobre o sócio de Lion, Francis Wolff, e sobre o pianista Duke Pearson, mas em 1971 o primeiro faleceu e o segundo despediu-se e a editora entrou em coma.

Alfred Lion, fundador da Blue Note
1971 foi também o ano em que a Prestige de Bob Weinstock foi vendida à Fantasy, mas por essa altura aquela que fora a editora de Miles Davis, John Coltrane e Sonny Rollins era uma sombra dos seus tempos áureos.
A Riverside, de Orrin Keepnews e Bill Grauer, falira em 1964, poucos meses depois da morte de Grauer, e o seu catálogo passou para as mãos da ABC e, em 1972, da Fantasy.
Norman Granz, o fundador da Verve, vendera a editora à MGM em 1961; a produção ficou a cargo de Creed Taylor, que adoptou uma orientação mais comercial e dispensou uma apreciável número de jazzmen; não foi bom, mas a situação piorou quando Taylor deixou a Verve em 1967 e mais ainda quando, uns anos depois a editora foi engolida pelo gigante Polygram.

Norman Granz, fundador das editoras Clef, Norgran, Verve e Pablo
A Impulse! tivera, sob a direcção do produtor Bob Thiele, um período de apogeu entre 1961 e 1969, durante o qual acolhera o jazz mais ousado, sem, ao mesmo tempo, deixar de chegar a um público alargado – na 1.ª edição do pouco acessível A Love Supreme (1965), de John Coltrane, vendera 100.000 exemplares. Todavia, Thiele entrou em conflito com o presidente da casa-mãe, a ABC Records, e saiu em 1969. O seu substituto, Ed Michel, ainda conseguiu editar alguns álbuns notáveis, mas a restruturação da ABC, com a fusão das etiquetas Impulse! e Dunhill, pôs termo à relevância da primeira.
Sob a orientação de Nesuhi Ertegun, a Atlantic editara, na viragem dos anos 50-60, nomes como John Coltrane, Charles Mingus, Ornette Coleman e Jimmy Giuffre, e era, em 1958, a 2.ª mais relevante entre as editoras independentes de jazz, a seguir à Blue Note, mas, pouco a pouco, o fulcro do negócio foi deslocando-se para os bem mais rentáveis rhythm’n’blues. A EmArcy, a divisão de jazz da Mercury Records, fundada em 1954, também possuía um catálogo respeitável na viragem dos anos 50-60, mas foi definhando progressivamente e desapareceu dos radares do jazz quando a Mercury foi engolida pela Polygram em 1972. No início dos anos 60, a Columbia ainda detinha nomes como Duke Ellington e Dave Brubeck, mas, em 1965, a combinação da saída do produtor e A&R Mitch Miller, que olhava com desprezo o rock’n’roll (embora já tivesse acolhido Bob Dylan), e a percepção, com a “British invasion” liderada pelos Beatles, de que o futuro estava na pop, ditou uma inflexão da política editorial que relegou o jazz para plano secundário.

7 de Fevereiro de 1964: Os Beatles desembarcam no John F. Kennedy Airport, em Nova Iorque. Um pequeno passo para o quarteto de Liverpool, o início de um declínio vertiginoso para a popularidade do jazz
Os derradeiros grandes sucessos comerciais por grupos de jazz foram obtidos pelo quarteto de Charles Lloyd em 1966-67 (gravando para a Atlantic) e por Miles Davis (na Columbia), que acabara por perceber as virtudes das linguagens do rock e do funk e as assimilara na sua música. O sucesso da fusão operada por Miles Davis e as lúgubres perspectivas do jazz “tradicional” aliciaram muitos músicos de jazz a “ligar-se à electricidade”: se uns, como Herbie Hancock, facturaram milhões com esta inflexão, outros nada ganharam em fazer concessões ao carnavalesco e à estridência. Outros houve que foram forçados a deixar os concertos e os discos e a consagrar-se à docência, outros tiveram mesmo de abraçar profissões não-musicais.

Os Headhunters, banda de funk-jazz fundada em 1973 por Herbie Hancock, numa foto de 1975: O álbum de estreia, homónimo, de 1973, vendeu mais de um milhão de exemplares
O mais belo som depois do silêncio
Enquanto as editoras independentes consagradas desapareciam ou eram absorvidas e as grandes editoras desinvestiam do jazz mainstream e fechavam portas a qualquer proposta de jazz inovador, continuaram a emergir pequenas editoras independentes de jazz, mas geralmente tinham vida curta e escassa capacidade de distribuição, pelo que os seus discos nem sempre eram fáceis de encontrar. E se a música que editavam não era desprovida de mérito, a sua recepção era quase sempre prejudicada por um design gráfico amador e uma qualidade sonora irregular. Neste contexto, a ECM rapidamente marcou a diferença: assegurou distribuição consistente na Europa, EUA e Japão, possuía uma identidade gráfica cuidada e consistente e a qualidade das gravações pautava-se pelos mais altos padrões.
Manfred Eicher, que assumiu as funções de produtor em praticamente todos os discos editados pela ECM – mais de 1500 em 50 anos – fez questão de recorrer aos estúdios com condições “state of the art”. No início dos anos 70, a maior parte dos discos da ECM foram registados em Oslo por Jan Erik Kongshaug no Talent Studio (no Rainbow Studio a partir de 1984), e, em menor medida, por Martin Wieland, no Studio Bauer, em Ludwigsburg (Alemanha).

O Rainbow Studio, numa foto atual
À medida que o seu catálogo foi acolhendo mais artistas e novos estúdios foram emergindo, Eicher passou a repartir as suas sessões de gravação por eles, e no século XXI, a maior parte do trabalho tem sido realizado por James Farber, no Avatar Studio, em Nova Iorque, por Gérard de Haro, nos Studios La Buissone, em Pernes-les-Fontaines (França), e por Stefano Amerio, no Auditorio Stelio Molo (da RSI: Radiotelevisione Svizzera), em Lugano (Suíça).

Studios La Buissone
Porém, Eicher continua ainda a recorrer pontualmente a Konghsaug, que, tendo gravado mais de 700 discos para a editora, se tornou indissociável do “som ECM”, tipicamente transparente e espaçoso. O “som ECM” é “natural”, no sentido em que veicula a sensação de que os instrumentos foram gravados no mesmo espaço acústico e que o som é pouco manipulado e, com efeito, Eicher e os seus engenheiros estudam aturadamente a disposição dos microfones de forma a produzir as suas “esculturas sonoras”. Todavia, a reverberação generosa típica da ECM não é um produto da acústica natural do estúdio, mas um “artefacto” electrónico – que, porém, não soa artificial e é adequada à orientação estética da maioria da música gravada pela ECM, que tende a ser despojada, como sugere o slogan da editora: “O mais belo som depois do silêncio”.
[Trailer de Sounds and silence: Travels with Manfred Eicher (2009), um documentário por Peter Guyer & Norbert Wiedmer]
Manfred Eicher considera que a sua abordagem às gravações “tem muito a ver com a música de câmara” e explica: “comecei carreira na música de câmara e cheguei ao jazz através dos discos de Bill Evans”. Com efeito, Eicher (n. 1943) teve formação clássica e foi contrabaixista na Filarmónica de Berlim, antes de, em meados dos anos 60, ter feito incursões no free jazz, em bandas com o saxofonista alemão Joe Viera, o saxofonista americano Marion Brown ou o trompetista americano Leo Smith.
Jon Christensen, baterista “da casa” praticamente desde os primeiros passos da ECM, diz que quando Eicher está ocupado a gravar uma sessão “a preocupação não é se o disco irá vender bem, mas sim se irá soar o melhor possível”. Apesar da sua intransigência em fazer compromissos quanto à qualidade, Eicher acabou por não se sair mal no plano financeiro, já que nenhuma outra editora independente de jazz logrou uma longevidade e uma visibilidade comparáveis às da ECM. E apesar de as vendas da maior parte dos discos serem modestas pelos padrões da música pop, houve discos de Keith Jarrett, Pat Metheny e Jan Garbarek que foram sucessos de vendas – o célebre Köln Concert (1975), de Jarrett, vendeu mais de 3.5 milhões de exemplares, o que faz dele o álbum de música para piano mais vendido da história.

Manfred Eicher e Jack DeJohnette
Os discos mais populares têm-se mantido em catálogo ininterruptamente desde a sua edição original e alguns dos que se vão esgotando – seria inviável, mesmo para uma grande editora, manter permanentemente disponíveis 1500 referências – acabam por regressar na Touchstones, uma série económica, com capa cartonada que reproduz o grafismo original.
As comemorações dos 50 anos da ECM passam pela edição de uma caixa com todos os discos gravados para a editora pelo Art Ensemble of Chicago (também ele quinquagenário) e ensembles associados (ver O princípio da liberdade: O Art Ensemble of Chicago faz 50 anos) e pela reedição de 50 grandes álbuns descatalogados na série Touchstones – eis os indispensáveis do primeiro lote de 25 (com a Primavera chegarão mais 25).
[nota: na ausência de outra indicação, as datas junto do título dos discos referem-se ao ano de gravação, que nem sempre coincide com o ano de edição]
Paul Bley: “Ballads”
Ano de gravação: 1967
Músicos: Paul Bley (piano), Gary Peacock ou Mark Levinson (contrabaixo), Barry Altschul (bateria)
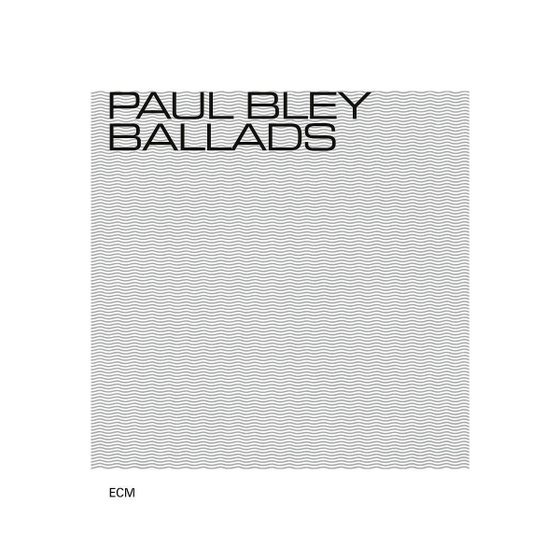
Paul Bley: “Ballads”
O canadiano Paul Bley (1932-2016) teve papel proeminente no início da ECM e continuaria a gravar para a editora (ainda que não em exclusividade) até ao fim da vida: despediu-se da ECM e da edição com Play Blue, que documenta um concerto em Oslo em 2008 (editado em 2014)
Bley, que desempenhara papel fulcral no nascimento do free jazz, como co-fundador, em 1964, da Jazz Composers Guild, e fora pioneiro na introdução do sintetizador no jazz, é protagonista (em piano) do disco n.º 3 no catálogo ECM – Paul Bley with Gary Peacock, gravado em 1968 e editado em 1970 – e do n.º 10 – Ballads, gravado em 1967 e editado em 1971 –, ambos em trio e com o contrabaixista Gary Peacock, que viria também a tornar-se num dos pilares da ECM.
[“Ending”]
Quem espere ouvir as macias e lânguidas melodias das velhas baladas do American Songbook terá um choque: em vez de standards surgem três originais de Annette Peacock (cantora, compositora, esposa de Gary Peacock e parceira de Bley no Bley-Peacock Synthesizer Show) e não há nelas nada de macio ou lânguido: são angulosas, descarnadas, de um rudeza mineral. As marcas do “som ECM” já são bem patentes neste lançamento inicial.
Barre Phillips: “Mountainscapes”
Ano de gravação: 1976
Músicos: John Surman (saxofones, clarinete baixo, sintetizadores), Dieter Feichtner (sintetizadores), Barre Phillips (contrabaixo), Stu Martin (bateria, sintetizadores)

Phillips: “Mountainscapes”
O americano Barre Phillips (n. 1934) tem duas estreias absolutas no seu curriculum: o primeiro disco de contrabaixo solo da história – uma gravação de 1968 que tem sido comercializada sob os títulos de Journal violone, Unaccompanied Barre ou Basse Barre – e primeiro disco para duo de contrabaixo da história – Music from two basses (1971, ECM), em parceria com Dave Holland. Phillips ganhou gosto ao formato solitário e é nele que tem vindo, maioritariamente, a gravar e dar concertos até aos nossos dias.
[“Mountainscape 1”]
Em Mountainscapes, porém, apresenta-se muito bem acompanhado, maioritariamente por músicos europeus, não só por ser (saudável) política da ECM mesclar jazzmen dos dois lados do Atlântico, mas também por Phillips se ter mudado para a Europa em 1967 e ter fixado residência no sul de França em 1972. Mountainscapes dá-nos a ouvir paisagens sonoras escarpadas, algumas mais minerais e estáticas, outras mais agitadas, como é o caso da faixa de abertura – que após uma introdução de contrabaixo solo solene e hierática se converte num torvelinho cósmico.
George Adams: “Sound suggestions”
Ano de gravação: 1979
Músicos: Kenny Wheeler (trompete, fliscorne), George Adams e Heinz Sauer (saxofones tenor), Richie Beirach (piano), Dave Holland (contrabaixo), Jack DeJohnette (bateria)
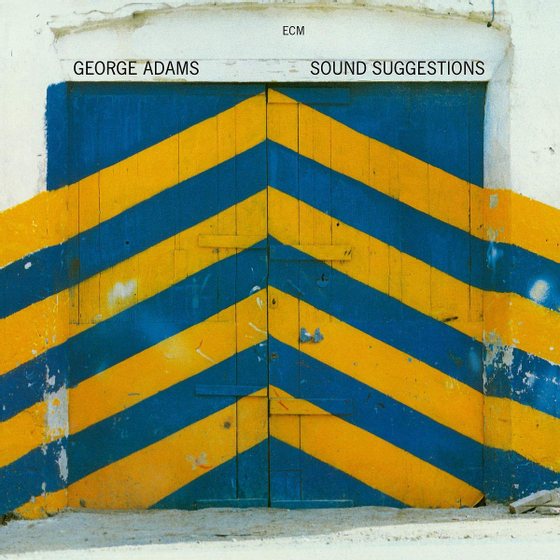
George Adams: “Sound suggestions”
O americano George Adams (1940-1992) tinha, à data desta sessão, poucos discos como líder, mas amealhara profícua experiência nas bandas de Charles Mingus (1973-76), Gil Evans (1975-78) e McCoy Tyner (desde 1976). Nesse mesmo ano de 1979, fundou um quarteto co-liderado com Don Pullen, que durou até à sua morte precoce, aos 52 anos.
[“Imani’s Dance”]
Não contando com o Adams-Pullen Quartet, a sua discografia como líder é escassa, o que confere especial importância a este seu único disco para a ECM, ainda que não seja um disco imaculado – “Got somethin’ good for you”, um blues banalíssimo em que Adams troca o saxofone pela cantoria grosseira e sobre-enfática (críticos mais generosos referem-se à sua voz como “idiossincrática”), tem como única qualidade ser breve. Merece especial atenção o poder propulsivo gerado pela dupla Holland/DeJohnette, presenças usuais nas gravações da ECM dos anos 70 a 90.
Mike Nock: “Ondas”
Ano de gravação:1981
Músicos: Mike Nock (piano), Eddie Gomez (contrabaixo), Jon Christensen (bateria)
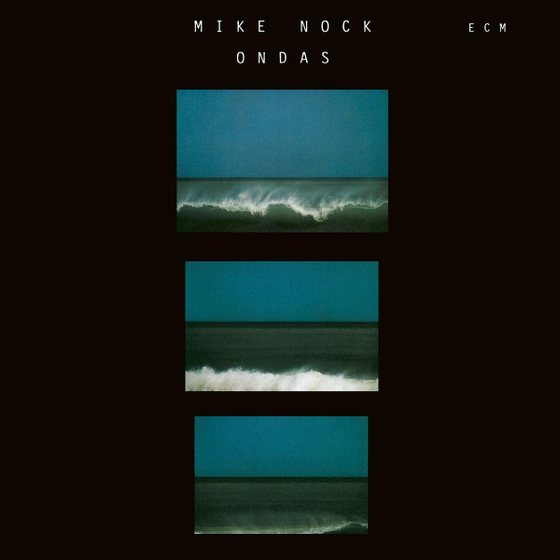
Mike Nock: “Ondas”
A Nova Zelândia não é país que se associe automaticamente a jazz e os pianistas Mike Nock (n. 1940) e Alan Broadbent são dos poucos “kiwis” a ter carreira internacional de relevo. Nock começou pelo jazz de fusão, com os Fourth Way, na viragem dos anos 60-70, mas esta sessão em trio revela uma sonoridade nos antípodas da agitação e espalhafato da fusion e muito perto do jazz de melodias singelas e obsessivas que se tornaria corrente em muitos trios de jazz escandinavos 15-20 anos depois (pense-se em Esbjörn Svensson ou Tord Gustvasen).
[“Visionary”]
“Forgotten Love” é a faixa que leva o minimalismo mais longe, repetindo um ostinato na mão esquerda durante 16 minutos; “Visionary”, a faixa menos minimal e mais efusiva, e em que Gomez assume papel mais interventivo, é o cume do álbum.
Nock seria chamado, em meados dos anos 90, para dirigir a divisão de jazz da Naxos, mas este projecto acabou por ter vida breve e a sua carreira, centrada no Down Under, tem-se pautado pela semi-invisibilidade deste lado do planeta.
Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette: “Standards vol. 1”
Ano de gravação: 1983
Músicos: Keith Jarrett (piano), Gary Peacock (contrabaixo), Jack DeJohnette (bateria)

Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette: “Standards vol. 1”
Embora a ECM tenha criado um forte teia de relações familiares, ninguém tem vínculos mais fortes à editora do que Keith Jarrett e Jan Garbarek. O saxofonista norueguês gravou o seu 2.º álbum, Afric Pepperbird (1970) para a ECM e nunca mais conheceu outra editora. O pianista americano estreou-se em dueto com DeJohnette com Ruta and Daitya (1971) e a solo com Facing you (1971) e, embora tenha continuado a editar os discos do seu American Quartet (com Dewey Redman, Charlie Haden e Paul Motian) noutras editoras, ergueu na ECM uma discografia formidável – em quantidade, qualidade e diversidade. Jarrett grava em exclusividade para Eicher desde 1974 e não se tem confinado ao jazz, surgindo também como intérprete de obras de Bach, Handel, Mozart ou Shostakovich.
[“Meaning of the blues”]
Uma das facetas mais conhecidas de Jarrett é o Standards Trio, formação que já tinha gravado, sob a liderança de Gary Peacock, o álbum Tales of another (1977); foi Eicher que deu a Jarrett a ideia de se juntar novamente a Peacock e DeJohnette, desta feita para rever jazz standards. O resultado foi este Standards vol. 1 e claro que nem os músicos nem Eicher poderiam então adivinhar que o Standards Trio se manteria no activo até 2014, deixando gravados dezenas de álbuns.
Kenny Wheeler: “Double, double you”
Ano de gravação: 1983
Músicos: Kenny Wheeler (trompete, fliscorne), Michael Brecker (saxofone tenor), John Taylor (piano), Dave Holland (contrabaixo), Jack DeJohnette (bateria)

Kenny Wheeler: “Double, double you”
De 1975 a 1999, o trompetista canadiano Kenny Wheeler (1930-2014) gravou para a ECM oito álbuns como líder, em quinteto ou sexteto (quase sempre com Holland e DeJohnette) e mais três integrado no trio Azimuth (com o casal Norma Winstone & John Taylor), antes de se mudar para a editora italiana CAM Jazz.
[“Foxy trot”]
Double, double you é dominado pelas extensas faixas de abertura – “Foxy trot”, com 14’ – e fecho – “Three for D’reen/Blue for Lou/Mark time”, com 23’ – e transborda de vitalidade e lirismo.
Dave Holland: “Seeds of time”
Ano de gravação: 1984
Músicos: Kenny Wheeler (trompete, fliscorne), Julian Priester (trombone), Steve Coleman (saxofones soprano e alto, flauta), Dave Holland (contrabaixo), Marvin “Smitty” Smith (bateria)

Dave Holland: “Seeds of time”
O início da carreira do britânico Dave Holland (n. 1946) está indissoluvelmente ligada à ECM. Holland ganhara grande visibilidade como membro dos grupos de Miles Davis em 1969-70 e do projecto Circle, de Chick Corea, Anthony Braxton e Barry Altschul, com o qual gravou para a ECM o Paris concert (1971), dando início a uma frutuosa colaboração com a editora de Eicher.
O contrabaixista estreou-se como co-líder no já mencionado Music from two basses (1971), com Barre Phillips, e como líder com o extraordinário Conference of the birds (1972), com Sam Rivers e os seus já conhecidos Braxton e Altschul. Nos anos seguintes, Holland entrou em dezenas de discos da ECM como sideman, mas, com excepção de um disco de contrabaixo solo – Emerald tears (1977) – e outro de violoncelo solo – Life cycle (1982) – seria preciso esperar por 1983 para que Holland começasse a gravar regularmente como líder.
[“Double vision”]
Seeds of time é o segundo de uma série de discos em quarteto/quinteto que foi gradualmente perdendo gás – problema que se tornou mais notório após a troca da ECM pela Dare2, editora criada por Holland. Os melhores álbuns do quarteto/quinteto de Holland são os da década de 1980 e, como este, contam como o saxofonista Steve Coleman e o irrequieto baterista Marvin “Smitty” Smith.
David Torn: “Cloud about mercury”
Ano de gravação: 1986
Músicos: Mark Isham (trompete, fliscorne, sintetizadores), David Torn (guitarras), Tony Levin (Chapman Stick), Bill Bruford (bateria electrónica e acústica, percussão)

David Torn: “Cloud about mercury”
O americano David Torn (n.1953) é um mestre no uso de loops, pedais e outros meios electrónicos de processamento associados à guitarra eléctrica, que usa para gerar sofisticados ambientes; porém, o seu perfil está nos antípodas do guitar hero, pelo que a sua carreira tem sido sumamente discreta. Estreou-se na ECM com Best laid plans (1984) e foi na ECM que lançou os seus dois opus mais recentes, os atmosféricos Prezens (2007) e Only sky (2015).
[“3 minutes of pure entertainment”]
Mas enquanto Best laid plans é um álbum centrado na guitarra, Cloud about mercury conta com a trompete de Mark Isham e com o que era, à data, a secção rítmica dos King Crimson, Tony Levin e Bill Bruford. Não é pois de estranhar que “3 minutes of pure entertainment” (que na verdade dura 7’05) e “Previous man” tenham afinidades com os King Crimson de Discipline, Beat e Three of a perfect pair e que até Torn faça lembrar Robert Fripp. Com ajuda generosa da electrónica, o quarteto exibe uma extraordinária diversidade de coloridos e texturas e atinge, por vezes, uma densidade sonora de fazer inveja a um octeto.
Dino Saluzzi: “Andina”
Ano de gravação: 1988
Músicos: Dino Saluzzi (bandoneon)

Dino Saluzzi: “Andina”
Os discos na ECM do argentino Dino Saluzzi (n. 1935) são daqueles que põem em causa as fronteiras entre géneros musicais e disso dão testemunho as vacilações da “Bíblia do jazz” – o Penguin guide to jazz recordings, de Richard Cook e Brian Morton –, que, na sua 5.ª edição, de 2000, lista os discos de Saluzzi, mas já não os inclui na 8.ª edição, de 2006.
Na música de Saluzzi convivem o tango e outras tradições populares sul-americanas, a herança clássica e o espírito improvisativo do jazz, e o vínculo com a ECM, iniciado com Kultrum (1982) só contribuiu para esboroar mais as fronteiras, ao colocar o argentino em colaborações com músicos de jazz europeus e norte-americanos.
[“Choral: The man of miracles”]
Desde 1982 que Saluzzi publica exclusivamente na ECM, quer em bandoneon solo quer com o projecto “familiar” Dino Saluzzi Group, quer em associações várias, com jazzmen como Enrico Rava, Palle Mikkelborg ou Charlie Haden, ou com o quarteto de cordas Rosamunde.
Andina, o seu quarto álbum para a ECM, capta-o a solo, com peças que podem ter marcas evidentes de tango (“Tango of oblivion”) ou soar como um solene coral para órgão de Bach (“Choral: The man of miracles”).
Louis Sclavis: “Rouge”
Ano de gravação: 1991
Músicos: Louis Sclavis (clarinete, clarinete baixo, saxofone soprano), Dominique Pifarély (violino), François Raulin (piano, sintetizadores), Bruno Chevillon (contrabaixo), Christian Ville (bateria)
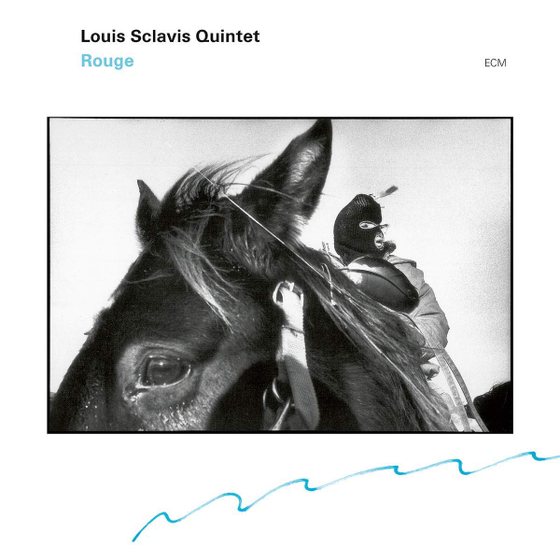
Louis Sclavis: “Rouge”
Apesar de o seu talento estar disperso por várias editoras (nomeadamente a portuguesa Clean Feed), é na ECM que o francês Louis Sclavis (n. 1953) tem os principais opus (se não contarmos com a trilogia gravada pelo trio Romano/Sclavis/Texier para a Label Bleu). A colaboração com Eicher, que já leva quase 30 anos, iniciou-se com este Rouge e tem como título mais recente Asian field variations (2016).
Sclavis é músico de espírito aberto, capaz de incursões na improvisação livre e no jazz-rock e de empreender ousadas revisões de composições de Duke Ellington – Ellington on the air (1991, Ida) – ou do compositor barroco francês Jean-Philippe Rameau – Les violences de Rameau (1996, ECM).
[“Rouge/Pourqoi une valse”]
Um dos seus principais eixos de acção – patente em álbuns para a ECM como L’imparfait des langues (2005), Lost on the way (2008), Sources (2011), Silk and salt melodies (2011) e Asian field variations (2016) – é o “folclore imaginário”, uma síntese, operada pela linguagem do jazz, de referências de world music suficientemente diversas e estilizadas para que seja impossível associá-las a um espaço geográfico preciso.
Há algumas marcas dessa estética em Rouge, ainda que de forma atenuada, pois é um álbum abstracto e despojado, que, apesar de ter sido gravado por um quinteto, raramente tem mais de dois ou três instrumentos a tocar em simultâneo (só a faixa “Rouge” exibe maior densidade e uma pulsação regular e vigorosa). Não é a porta de entrada mais fácil para o universo de Sclavis – os arrebatadores Les violences de Rameau, L’affrontement des prétendents (1999, ECM) e L’imparfait des langues suscitarão adesão mais imediata.
John Surman/John Warren: “The Brass Project”
Ano de gravação: 1992
Músicos: John Surman (saxofones, clarinetes, piano), Henry Lowther, Steve Waterman e Stuart Brooks (trompetes), Malcolm Griffiths e Chris Pyne (trombones), David Stewart e Richard Edwards (trombones baixo), Chris Laurence (contrabaixo), John Marshall (bateria, percussão)

John Surman/John Warren: “The Brass Project”
Outro nome indissoluvelmente ligado à ECM é o multi-instrumentista britânico John Surman (n. 1944). Surman já possuía uma extensa e variada discografia antes de se ter estreado na ECM com Upon reflection (1979), que leva à perfeição as experiências com multi-tracking a que dera início em Westering home (1972, Island), em que se ocupava de todos os instrumentos (metais, palhetas, teclas e percussão). Desde 1979 que Surman grava em exclusividade para a ECM, quer na vertente solo (com palhetas e sintetizadores em multi-tracking), quer em formações em constante mutação – em duo com Jack DeJohnette em The amazing adventures of Simon Simon (1981), com o órgão de John Taylor e coro em Proverbs and Songs (1996), com a cantora norueguesa Karin Krog em Nordic Quartet (1994) e Songs about this and that (2013).
[“The returning exile”]
The Brass Project retoma o encontro, em contexto de formação alargada, com o compositor e arranjador John Warren que já produzira Tales of the Algonquin (1971). É um álbum de arranjos esmerados, que exploram as potencialidades do septeto de metais de forma variada, umas vezes densas e imponentes, outras transparentes e subtis.
O caso de Surman serve para exemplificar outro dos grandes méritos da ECM: enquanto boa parte dos álbuns do músico na ECM têm estado sempre disponíveis no mercado, as suas gravações para outras editoras encontram-se descatalogadas há décadas – é o caso do magistral Tales of the Algonquin.
Bobo Stenson Trio: “War orphans”
Ano de gravação: 1997
Músicos: Bobo Stenson (piano), Anders Jormin (contrabaixo), Jon Christensen (bateria)

Bobo Stenson Trio: “War orphans”
O sueco Bobo Stenson (n. 1944) é outro dos “músicos da casa”: estreou-se como líder (em trio com Anders Jormin e Jon Christensen) com Underwear (1971), a referência n.º 12 do catálogo ECM, e não mais voltou a gravar para outra editora, com excepção da sua participação nos discos do colectivo Rena Rama, surgidos entre 1973 e 1989 em várias editoras suecas.
Para quem já leva quase 50 anos na órbita da ECM, a discografia de Stenson como líder não é muito extensa, pois muito do seu precioso contributo foi dado na qualidade de sideman de Jan Garbarek (em 1971-75), Charles Lloyd (em 1989-96) e Tomasz Stańko (em 1993-97). A maioria dos discos de Stenson em nome próprio foram gravados em trio com Anders Jormin e Jon Christensen, tendo este último dado lugar a Jon Fält a partir de Cantando (2007).
[“Oleo de mujer con sombrero”]
Pautam-se por uma abordagem sóbria e despojada e uma ecléctica escolha de repertório, que combina peças de Stenson e Jormin com standards do American Songbook, Alban Berg, Bela Bartók, Carl Nielsen, Erik Satie, Astor Piazzolla, Ornete Coleman e quase sempre inclui uma canção do cubano Sílvio Rodriguez – é uma cristalina e aérea versão de “Oleo de mujer con sombrero”, de Rodríguez, que abre War orphans.
Peter Erskine Trio: “Juni”
Ano de gravação: 1997
Músicos: John Taylor (piano), Palle Danielsson (contrabaixo), Peter Erskine (bateria)

Peter Erskine Trio: “Juni”
O americano Peter Erskine (n. 1954) tem uma carreira dispersa por variadas editoras, contextos e correntes estéticas, mas não deixa de ter marca forte na ECM, estando presente em álbuns históricos como Bass desires (1985), de Marc Johnson, sTAR (1992), de Jan Garbarek, Open letter (1992), de Ralph Towner, e em vários discos de John Abercrombie. Fora da ECM o seu impressionante curriculum inclui, na pop, Kate Bush, Joni Mitchell e Ricky Lee Jones, e projectos de jazz que vão da fusion dos Weather Report, Steps Ahead e Jaco Pastorius, ao jazz mais tradicional de Gary Burton, Maynard Ferguson e Bob Mintzer, passando pelos super-guitarristas Nguyên Lê e Al Di Meola e pelas cantoras Diana Krall e Eliane Elias.
[“Siri”]
A sua discografia como líder na ECM consiste em quatro discos em trio com Taylor e Danielsson – You never know (1992), Time being (1993), As it is (1995) e este Juni –, de sonoridade depurada e atmosfera lírica e serena. Nas faixas mais “impressionistas”, como “Siri”, Erskine abandona as funções de marcação de ritmo para produzir um subtil trabalho de cores e timbres.
Contra a fragmentação
Além de voltarem a estar disponíveis em CD, os títulos acima mencionados estão também acessíveis em formato digital. Isto é uma prática corrente na esmagadora maioria das editoras, mas a ECM resistiu a adoptá-la até muito recentemente: só em 2017, Eicher firmou contrato com o Universal Music Group e acedeu a que o catálogo da ECM fosse disponibilizado para streaming e download. O comunicado oficial da editora, embora reafirmando que “os meios favoritos da ECM continuam a ser o CD e o LP”, justificou a decisão com o facto de editora e músicos terem vindo “a enfrentar a difusão não autorizada de gravações através da websites de partilha por streaming, bem como pirataria e downloads ilegais. Era, pois, importante, que que o catálogo fosse disponibilizado numa moldura de respeito pelos direitos de autor”.
Esta “resistência à mudança” da ECM poderá ser vista por alguns como uma dessintonia com os tempos modernos ou uma política editorial suicidária, mas Manfred Eicher tem-se regido, ao longo de meio século por princípios maduramente meditados e não está disposto a descartá-los levianamente.

A “resistência à mudança” da ECM poderá ser vista por alguns como uma dessintonia com os tempos modernos ou uma política editorial suicidária
Numa entrevista ao Irish Times, pouco depois do anúncio da “concessão” ao formato digital, Eicher defendeu que os seus discos devem ser fruídos como um todo: “Na era digital, tudo é dividido. No Spotify e nos serviços de streaming congéneres as faixas podem ser obtidas de forma avulsa […] O conteúdo é o mais importante, mas é necessário que as ideias dos músicos e do produtor sejam também apresentadas sob a sua forma original […] Quando fazemos um disco, o ouvinte pode estar certo de que a sequência de faixas que ouve foi um conceito plenamente amadurecido. Isto é muito importante. Quando se escreve um romance, há um princípio e um fim, não se ordenam as páginas ao acaso. Quando se faz um filme, há um processo de montagem e é nessa forma que é apresentado. […] Porém, na era digital , a música é baralhada e a forma do álbum deixa de ser preservada e eu creio que esta encerra uma importante lição sobre o processo narrativo”.
Resta saber quantas pessoas estão disponíveis, na nossa era de multitasking, de modas superficiais e efémeras, de fragmentação e dispersão da atenção e de julgamentos precipitados e assertivos, para conceder às “esculturas sonoras”, laboriosamente buriladas por Eicher e pelos seus músicos e engenheiros de som, os 45 ou 60 minutos de atenção intensa e ininterrupta que merecem.
Foto principal deste artigo: Gary Peacock, Jack DeJohnette, Manfred Eicher e Keith Jarrett (©Deborah Feingold / ECM Records)


















