Índice
Índice
Um dia de Janeiro de 1978, na saudosíssima Rua Duque de Palmela. onde morava o Expresso, fui ao gabinete do “ dr. Balsemão” e atirei-lhe de chofre “se não seria uma boa ideia tentar entrevistar Franco Nogueira”, então retirado em Londres. Que pensaria e nos diria o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar, tão avesso a falar de si e do “país de Abril “ que ninguém lhe ouvira um som desde 1974?
Era “boa ideia”, sim, tanto mais que alguém segredara ao dr. Balsemão “uma talvez disponibilidade do embaixador Franco Nogueira para falar”. Três meses depois parti para Londres.
Sabia que iria encontrar um homem que recusava pronunciar-se sobre um Portugal que o desgostava e não reconhecia como seu – mas em nome do qual muito trabalhara interna e externamente. E também temia a sombra do ressentimento, o peso da desilusão, as meias respostas ou mesmo silêncios teimosos em áreas (por ele) reservadas. Enganei-me felizmente, ou melhor, por um estúpido momento esqueci a fibra de carácter daquele homem, a arte com que fizera política, a sua invulgaríssima qualidade intelectual, a imensa cultura. A capacidade de servir. E o seu treino dos homens e a sua experiência do mundo.
Foi há quarenta anos, podia ter sido há muito mais, lembro-me de tudo. Do vento agreste que soprava naquele dia em Londres, das árvores ainda mal vestidas de primavera no parque onde passeámos, do apartamento acanhado onde ele morava, em Curzon Street. Alberto Franco Nogueira habitava em Londres desde que, após ter estado preso em Portugal e depois internado com grave problema de saúde num hospital publico no qual ingressou com estatuto de prisioneiro, decidira procurar na capital britânica o direito de cidade e a paz silenciosa que não lhe consentiam em Portugal.
A conversa foi vária e profícua. Ressuscitou o jovem crítico literário, amante das belles lettres (foi aliás por aí que surpreendentemente ela começou…); revisitou o deputado, ouviu o diplomata, seguiu o maestro da diplomacia de Salazar. E saudou o combatente que acreditava em si e na sua razão, que para ele ia de par com o bem do país.
Um diálogo pensado, ponderado e racional, como ele. Na semana em que se assinala o centenário sobre o nascimento de Alberto Franco Nogueira pareceu-me que, quarenta anos depois, seria de novo uma boa ideia relê-lo, como certamente o jornalista ”dr. Balsemão”, se aqui estivesse, concordaria. E Franco Nogueira também, de resto: não abriu ele o seu último livro, “Juízo Final”, com largos excertos deste mesmo diálogo, criteriosamente escolhidos por si?
(O Observador agradece ao Expresso a cedência do texto que segue, tal como foi publicado em duas edições do jornal, na última semana de Março e na primeira de Abril de 1978.)
Entre o delfim que não chegou a ser, e o perdedor que confessa ser — “olhando para trás, perdi em tudo” — está um corredor de fundo, tão solitário quanto seguro da justeza das apostas que fez, das cartadas que jogou, dos valores que defendeu. Permanentemente revisitado por dois fantasmas obsessivos, Salazar e África, aos sessenta anos, Alberto Franco Nogueira, vive, cepticamente e com rigor, um dia-a-dia tranquilo — e sem esperanças. Frio, formal, de inteligência academicamente viva e memória bem arrumada, foi recordando para o Expresso momentos e passagens do que ficou para trás: o aluno de Direito, o crítico literário, o diplomata, o ministro, o condutor de uma política externa tão controversa quanto prolongada.
Nascido no Ribatejo “de famílias extremamente modestas”, é graças a elas que “consegue reunir os meios que lhe permitiram uma educação universitária”. Frequenta a Faculdade de Direito de Lisboa, onde curiosamente obtém, em todos os anos universitários, a classificação de treze valores. “Mantive-me dentro da mediania da suficiência”, diz, a propósito. Desses anos, confessa que “nada sucedeu que lhe tenha ficado na memória e que lhe valha a pena recordar”. E acrescenta: “Fui aluno conscientemente modesto, porque quis aproveitar esses cinco anos também para ler e estudar, para além das matérias jurídicas, tudo o que podia. Foi talvez o período em que tive mais intenso contacto com a arte e a literatura”…
… Eu ia de resto falar-lhe agora da influência da literatura na sua vida; da sua fase de crítico literário em algumas revistas e jornais; do seu livro de poemas.
Fiz crítica literária no “Diário Popular” durante quatro ou cinco anos.
Enquanto ainda aluno de Direito?
Durante os últimos anos da Faculdade e os primeiros do Ministério dos Estrangeiros. Fui convidado para fazer parte da página literária do “Diário Popular” por Adolfo Casais Monteiro. Por razões de natureza pessoal, Casais Monteiro resolveu abandonar a direcção da página literária desse jornal, e a crítica literária que fazia. E eu fiquei a substituí-lo, apenas na parte crítica, de início a título provisório, mas, como sucede muitas vezes em Portugal, essa provisoriedade durou até eu sair para o Japão, em fins de 1945. Voltei depois, entre 1951-1953, a fazer crítica literária num semanário, “A Semana”, durante longo período. De tudo isso resultou reunir algumas críticas, que eu reputava com mais interesse ou sobre obras mais importantes, num volume que então publiquei, intitulado precisamente “Jornal de Crítica Literária”.
Ainda sobre essa fase da sua vida: quais os escritores que mais o influenciaram, com quem se dava mais?
Naturalmente, nessa idade e nessa altura, eu dava-me com muitos escritores, de todas as gerações. Se quiser citar os de gerações muito anteriores à minha, diria que tinha relações mais assíduas com Ferreira de Castro e Assis Esperança. Eu frequentava a sua tertúlia, à noite, na velha pastelaria Veneza, onde Assis Esperança e Ferreira de Castro iam tomar o seu chá de tília. De gerações mais novas, convivia com alguns escritores, hoje já desaparecidos, e outros ainda vivos, como o meu querido amigo Domingos Monteiro. Não desejo embaraçar ninguém, e por isso não cito mais nomes, salvo o do meu maior amigo nessa época: Manuel Ribeiro de Paiva, grande artista, de quem fui companheiro de casa durante quatro ou cinco anos.
Essas tertúlias, não passavam para si de um encontro entre amigos, ou significavam mais alguma coisa, em termos de influência literária ou estética?
Embora não me pertença a mim avaliar, não creio que qualquer deles me tenha influenciado no plano literário, estético ou artístico, salvo Ribeiro de Paiva no plano artístico, e até humano.
Eram companheiros…
Companheiros, com quem trocava impressões sobre problemas de literatura, de arte, e de cultura, em geral. Creio que, nessa altura, as influências que eu recebia naqueles domínios eram mais de origem francesa ou brasileira.

Maria João Avillez com Franco Nogueira, em Londres
Quem lia, de um e de outro país?
Nessa altura, lia muito. Pus-me a par de toda a literatura brasileira, desde Machado de Assis até aos nomes então muito em voga: José Lins do Rego, Manuel Bandeira, Catulo, Erico Veríssimo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, outros ainda. Entre os escritores franceses, além dos nomes clássicos, desde Proust a André Gide, estava mais ou menos a par da literatura francesa, lia Mauriac, Barbusse, Claudel, France, muitos outros, os poetas simbolistas, os surrealistas, etc. E não excluo também a leitura que fiz apaixonadamente de alguns romancistas norte-americanos. Aqui recordo particularmente a impressão que me causou a leitura de Steinbeck. E os nomes russos, Dostoievski, Tolstoi, etc.
E o seu livro de poemas, “O Vento e as Grades”?
Isso é um livro quase confidencial. Não vale a pena falar dele.
“Jamais fui um homem das esquerdas”
Falámos já das suas origens ribatejanas, de aluno do Liceu Pedro Nunes e mais tarde da Faculdade de Direito; da sua formação intelectual e literária. Gostaria agora de abordar a sua formação política e pedir-lhe que me fale de si nessa época. Tinha a reputação de ser um liberal e havia até quem o definisse como um liberal de esquerda, se é que posso usar esta expressão… Essas ideias ditas liberais confinavam-se, no entanto, aos limites impostos pelo regime que então vigorava?
Nessa altura e nessa idade não tive preocupações de natureza política. Não sei, portanto, e digo-o com toda a sinceridade, qual a classificação justa que, dentro dessa terminologia, me poderia ser aplicada.
Mas não ignora que este é o julgamento que sobre si se fazia nessa época?
Tomei disso consciência mais tarde. Certamente sempre fui e continuo a ser uma pessoa de convicções republicanas; tinha certamente convicções liberais, no sentido de que nunca me senti diminuído ou afrontado por qualquer pessoa ter ideias diferentes das minhas. Nem considerava, como tantas vezes nós consideramos em Portugal, que fosse uma afronta ou insulto pessoal ter uma divergência doutrinária ou uma convicção ideológica diversa.
Nesse sentido, aquela classificação só poderia aplicar-se-me, mas só nesse sentido. E concordo, e também só mais tarde me apercebi disso, que muitos me atribuíam a classificação ideológica de que fala. O facto provirá, por um lado, de eu não revelar ambições políticas, porque as não tinha. Em segundo lugar, porque os meus contactos eram com pessoas que se situavam nesse plano ideológico e daí o julgar-se existirem afinidades mais profundas do que realmente existiam. Sobretudo, porque eu não hesitava em elogiar e defender, como crítico literário, obras de escritores de esquerda, quando em meu juízo elas o mereciam, como não hesitava em condenar obras de escritores de direita, quando me parecia que isso se impunha. Era um crítico ferozmente independente, e não misturava a literatura com a política. Por isso me terão atribuído o esquerdismo a que alude, mas jamais fui um homem das esquerdas.
Mas como justifica que não tivesse quaisquer preocupações de natureza política? Com a sua idade, sendo aluno de uma Faculdade, vivendo num meio intelectual e artístico onde tudo seria propício a que isso acontecesse?
Eu não tinha ambições de natureza política, decerto, mas isso não quer dizer que não discutisse política e não me interessasse pelo fenómeno político. Posso dizer que, nessa altura, era um nacionalista, mas isso não afectava nem me impedia de criticar o que eu julgasse criticável. Contacto com a realidade política só muito mais tarde o tive, porém.
Quando?
Depois do meu regresso do Japão.
Porquê especificamente nessa ocasião? O que pode ter influenciado ou estado na origem desse tomar de consciência política?
Talvez por uma maior experiência, por uma maior soma de conhecimentos, pela natural maturidade que todos vamos adquirindo com os anos, ganhei mais clara consciência de um certo número de realidades nacionais que me levaram então a ter nesse plano convicções mais definidas quanto aos interesses portugueses.
De qualquer modo, essas convicções foram alteradas posteriormente com a influência que viria a ter em si Salazar? Isto é, houve uma viragem na sua estrutura política, que adveio dessa mesma influência?
Não, não creio que se tenha dado em mim essa viragem, embora possa estar de acordo em que ela me possa ser atribuída por aqueles que me conhecem mal.
Então explique isso melhor…
Há sempre dois planos em que podemos encarar toda a actividade política: o plano propriamente político, digamos de regime ou de partido, e o plano nacional, que não deixa de ser eminentemente político quando põe a nação em face de outras nações. E eu julgo que a minha convicção primordial, fundamental, prioritária, que se impunha a todas as outras, era de ordem nacional: o patriotismo, o nacionalismo, a independência nacional, eram para mim valores evidentes e não passíveis de discussão ou debate. Eram, e são.
Quando eu digo patriotismo e nacionalismo, não quero evidentemente colocar-me numa posição de chauvinismo exaltado e agressivo. Entendo que o nacionalismo não deve nem pode prejudicar a colaboração com outros povos e com outras nações, com as quais tenhamos afinidades, ou em relação às quais tenhamos interesses, independentemente de regimes. Mas impõe a ideia de que em defesa da nação todos os esforços são devidos. E foi a partir dessa ideia de nacionalismo e de patriotismo que eu depois participei da actividade política.
Mas esse patriotismo deve ou não deve acontecer em função da nossa concordância e do nosso aplauso pelo modo como a pátria está a ser conduzida? Ou são duas coisas distintas?
Decerto. Mas bem vê: as prioridades de governo e de uma nação não são sempre as mesmas em todas as circunstâncias e em todas as épocas. Quando interesses que reputamos nacionais estão em risco ou sendo atacados, há aspectos que passam a segundo plano. É nessa altura que o patriotismo impõe obrigações especiais. Sinto-o assim.
Então, só quem o conheça mal pode afirmar que sofreu uma viragem depois de conhecer Salazar…
Não, não houve viragem nas minhas convicções. Decerto, eu não estava de acordo em tudo com Salazar. Nem jamais me foi solicitado que estivesse, devo acrescentar. Mas então jogavam as prioridades a que aludi. E os contactos muito frequentes durante anos com Salazar levaram-me, como é natural, a sentir a força e o interesse de uma personalidade que é inegável. Não será popular dizê-lo, mas Salazar foi um homem de génio. E há que sublinhar este ponto: afirmar que Salazar foi um homem de génio não constitui necessariamente um compromisso político. É apenas um acto de inteligência.
E essa personalidade foi-o fascinando cada vez mais, à medida que melhor e mais profundos eram o vosso conhecimento e a vossa colaboração?
Sem dúvida, mas isso, acredite, nunca me fez perder a minha independência de julgamento nem o meu sentido crítico, quando fosse caso disso. Parece haver a ideia de que Salazar apenas escolhia títeres ou fantoches para seus colaboradores, e isso não é verdade. Era exactamente o contrário. É evidente que procedi sempre com a mais escrupulosa lealdade, como mo impunha a minha dignidade pessoal e o meu feitio, mas justamente essa lealdade permitia-me dizer a Salazar tudo o que pensava.
“Eu ocupava-me de política externa, e não de política interna”
Antes de passarmos com mais detalhe à história da sua relação com Salazar, e da sua actuação como ministro, gostaria que me falasse da sua carreira de diplomata. Onde esteve? Quais as suas impressões?
Estive durante cinco anos no Extremo Oriente, em Tóquio, logo a seguir à guerra, durante a ocupação americana do Japão. Foi um período ingrato no plano pessoal, pelas dificuldades de toda a ordem que a vida apresentava nessa altura em Tóquio; mas, do ponto de vista profissional, foi um período fascinante, pois tive a oportunidade de assistir a toda uma profunda evolução do pós-guerra não só no Japão mas em todo o Extremo Oriente. Fui depois de novo transferido para a Secretaria de Estado, onde estive durante um longo período, e, a seguir, colocado em Londres como cônsul-geral, onde estive três anos, e novamente regressei à Secretaria de Estado. Foi a partir deste momento que passei a ter uma participação e uma intervenção mais activas na execução da política externa portuguesa.
Em que se traduzia essa maior intervenção?
A actividade externa portuguesa já era nessa altura extremamente complexa, revestia-se de múltiplas facetas, e posso dizer que fui então chamado a participar de todos os problemas verdadeiramente difíceis de política externa.
Quer recordar os momentos de maior interesse, para si, dessa fase específica da política externa nacional?
Como momentos de maior interesse, posso talvez recordar, no plano profissional e no plano político, já como ministro, não só os grandes debates da NATO, como os da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Foram momentos tão difíceis como preocupantes, mas que do ponto de vista profissional tinham certamente o mais alto interesse.
Desses momentos, qual o mais gratificante?
Os grandes debates realizados no Conselho de Segurança da ONU representaram talvez, no plano profissional, o momento mais alto da minha carreira nesse plano. Foram os mais espectaculares, embora não os mais importantes. E posso considerar como mais gratificantes aqueles momentos de negociações e conversas bilaterais com ministros estrangeiros, em que tinha a sensação de estar efectivamente a defender interesses que eu reputava importantes para o País.
Havia, portanto, um ajustamento entre as suas posições ideológicas e o seu comportamento político, e a sua função de diplomata?
Havia um ajustamento, enquanto a visão relativa aos grandes interesses nacionais, e permanentes, era coincidente.
E quando não era?
No plano externo, foi sempre, e eu ocupava-me de política externa, e não de política interna.
Essa resposta soa-me como uma espécie de armadilha. Gostaria que desarmadilhasse o que lhe está subjacente…
Não é uma armadilha. É uma realidade. Eu não pretendia ter qualquer intervenção na política interna, e achava que a política externa era uma política nacional para além e acima dos grupos e das facções. Foi textualmente isto que eu disse nas palavras de posse como ministro. E na medida em que a política interna em alguns casos podia afectar a política externa, ou ofender as minhas convicções pessoais, tive sempre a oportunidade de pôr os assuntos muito claramente, com muita frieza, e estou certo de que em relação a esses casos as minhas convicções não foram forçadas.
Em nenhum governo estão todos os seus membros sempre de acordo com todas as decisões, e não se pode estar a pedir a demissão por tudo e por nada, mas apenas por questões de princípio, que toquem na nossa consciência. Nas três ou quatro vezes em que o fiz, tive ganho de causa. Mas, com o País sob ataque severo, implacável, sem quartel, e muito prolongado, a defesa externa dos interesses nacionais tinha prioridade e devia passar à frente de outras considerações, desde que estas não fossem de princípio.
Voltando um pouco atrás: quais os momentos em que sentiu ofendidas as suas convicções pessoais e que, como acima referiu, o fez sentir?
Bem, não tenho aqui os meus apontamentos pessoais, e sinto neste momento um lapso de memória…

“Salazar leu-me até listas de nomes que considerava indicados para seus sucessores”
Salazar nunca lhe falou de possíveis sucessores?
Sim, muitas vezes. A partir de certa altura, esse problema constituía para ele uma obsessão. Leu-me até listas de nomes que considerava indicados para seus sucessores.
Quais?
Escute: seja generosa, deixe-me alguma coisa para as minhas memórias. Se eu as não escrever, digo-lhe.
O seu nome estava incluído nessas listas?
Não mo leu.
Tenho estado a ouvi-lo, todo este tempo, e considero que está um pouco formal. Abordando alguns problemas pela generalidade, e quase nunca pelo específico. Não sei se é do modo como lhe estou a fazer as perguntas, ou se é efectivamente formal?
…
No fundo eu gostaria que esta nossa conversa fosse mais profunda, mais levada até às últimas consequências, que houvesse mais vigor e menos formalismo da sua parte… Não sei se está de acordo?…
Não estou de acordo quanto ao formalismo. E não estou nervoso! (Rindo) Procuro em todas as ocasiões conservar calma absoluta, e não vejo que neste momento haja o menor motivo para que eu a abandonasse e fosse possuído por qualquer nervosismo. Quanto ao formalismo com que julga estar eu a dar as respostas às suas perguntas, quero crer que terá razão, será uma maneira de ser, uma questão de temperamento…
Considera-se formal?
Não me considero formal, absolutamente nada! Que horror! Pelo contrário. Mas pode ser que o seja sem dar por isso. Será mais um dos meus defeitos.
Porque é que aceitou ir para ministro de Salazar em 1961? Já tinha nessa altura, tido algum contacto mais íntimo com ele?
Apenas profissional, quando eu actuava como intérprete nas entrevistas de Salazar com homens políticos estrangeiros de língua inglesa. Quanto à pergunta concreta que me faz, creio que em parte pelo menos já foi respondida antes. Salazar considerava que o problema do Ultramar era independente da estrutura do regime, da ideologia que o caracterizava, das instituições nessa altura em vigor. Considerava que era um problema nacional, em torno do qual se podia e devia fazer uma espécie de união sagrada. Isto correspondia à visão que eu tinha do País e dos seus interesses. E em face dos ataques exteriores, parecia-me que ninguém responsável e isento podia negar a colaboração.
Penso que terá sido esta própria consideração que haverá levado Salazar a chamar para os Negócios Estrangeiros alguém que não era uma “figura” do regime, que não ascendera pela “política”. Quando, muito mais tarde, tive acesso ao espólio de Salazar, verifiquei que muitos dos seus conselheiros se insurgiram contra a minha escolha, alegando que eu não dava garantias de fidelidade ao pensamento do chefe do governo. Apesar disso, Salazar foi por diante com a sua decisão, e chamou-me.
Posso dizer-lhe, para quebrar a frieza que me atribui, que a minha conversa com Salazar neste ponto começou rigorosamente por estas palavras: “Eu sei que o Dr. F. N. não é um meu partidário encarniçado, nem um devoto de todas as minhas ideias e métodos de administração”. Respondi: “Efectivamente, Senhor Presidente, parece que é assim”. E Salazar continuou: “E sei também que é um patriota, um nacionalista, e um bom profissional dos negócios estrangeiros”. Estou a citar palavras de Salazar, garanto-lhe, para não ofender a modéstia conveniente… E Salazar rematou nesta parte: “Por isso só lhe quero fazer três perguntas: está de acordo neste momento com as linhas gerais da política ultramarina? Acha que com os nossos recursos temos possibilidades de defender o ultramar? Acha que vale a pena tentar?”
Este episódio é rigorosamente histórico, se é que se pode utilizar esta palavra para um episódio insignificante. Aquelas perguntas eu só podia dar uma resposta afirmativa, embora quanto a outros planos ou problemas de política interna me viessem ao espírito muitas dúvidas ou discordâncias, mas logo realizei que Salazar não estava positivamente a convidar-me para primeiro-ministro…
“Governar com unanimidade é uma utopia”
Falemos agora de si enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros de Salazar. Como definiu as grandes linhas que orientaram a sua política? Disse-me uma vez que, no que dizia respeito ao Ultramar português, as vicissitudes eram as mesmas, apenas a nomenclatura ou os pretextos mudavam, segundo as épocas e as ópticas?
Desde que Portugal sentiu a necessidade, para sobreviver, de procurar pontos de apoio para além do continente europeu, e a partir do momento em que perdeu a sua força militar para manter exclusivamente através dela esses pontos de apoio, e quando outras nações europeias se lançaram também na expansão ultramarina, Portugal passou a ser, ciclicamente e através dos séculos, vítima de ataques. Esses ataques eram sempre cobertos por uma ideologia que justificava os imperialismos das outras potências, em relação aos territórios portugueses. Chamou-se em primeiro lugar a liberdade dos mares; depois vieram as doutrinas do anti-esclavagismo (repare que não estou a defender o esclavagismo, aliás praticado por todos e não só Portugal, mas a dizer que, por detrás de uma posição evidentemente sã, manobravam grandes interesses políticos e materiais) das esferas de influência, dos mandatos, da autodeterminação, etc.
Em todos os momentos fomos atacados. Sempre com o mesmo motivo: Portugal em África era um embaraço à política alevantadamente idealista das grandes potências. Tudo foi sempre a capa ideológica e a concepção doutrinária que permitiu mascarar a intervenção das grandes forças internacionais e dos grandes impérios para restabelecerem, à custa dos mais fracos, um equilíbrio que dificilmente encontram entre eles próprios. E é evidente que, dada a importância e a posição dos territórios ultramarinos portugueses, as cobiças por eles suscitadas eram imensas, e não poderiam ficar imunes à planificação que esses próprios impérios faziam dos seus objectivos mundiais. E era desta realidade que a mim me parecia importante que os portugueses se tivessem apercebido. Tratava-se de mais um ciclo de ataques e de críticas como nos séculos passados. A história não muda tanto como se pensa. Creio que já alguém disse que o que muda são as perguntas que nós fazemos à história.

▲ "A esmagadora maioria dos portugueses aprovou inteiramente a decisão do governo" de ir para Angola "rapidamente e em força", diz Franco Nogueira
Arquivo DN
Quando, em 61, Salazar disse “para Angola, e em força”, considera que ele encontrou nessa altura um eco total no Pais?
Nenhum governo pode jamais dizer que encontrou um eco total no país. Governar com a unanimidade é uma utopia. Mas não tenho dúvidas de que a esmagadora maioria dos portugueses aprovou inteiramente a decisão do governo. Foi um autêntico levante nacional, e de indignação pelos crimes cometidos no norte de Angola. Não se esqueça de que Ramada Curto veio à rádio dizer que não se muda o general em plena batalha. E Cunha Leal ofereceu a Salazar um livro em cuja dedicatória se advogava a política de resistência até à exaustão, se necessário. Eu li essa dedicatória.
Entrada e saída no Governo de Caetano
Porque ficou no governo com Marcelo Caetano? As razões mantinham-se as mesmas para si? Tanto mais que na altura se falava de si como um dos eventuais sucessores de Salazar…
Aceitei ficar por mais um ano, ou até à primeira remodelação ministerial, se esta fosse antes disso. Havia já cerca de oito anos que eu estava no Ministério dos Estrangeiros — oito anos de trabalho insano. Além disso, considerava que, com a mudança do governo, deveria haver também uma mudança no MNE. E assim o disse, e escrevi, a quem de direito, nesse momento. Era pois muito firme a minha recusa em ficar.
Então por que ficou?
Por uma razão extremamente simples. Porque me foi feito saber, por forma convincente, e em termos claros, que a minha manutenção no Ministério dos Negócios Estrangeiros era uma exigência das Forças Armadas. E que, no caso de eu persistir na minha recusa em ficar mais algum tempo no MNE, isso poderia vir a ter, sobretudo nas F.A. no Ultramar, as consequências mais desagradáveis e inesperadas.
Quem foi o mensageiro desse sentir nas F.A.?
Um homem da inteira confiança do então Chefe de Estado: José Soares da Fonseca. E isso foi-me depois confirmado, em termos apropriados, quando me avistei com o então Presidente da República. Eu não quis assumir a responsabilidade do que me diziam que podia acontecer.
Mas isso tem qualquer coisa a ver com chantagem…
Não. São as necessidades políticas quando há acordo num ponto importante, embora possa haver desacordo noutros. E as conveniências pessoais passam a segundo plano.

“Aceitei ficar [no governo de Marcello Caetano] por mais um ano, ou até à primeira remodelação ministerial, se esta fosse antes disso”
Dava-se bem com Marcello Caetano?
Fui um aluno de Marcello Caetano durante três anos, ou quatro. Depois disso, foram cordiais as nossas relações, embora nunca íntimas, e sempre muito espaçadas.
E quanto à eventualidade de vir a suceder a Salazar… O seu nome foi na altura um dos falados?
Constou-me nessa altura, e através de amigos, que o meu nome tinha sido apontado.
Teria gostado?
Ninguém responsável, com a consciência da seriedade e da gravidade dos problemas, pode responder de forma afirmativa a uma pergunta dessas.
Então porquê só um ano no Ministério? É verdade que teria havido entre si e Caetano uma discussão mais acesa, que teria feito abrandar as vossas relações?
Concluiu na altura, quem era responsável pela política geral do governo, que já não seria necessária a continuação da minha presença. Aliás eu vinha insistindo pela minha saída, até por um íntimo desacordo crescente.
Isso é outro bom exemplo do que é uma resposta formal!
É um bom exemplo do que é uma resposta verdadeira!
Continue então a ser verdadeiro mas um pouco menos formal…
Concluiu-se que talvez o novo governo tivesse já estabelecido a sua credibilidade em face da opinião pública portuguesa, e que, portanto, não se atribuísse à minha saída do MNE o significado que antes se poderia atribuir.
Mas não houve, ao tempo, uma querela, uma discussão com Marcello Caetano, que estaria na origem da sua saída?
Não sei se pode usar a palavra querela. Por mim, nunca houve discussão nem zanga. Mas isso deu-se após a minha saída do governo. Houve apenas a recusa firme da minha parte em desempenhar funções que ele me queria confiar e pelas quais eu não tinha qualquer interesse. Não me ocultou o seu desprazer, digamos o seu vivo agastamento. Mas não cedi.
Quais eram essas funções?
As de presidente da Assembleia Nacional, argumentando, entre outras coisas, que eu fôra o deputado mais votado nacionalmente
E porque não aceitou esse convite?
Achei que, nos termos em que eu já via estar a ser encaminhada a política do governo, eu não poderia dar uma contribuição útil naquelas funções.
O que quer dizer “os termos como já estava a ser conduzida a política do governo”? Que encerra essa frase?
Encerra apenas isto: no meu espírito, estavam sendo criadas dúvidas para as quais eu não encontrava, na actuação do governo, qualquer resposta. E os responsáveis também não me sabiam esclarecer essas dúvidas.
E quais eram elas? África?
Sobretudo. Parecia-me que existiam hesitações, oscilações, e que até, no fundo, se desejava uma política diferente daquela que se proclamava ser a desejada. Embora, estou convencido disso, a esmagadora maioria das pessoas, pelo menos de início, não se tivesse apercebido disso.
África: “A ausência de uma nova política cria logo a velocidade dessa mesma política”
Mas como era possível, por outro lado, continuar a defender daquela maneira, e só daquela, a manutenção do ultramar português? E até quando? E como? E a conjuntura internacional?
Os ataques de que Portugal estava sendo vitima constituíam, como já sublinhei, a repetição cíclica dos ataques que se tinham dado na História. E pensava, como penso, que, justamente a conjuntura internacional não poderia deixar de se alterar e que qualquer alteração introduzida na política ultramarina portuguesa deveria dar-se quando uma nova conjuntura internacional surgisse. Era, este, a meu ver, o interesse
fundamental de Portugal…
Mas isso seria alguma vez possível? Razoável?
… e então, em plena liberdade de movimentos e decisões, sem a pressão exterior, se poderia introduzir na política prosseguida as modificações que parecessem mais convenientes.
Fazia depender, portanto, uma necessária alteração da política ultramarina portuguesa de uma eventual alteração da conjuntura internacional?
Eu não acreditava nem acredito que o mundo possa viver permanentemente no estado de tensão em que tem vivido nestas últimas duas ou três décadas. E esse estado de tensão tem de se resolver de um forma ou de outra. Espero que não se resolva de uma forma catastrófica, embora não o exclua. Mas, se se resolver de outra forma, é muito natural que a solução dessas tensões internacionais possa trazer ao mundo um período de acalmia e de relativa colaboração entre as grandes forças mundiais, as grandes esferas de influência. Seria esse o momento apropriado para, então, se introduzirem as modificações que fossem julgadas necessárias. Se é que, mercê de uma nova conjuntura internacional, fossem ainda necessárias tais alterações.
Poderá perguntar porque é que essa mesma ideia, já que eu pensava assim, não foi, na altura, anunciada e dita? É que há políticas que têm, como se costuma dizer, as qualidades dos seus defeitos. A política portuguesa tinha que ser apresentada externamente como inflexível e intransigente. Quando damos aos outros o direito de discutir a nossa política, já estamos a alterá-la no sentido que os outros querem. E não se pode declarar uma coisa no plano externo e outra diversa no plano interno. Ou imagina que os estrangeiros não escutam e não interpretam o que dizemos entre nós dentro do país?
Em segundo lugar, a própria eficácia dessa política impunha que se criasse, no ânimo do mundo inteiro, a ideia de que não seria alterada. Porque, a partir do momento em que deixe criar em terceiros a ideia de que se vai alterar uma política, os inimigos redobram o esforço do seu ataque, e os amigos que nos apoiam retiram o seu apoio, porque querem começar a apoiar a nova situação que possa resultar dessas alterações.

▲ "Embora não o digam, no fundo as potências ocidentais hoje lamentam que Portugal não esteja ainda em África..."
Não considera então que a descolonização feita pelo 25 de Abril pode, de algum modo, ter sido um efeito, uma consequência, de nada estar preparado, de nunca se ter avançado um passo, de sempre se terem defendido as mesmas ideias, e da mesmíssima maneira?
Preparado, como? Avançado um passo, em que sentido? Era esse o erro: haver em alguns a ideia de que se poderia avançar um passo ou dois, e depois parar quando se quisesse. Bem vê: se na conjuntura que era a da época se avançasse um passo, só poderia ser no sentido do que os interesses alheios pretendiam. Pensa que eles se contentavam com um passo apenas? Suponha que se declarava que ia ser dada independência a Angola e Moçambique dentro de dez anos, ou mesmo dentro de cinco.
Diga-me uma coisa: acha que as Nações Unidas, a União Soviética, os afro-asiáticos, iam cessar os ataques e ficar silenciosos e quietos durante esses anos? Sinceramente, alguém pode achar isso? Não se vê que a pressão feita para que se declarasse a independência seria transferida para o encurtamento do prazo? E não se vê que o simples anúncio de uma nova política cria logo a velocidade dessa mesma política? Bem sei: alegavam-se os ventos da história, os exemplos inglês ou francês, os novos Brasis que se poderiam fazer de Angola ou Moçambique, etc.
Em relação ao primeiro ponto, há que ter em atenção não haver qualquer analogia entre a situação portuguesa e a da França e da Inglaterra. Porque a França e a Inglaterra são grandes potências, com grandes recursos financeiros, económicos, técnicos, científicos, industriais e militares. E, portanto, políticos. O que lhes permitiu realizar uma descolonização em nome da autodeterminação, que foi apenas uma tentativa de reconversão da soberania própria. Reconversão que incidiu sobre dois pontos: o primeiro foi que, pela sua capacidade económica, técnica, militar, etc., a França e a Inglaterra estavam em posição de descolonizar e poderem continuar a ser, para esses povos, centros de atracção, como eram anteriormente. E essa mesma capacidade política, e essa força de que dispunham os dois países, permitia-lhes evitar que terceiros se substituíssem à França ou à Inglaterra na influência nos territórios.
Portugal não era a França nem a Inglaterra. E era muito claro: uma vez quebradas ou enfraquecidos os laços políticos, todos os outros laços desapareceriam. Muitos pensavam que se poderia fazer uma descolonização, mantendo os laços económicos e financeiros e culturais. Como se as grandes forças internacionais que nos atacavam estivessem interessadas, graciosamente, em permitir a Portugal que mantivesse esses laços económicos e financeiros, e outros interesses aliás legítimos, nos antigos territórios ultramarinos. Era uma pura ilusão.
Quanto ao segundo ponto: a ideia de que Angola e Moçambique eram semelhantes ao Brasil. Por que não fazer destes territórios novos Brasis? Esquecia-se este pormenor: a independência do Brasil tinha sido feita pelos colonizadores; a independência de Angola e Moçambique só seria legitimada no plano internacional quando feita exclusivamente pelos colonizados. Ou então teria de se dizer que a independência de Angola e Moçambique deveria ser dada aos brancos, fazendo duas Rodésias. Parece que não era isso também o que a comunidade internacional desejava. Nem essa solução estava na linha ideológica da política seguida. A construção de sociedades multi-raciais não era uma ideia vã, nem artificial.
“Colapso da verdade nacional”
Mas então, como teria sido se não tivesse, por hipótese, acontecido o 25 de Abril?
Portugal tinha, ou não, os recursos apropriados para prolongar a defesa do ultramar até ao momento necessário?
Depende do que chama os recursos apropriados!
Os recursos nacionais. Ou nos venciam, ou não nos venciam. Pode argumentar: mas então não teria sido preferível sacrificar alguma coisa para salvar alguma coisa? Decerto, se fosse isso possível. E calmos na sua teoria de avançar um passo. Os interesses alheios queriam tudo, não apenas alguma coisa. Se cedessemos um pouco contentar-se-iam durante um mês, para logo no mês seguinte exigirem mais, e assim sucessivamente. Julga que alguém, quando pressente a vitória, se contenta com meia vitória? Já se esqueceu de que, quando em 1974 foi publicamente advogado por alguns a autodeterminação com vista a uma comunidade, a uma federação ou coisa semelhante, logo as Nações Unidas se reuniram para rejeitar tudo o que não fosse o que eles queriam?
Acredite: não era viável uma negociação final. Tudo se tentou, creio eu, e nunca foi viável. Já se esqueceu também, entre outras coisas, das minhas longas conversações com os países africanos em Nova Iorque? Curioso é que, oficialmente, queriam que saíssemos de Africa; confidencialmente, muitos nos diziam para fazermos tudo para ficar. Compreende-se: de Portugal nada tinham a recear, mas têm-no dos grandes impérios. O que houve foi um colapso da vontade nacional. Sabe? Embora não o digam, no fundo as potências ocidentais hoje lamentam que Portugal não esteja ainda em África…
Peço-lhe que analise e interprete esse colapso.
As razões serão muitas e eu não posso avaliar todas as que para isso contribuíram. Talvez a perda de uma mística inicial, ou pelo menos o seu enfraquecimento; a nossa bem conhecida falta de sentido crítico, a convicção muito nacional de que as ideias lançadas por outros são boas ideias para nós, de que os princípios estabelecidos por outras potências são os que mais nos convêm, as ilusões de algumas elites para não falar da sua tibieza, o carácter impressionável e emotivo que nos leva a afligir-nos sem necessidade com alguns acontecimentos de além-fronteiras, a convicção de inevitabilidade de certas soluções; e talvez um cansaço psicológico do país que não foi, efectivamente, nem contrabalançado nem esclarecido, como os responsáveis da época talvez devessem ter feito. Era isto, entre outras coisas, que eu queria dizer quando aludi à perda ou enfraquecimento da mística nacional.
E as deserções? E a falta de ânimo nos militares, tanto nos milicianos como nos outros? E o mau estar perante o espectro de uma guerra à qual não só não se via o fim, como perante a qual se sabia que nada estava a ser feito?
Quanto às deserções, não penso que tivessem sido relevantes. Os departamentos competentes da Defesa Nacional da altura tinham números muito rigorosos a esse respeito, e não me recordo de que os responsáveis se mostrassem preocupados. Poderiam ter significado moral. Em termos estatísticos, não o tinham. O mau estar de que fala, e que foi uma realidade a partir de certa época, terá tido também outras causas, designadamente o atribuírem-se à guerra culpas de dificuldades ou deficiências internas, das quais a luta de África não tinha a menor culpa. O encarecimento de preços, uma certa tendência inflacionista, as despesas de guerra que se dizia abafarem o fomento, etc. Ora não era a guerra o factor nem da tendência inflacionária nem do encarecimento dos preços, nem eram as despesas de defesa que travavam o fomento, se tivermos em conta a sua proporção do produto nacional bruto. Que me diz da inflação e preços actuais?
Mas no ânimo, no moral da opinião pública, era.
Reconheço, e por isso aludi há pouco à necessidade de mais esclarecimentos, o que não foi feito a partir de certa época. Quanto às baixas provocadas pela defesa no ultramar: é evidente que constituíam um problema sério, e basta que uma política pudesse pôr em causa a vida de um só português para que essa política não fosse praticada de ânimo leve.
“Ou não se é reserva da República ou se é apodado de ambicioso”
Para voltar a si: sai em 1969 do Ministério dos Estrangeiros. Nessa altura, aceita liderar a campanha eleitoral de apoio a Marcelo Caetano. Porquê?
Eu não estou consciente, embora mo tivessem feito notar posteriormente, de que tenha liderado uma campanha eleitoral nesse momento. Do que eu me apercebi foi de uma grande desorientação entre os candidatos a deputados pelo círculo de Lisboa. E, se em alguma coisa pude intervir nesse momento, foi exclusivamente em relação a esse círculo. Não tive qualquer intervenção na campanha eleitoral para além de Lisboa.
O que foi essa intervenção? Em que é que ela se traduziu?
Limitou-se, no decurso de diversas reuniões que todos tivemos, a procurar coordenar um certo número de tarefas, visto que nem todos tinham as mesmas habilitações ou os mesmos interesses. Houve uma distribuição de tarefas, e de temas, consoante a especialização de cada um. Mais nada.
Não quis ficar, não ficou, pelo menos, naquilo que se considera a reserva da República. Preferiu outro tipo de vida, porventura mais cómodo, mais seguro, com mais dinheiro; aceitou a administração de um banco. Alguns dos seus correligionários não viram isso com bons olhos, outros ainda hoje não lhe perdoam. Não considera algo desprestigiante para si essa mudança de caminho, essa segunda opção?
Não, não considero, e acho bizarra a sua pergunta. Considero-me um bom português, julgo que um bom patriota, um bom nacionalista, e um homem isento. Nunca me julguei um homem com uma missão providencial a preencher, mas apenas um bom português, para servir consoante a sua capacidade e a sua consciência. Dispensados os meus serviços, não seria livre de actuar na minha vida privada consoante melhor entendesse? O que é ser uma reserva da República? É ficar uma reserva à espera, não se sabe de quê, julgando-nos predestinados para altos cargos? Dizemos logo, de indivíduos desses, que se trata de um ambicioso. De modo que ou não se é reserva da República, ou se é apodado de ambicioso.
Em Portugal há talvez a convicção de que, se as pessoas desempenham funções privadas por esse facto perdem a sua independência mental, ou traem as suas convicções. Ou ainda que deixam de ser úteis para defender com isenção causas nacionais. É um erro. Não é o meu ponto de vista, e devo dizer que continuei a sentir-me, mentalmente e logicamente, tão independente como antes.
“A idade de Salazar criara um impasse: nada era possível fazer com ou sem ele — havia que esperar e foi o que o país fez então”
Vamos falar mais especificamente do antigo regime. Como o classificava?
Responder à sua pergunta com uma resposta breve é impossível. Prolongou-se por muitas décadas, e teve fases desiguais, mas creio que de forma grosseira poderemos estabelecer as seguintes: Primeira fase: período ditatorial quer politicamente, quer financeiramente, que consistiu num arrumar de casa. O regime não estava ainda firmado no plano ideológico, nem doutrinário. Uma fase construtiva, de arrumar de casa, repito, e que correspondeu aos desejos da maioria esmagadora da opinião pública portuguesa. A partir da Constituição de 33, o regime procurou institucionalizar-se, e apresentou-se então senhor de uma ideologia, e portador de uma doutrina. E não há dúvida de que para a época foi revolucionário, e realizou para Portugal uma obra cujo activo não pode deixar de se considerar, com toda a isenção, extremamente positiva. Subiu o nível de vida, o país progrediu extraordinariamente, e a solidez económica e financeira eram dois factos indisputados; e num país como o nosso a solidez económica e financeira são fundamentais como garantia da independência e da autonomia das decisões a tomar.
Segue-se a fase das duas guerras, a que se combateu em Espanha e a guerra mundial. E parece que foi boa a política seguida na altura, uma vez que, sem prejuízo nem da honra, nem dos interesses, nem das amizades nacionais, poupou o país às calamidades da guerra. De uma forma que eu caracterizo como de um acabado virtuosismo político.
Numa terceira fase, incluiria todo o período do após-guerra. As reservas que o país tinha adquirido, os métodos seguidos, permitiram poupar-lhe um certo número de dificuldades que se verificaram noutros. Mas entrou-se, no plano mundial, num clima de guerra fria, no embate ideológico entre os grandes blocos doutrinários. E é evidente que Portugal não pôde alhear-se.
Finalmente, uma quarta fase, que eu estabeleceria a partir de 1960, 1961, com a crise do ultramar. E, aí, teremos de fazer uma distinção: a política externa e de África, e sobre essa já falámos, e a política interna. Haveria aqui muita coisa a mudar. Ora, por razões humanas, a idade de Salazar, tinha-se criado um impasse: na legalidade, nada era possível fazer sem Salazar, dado o seu prestígio e autoridade; e nada era possível fazer com Salazar dados os seus anos avançados. Havia que esperar: foi o que o pais fez então.
Totalitarismo, fascismo e o elogio de Salazar
Ainda quanto ao regime anterior: como o caracteriza sob o ponto de vista totalitário?
Que era um regime de autoridade, não há dúvida. Era-o na realidade das coisas, e era-o confessadamente. Como expressão máxima do regime, Salazar mais de uma vez reclamou para as instituições e para a situação o carácter autoritário, mas da mesma forma por que reclamou esse qualificativo também repudiou com a maior energia, e em repetidas ocasiões, qualquer qualificativo de fascista ou nazista.
Efectivamente, não se pode acusar o regime de então de ser totalitário. Totalitário é o regime que não sabe nem pode viver sem o domínio das ideias de cada um, sem o controlo e a posse das consciências, e que além de negar a liberdade em geral cerceia as liberdades concretas e específicas ao ponto de as anular. Não creio que isso acontecesse no regime anterior, sem embargo de todas as limitações. E havia a preocupação de evitar qualquer atitude que pudesse ter afinidades ou levar o regime a ter afinidades com os regimes italiano e alemão até 1945. É evidente que, uma vez finda a guerra, se entrou no que normalmente se chama a “guerra fria”, e o mundo dividiu-se em dois blocos antagónicos, exclusivistas, e tanto mais exclusivistas quanto qualquer deles se afirma messiânico. Tudo quanto não se conformasse exactamente com qualquer desses blocos, sofria os ataques de ambos.
Portugal tinha incontestavelmente prestado durante a guerra grandes serviços às nações aliadas e contribuído na medida das suas possibilidades para o êxito dos Aliados ocidentais, mas Salazar passou a ser criticado e acusado de não alinhar com as democracias ocidentais e de ser um regime de ditadura fascista. Trata-se, a meu ver, de um expediente político. E é curioso notar que aqueles mesmos homens públicos doutros países, os mesmos órgãos da imprensa de outros países, que durante a guerra consideraram Salazar como um aliado. como uma autoridade a que se devia recorrer para sugestões e para conselhos, foram depois os mesmos que acharam que ele não era suficientemente democrático para poder alinhar com as democracias. E depois, sabe?, as grandes potências não gostam de governos firmes nas pequenas potências, porque esses governos de vez em quando sabem dizer-lhes que não.

“A qualidade fundamental de Salazar era a sua força de vontade”
Como define Salazar?
Salazar era incontestavelmente um homem acima do comum, já lho afirmei atrás. Foi um homem em quem qualidades fundamentais existiam num nível invulgar. Direi que a qualidade fundamental, para mim a mais excepcional era a sua força de vontade. Tinha uma força de vontade tão intrínseca, tão inerente, tão constitucional, tão medular, que lhe era tão natural como alimentar-se ou respirar. Não sabia o que era desânimo, não sabia o que era quebrar a sua vontade. Era de uma lucidez meridiana e de uma inteligência aguda. Era um homem que definia os princípios, as grandes orientações; era o definidor da lei, mas era depois o primeiro escravo, o primeiro servo dessa própria lei, e submetia-se-lhe tão inteiramente como se fosse qualquer outro. Era um homem que tinha capacidade de raciocinar sobre dados concretos, mas vendo para além da realidade imediata, e portanto a sua capacidade de interpretação era profunda e desta decorria com igual facilidade uma grande capacidade de previsão.
Não se deixava influenciar; não sabia o que era volubilidade de espírito, mas era susceptível à persuasão através de argumentos e de factos. Não pretendia conformar os factos com os seus princípios pessoais ou moldá-los às suas ideias; mas, uma vez analisados os factos, encontrava a maneira dialética, sem perda de rumo, de adaptar as suas ideias a esses factos, sem prejuízo dos aspectos fundamentais. Não possuía imaginação digna de nota. Via os problemas com uma grande nitidez, sabia desdobrá-los e sistematizá-los nos seus vários elementos, e ordená-los logicamente. Depois tinha dificuldade em encontrar o caminho para os solucionar. Era a fase em que ouvia com a maior atenção as sugestões, os conselhos, as opiniões de todas as pessoas que pudesse convocar. E preocupava-se sobretudo em escutar as opiniões daqueles que sabia antecipadamente sustentarem teses contrárias às dele.
Era através do confronto e do debate que adquiria a certeza das suas próprias opiniões. E, ao contrário do que poderá pensar-se, dava a maior liberdade à discussão dos problemas e ao seu debate…
Ao contrário do que, de facto, poderá pensar-se…
…não só nas conversas individuais, como em Conselhos de Ministros. E nunca notei, nem é do meu conhecimento, que pelo facto de uma discordância fundamental, frontal, aberta, surgissem quaisquer atritos. Convencido do ponto de vista contrário, não sentia dificuldade em mudar a sua própria opinião, nem se sentia diminuído por reconhecer que afinal estava em erro. Tendo convicções muito profundas, muito arreigadas, não tinha talvez uma grande originalidade criadora de pensamento político. Personalizava o pensamento político através do contributo que lhe dava a sua própria personalidade, da cor que lhe imprimia. E foi talvez original na adaptação a Portugal, às condições e aos problemas dos portugueses. Mas no plano propriamente criador, não se pode dizer que tenha sido inteiramente original. Foi buscar, dentro de um grande espírito pragmático que era também o seu, elementos e ideias que julgava úteis a Portugal, e isso tanto no plano político, como no plano económico e financeiro, e a todas caldeava na sua personalidade.
Um ponto não tem sido destacado. Foi um escritor, um estilista. Os Discursos, lidos hoje, dão a sensação de um pensamento original, pessoal, mas quem os estudar profundamente verifica que, se a prosa é magnífica e a expressão é original, a substância é colhida em várias fontes. Foi um homem que sentia um patriotismo cego. Esse patriotismo reflectia-se na defesa dos interesses portugueses, na consciência de orgulho nacional, numa altivez sem limites, no seu comportamento perante estrangeiros. Com naturalidade e extremos de cortesia, falava no entanto de igual para igual com os maiores potentados. E com a expressão verbal e física mais serenas, dizia não quando houvesse que dizer não. Media as consequências dos seus actos, mas como era dotado de uma grande força de vontade e ignorava o significado da palavra medo, conduzia as coisas até ao extremo limite de ruptura e isso levava-o a afrontar com a maior serenidade as ameaças, ataques, quase que ultimatos das grandes potências. Sabia avaliar exactamente qual o ponto de ruptura. E então, mercê da sua dialéctica e capacidade de argumentação, e usando da sua lucidez, podia inflectir caminho consoante a táctica e a estratégia lhe ditassem, sem no entanto ser nele percetível qualquer recuo ou qualquer contradição. Não sei se lhe fiz já um retrato aproximado…?
Duarte Pacheco e o Cardeal Cerejeira McArthur, De Gaulle, etc.
Agora gostava de lhe pedir outro. O do prof. Marcello Caetano, e até uma comparação entre os dois, uma vez que foi ministro dos dois.
Lá lhe referi que depois da Faculdade de Direito as minhas relações pessoais com o Prof. Marcello Caetano nunca foram íntimas, e foram sempre muito espaçadas.
Conheceu muita gente do antigo regime. Numa perpectiva até histórica, curiosa, quem na sua opinião, teve grande influência, quem marcou, “quem deixou rasto”?
Conheci, evidentemente, muitas pessoas. O desempenho das minha funções levava-me naturalmente a ter muitos contactos. com homens de grande nível e muita categoria, quer no plano intelectual, quer no plano técnico. Não lhe posso dizer que, do meu conhecimento, haja no entanto uma figura que se tenha destacado e influenciado de uma forma decisiva a linha do regime. De início, quando o regime foi construído e institucionalizado, a personalidade de Salazar absorvia e impunha-se de tal maneira que as contribuições de outros, decerto valiosas, não terão sido decisivas. Houve homens por quem Salazar teve deferência especial, quer pela sua alta categoria pessoal, quer pelo seu passado, ou porque tivessem sido companheiros ou mestres de Salazar em Coimbra. e ele respeitava esses laços, e essas amizades.
Pode-se dizer, no entanto, que Salazar tinha, neste plano, uma fraqueza e uma força: tinha o fascínio das pessoas inteligentes e isso levava-o a procurar escolher os seus colaboradores entre os mais inteligentes e os mais capazes sem receio de sombras ou confrontações. E, por outro lado, porque eram homens muito inteligentes, levava-o às vezes a desculpá-los ou a perdoar-lhes certas fraquezas. Porque entendia que a inteligência merecia a homenagem das homenagens. Do ponto de vista dele…

“A sua amizade pelo Cardeal Cerejeira nunca inibiu Salazar de distinguir com toda a clareza e vigor os domínios da Igreja e os domínios do Estado”
Mas eu perguntei-lhe do seu…
E das conversas que tive com Salazar, eu fiquei com a convicção de que, entre todas as figuras que passaram por ele, aquela que mais admirou, e que considerava um homem de génio, foi Duarte Pacheco. Ele teve por Duarte Pacheco um respeito quase sem restrições, considerava-o um grande homem, e teve pena real, e mágoa, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista do País, pela maneira catastrófica como Duarte Pacheco morreu. A sua amizade pelo Cardeal Cerejeira foi também muito real, muito verdadeira, mas nunca inibiu Salazar de distinguir com toda a clareza e vigor os domínios da Igreja e os domínios do Estado. E em nenhum momento deixou que a linha entre os dois domínios fosse atravessada, quaisquer que fossem as circunstâncias.
Não estou a sugerir que o Cardeal Cerejeira procurasse atravessar essa linha. Mas Salazar considerava que o seu dever era o da defesa dos interesses do Estado e o rigoroso cumprimento da famosa frase de Cristo: “A César o que é de César, a Deus o que é de Deus”.
Quem foi, no plano internacional, a figura que mais o impressionou?
Algumas. O general MacArthur, por exemplo, que conheci quando eu estava no Japão. Mais tarde, é evidente, tive oportunidade de encontrar homens políticos, no plano internacional, com tendências e feitios diferentes, e posso dizer, sem intuito de estabelecer entre eles prioridades ou valoração relativa, que me ficaram na memória o chanceler Adenauer, o general De Gaulle, em certo sentido o Presidente Kennedy; o antigo secretário dos EUA, Dean Acheson; o antigo primeiro-ministro inglês Anthony Eden. E Pierre Mendés-France, com quem tive apenas um encontro, de grande capacidade intelectual e alta craveira de homem de Estado.
Ser ou não anti-europeu
Como define a sua actuação como deputado?
Fui deputado numa só legislatura, a de 1969-1973. Quanto à minha actuação nesse período, foi propositadamente apagada, digamos discreta. A política seguida pelo governo de então, já o disse, não era para mim clara; nalguns casos parecia-me perigosa, noutros casos eu não descortinava mesmo qualquer política. Por detrás da clareza verbal do que era dito pelos responsáveis, havia uma permanente e acaso propositada ambiguidade de conceitos. Em consciência, julguei dever intervir apenas em matéria na altura fundamental, a questão ultramarina, e isso penso que o fiz com nitidez.
Por que era tão ferozmente anti-europeu? Tinha até discussões violentíssimas com os deputados da Ala Liberal.
Portugal é um país europeu pela sua situação geográfica, pela sua formação histórica, pela sua afinidade cultural. Neste contexto, já vê que eu não sou, não posso ser anti-europeu. Mas naquelas coordenadas cessa o europeísmo de Portugal. E naquela altura a Europa, a integração de Portugal na Europa, o ingresso na Europa eram apresentados e desejados por alguns como alternativa que se opunha, e excluía e devia anular, qualquer opção ultramarina. Neste ponto a minha discordância era na verdade frontal.
Porquê?
Digo-lhe as minhas razões. Primeiro, o centro de gravidade da nação portuguesa estava no ultramar, e este deveria portanto ter prioridade. Abandonar o ultramar, recordo-me de o ter dito então, seria entregá-lo à colonização de terceiros, para depois Portugal metropolitano ser por seu turno colonizado. Ter-me-ei enganado muito?
Em segundo lugar, eu não acreditava na unidade europeia, na integração europeia. Não acreditava, nem vejo ainda razões para acreditar, pelo menos para as gerações mais próximas. Recordo-lhe que o patriarca dessa ideia, Jean Monnet, escreveu aí por 1945 um livro intitulado “Os Estados Unidos da Europa começaram”. Decorreram quase trinta e cinco anos. Parece-lhe que os Estados Unidos da Europa começaram? Ou que estão em vésperas de começar? Bem vê: a ideia de uma integração europeia de um mercado comum europeu é um mito, uma frase literária, que no entanto deslumbra e fascina alguns. E nós, portugueses, gostamos muito de nos iludir com mitos e depositar neles, mais do que em nós próprios, esperanças de salvação.
Mas se essa integração, esse Mercado Comum Europeu, se realizarem?
Então será de ver com espírito sem preconceitos qual a situação que se apresenta. De momento, julgo que Portugal não está em condições de entrar para esse Mercado Comum. E presumo que o não estará durante anos. Seria colocar uma economia mais que vulnerável, mais que débil em comunicação directa com economias altamente desenvolvidas. Seriamos dominados, asfixiados por tais economias. E seríamos também um peso para o Mercado Comum. De modo que a situação poderá ser esta: ou o Mercado Comum nos rejeita, e teremos de aguardar até pormos a nossa economia em ordem; ou forçamos a nossa entrada e constituiremos o tal peso. Neste último caso, afigura-se-me de ter presente que ninguém está disposto a suportar um peso por simples filantropia, e teremos portanto de pagar um preço e esse será o de passarmos a ser uma colónia do Mercado Comum. Mas se, um dia, a comunidade e a integração económica europeia se concretizarem?
Eu pergunto: será necessariamente uma desgraça se não formos logo membros? Em face de um grande bloco económico não poderemos negociar como negociamos hoje com outros grandes blocos económicos, como os Estados Unidos ou a União Soviética? Em qualquer caso, impõe-se-nos estarmos conscientes de que o abandono do ultramar diminuiu brutalmente o nosso poder de negociação, e por isso muito maior cuidado há que ter, quer em negociar, quer em nos tornarmos membros.
Numa hipótese ou noutra, julgo que seria de aguardar antes de tomarmos decisões precipitadas. Isto é o que me parece. Bem vê: a ideia de uma Europa integrada é velha de mais de mil anos, e nunca foi possível. Alguém acreditará que os tempos agora são outros? Para os coevos, parecem sempre outros tempos, e novos, e por isso afadigam-se atrás de mitos em que se depositam todas as esperanças e que depois apenas produzem destroços e desilusões. Estou certo de que os que acreditam na integração europeia continuam à espera. Pode ser, porque quem espera, sempre alcança. Também é verdade que quem espera, desespera. Note: não estou a exprimir uma opinião sobre se seria desejável para a Europa e para Portugal que tivesse êxito a tentativa de integração europeia. Esse é outro problema.
“A Constituição de 76 um acervo de contradições”
Que pensa da actual Constituição portuguesa?
Da leitura ficou-me a ideia de ser um conjunto de compromissos negativos, isto é, cada um dos autores, singulares ou colectivos, afastar o que não queria. Quando o não conseguiu e teve de aceitar uma ideia alheia, impôs também a sua própria. Daqui resultou que o diploma é um acervo de contradições. A mais grave parece-me ser a de fazer partilhar ou distribuir a soberania entre órgãos havidos por soberanos, sendo um de base democrática e outro de base aristocrática. Não me parece também uma Constituição afeiçoada aos problemas do povo português. Nem ao carácter, nem à estrutura moral da sociedade portuguesa, cujos valores, princípios e necessidades são alheios ao socialismo. Note: não se deve cometer o erro de confundir socialismo com justiça social. Esta, além de uma exigência moral, constitui talvez o grande problema do último quartel do século. Mas não é o socialismo que a conseguirá.
Preocupado apenas de destruição e não de produção, introduz a anarquia no consumo, e este leva-o a um capitalismo sem freio, que não conduz à justiça social, mas ao agravamento das injustiças. Estes são os factos comprovados por todas as experiências; e por isso, pelo menos no mundo livre, as sociedades encaminham-se para regimes que poderemos chamar de direita social De qualquer modo, não creio que… com a melhor boa vontade, melhor boa-fé, a actual Constituição seja exequível, cumprível.
Que pensa do Presidente da República?
No contexto da realidade política portuguesa, não podem existir dúvidas de que o Presidente da República é o único órgão de soberania que tem base nacional, e dispõe portanto de uma legitimidade nacional. Sobre os ombros do Sr. Presidente da República assentam assim responsabilidades muito pesadas, mas também faculdades muito latas, de que lhe é lícito usar para defesa de interesses nacionais. É este o drama de um Chefe de Estado: solidão no topo.
Que pensa das Forças Armadas?
Em todos os países civilizados as Forças Armadas são as defensoras da integridade nacional, e dos interesses e valores fundamentais do seu povo. Julgo ser este efectivamente o papel que lhes cabe, e não é pequeno. Mas se, com a sua pergunta pretende suscitar implicações de ordem política, julgo que, não as Forças Armadas no seu conjunto, mas alguns militares acaso terão a consciência de oficiais esmagada ao peso das responsabilidades históricas que assumiram.
“A revolução só tem sido muito precisa nos aspectos negativos”
Porque houve, na sua opinião, o 25 de Abril e o que é que ele representou para si?
Será difícil traçar desde já um quadro completo das razões que levaram ao 25 de Abril. São muito complexas, algumas estão longe de conhecidas nem estarão documentadas, e só a história poderá tentar uma averiguação completa. Em todo o caso, talvez se possam adiantar alguns elementos: em primeiro lugar, uma ambiguidade da política seguida até então: uma perda de mística nacional; e um colapso da vontade colectiva e que aludi atrás; e finalmente causas muito próximas que, tendo uma natureza diferente, foram aproveitadas para serem politizadas…
Quais?
Quero referir-me às de ordem disciplinar e de ordem administrativa, relativas a alguns grupos de oficiais das Forças Armadas.
Sabendo-se que um dos objectivos imediatos do 25 de Abril era a descolonização, não se sente de algum modo responsável por ter sido o condutor de uma política externa africana, lutando “à outrance” pela manutenção das coisas como estavam e não vendo a irreversibilidade dos factos?
De maneira nenhuma. Não declino responsabilidades que me caibam, mas enjeito as demais. Então eu deixo o Governo em 1969 e sou responsável pelo que sucede quase cinco anos depois? Acaso tive alguma responsabilidade na condução da política externa nesses anos? E na política ultramarina? E na política militar? E na política geral? Seria uma estranha maneira de eu ter responsabilidades sem ter a menor parcela de poder! E que factos é que eram irreversíveis?
Como divide e analisa o período compreendido entre 25 de Abril de 1974 e Março de 1978? Como vê estes cinco anos?
Primeiro, terror e arbitrariedade como armas políticas, caos e violência: depois, tentativa de aplicar uma Constituição inviável. No mais, creio que a Revolução só tem sido muito precisa nos aspectos negativos. Afigura-se-me que deve ser progressivamente difícil fazer a opinião pública aceitar que, ao fim de quatro anos, as culpas de tudo continuam a pertencer à “pesada herança”. Apenas digo o que me parece.

▲ "Será difícil traçar desde já um quadro completo das razões que levaram ao 25 de Abril"
D.R.
Qual foi, na sua perspectiva, o papel do MFA?
Inicialmente, parece-me que foi o de condutor militar e suporte da revolução. Depois, deixei de compreender os seus objectivos. Não sei. Seria talvez interessante que o país o soubesse.
Explique um pouco melhor…
Ignoro se esses objectivos são de natureza política ou outra.
E como vê o papel dos partidos políticos, como os analisa?
Os partidos políticos constituíram-se a título de facto inicialmente, e depois de harmonia com os preceitos constitucionais. Continuam a actuar como órgãos do sistema. É normal. Curioso é que os actuais partidos parecem adoptar a velha linha de Maurras, que recomendava “politique d’abord“. Talvez por isso se diria que estão divorciados da opinião pública. Mas talvez esta minha óptica seja proveniente da distância.
Gostaria que caracterizasse e analisasse o papel dos países estrangeiros em relação a Portugal, nestes últimos anos.
Esse problema é muito delicado e muito grave. Não creio serem lícitas dúvidas de que a posição portuguesa se tornou no plano internacional extremamente frágil, e Portugal hoje objecto da luta entre as grandes forças em presença, entre os grandes blocos, cada um deles procurando incluir Portugal na sua esfera de exclusiva influência. Interdependência é uma coisa, dependência é outra. Seria talvez conveniente que o povo português se apercebesse e acreditasse que tem de pagar a factura da sua dependência. Esta pode ser política, ou económica, e geralmente é ambas as coisas.
Não estará a ser excessivo?
Excessivo? Eu creio que estarei mesmo aquem da realidade. Olhe: tenho aqui à mão um recorte do “Financial Times”, de 8 de Março, que diz, e eu cito: “Portugal estará condenado ao subdesenvolvimento, a ser a mais pobre nação da Europa, e obrigado a entregar mais e mais a sua soberania nacional às exigências dos seus credores internacionais”. Mas oxalá que tenha razão no seu reparo.
“O que se passou até agora é a espuma da superfície”
Sobre que homens a seu ver repousa o futuro de Portugal?
Não saberia citar nomes, nem o desejaria ainda que o soubesse, porque penso que o futuro de Portugal repousa fundamentalmente nos portugueses. Sobretudo na juventude, que parece já se ter apercebido de que, fora e além da Nação, nada de sólido existe.
Quais as razões objectivas de se ser português hoje? O que vamos ser?
É sintomático, é significativo que me faça essa pergunta e que, segundo parece, esse problema ande no espírito da generalidade dos portugueses. Sentiria a necessidade de formular essa pergunta antes do 25 de Abril? Julgo muito grave que a questão esteja posta. Ela traduz, antes de mais, dúvidas quanto às nossas raízes; e depois traduz dúvidas quanto ao nosso destino. Tenho observado que apenas se pôs em causa a viabilidade de Portugal depois de ser abandonado o Ultramar. E tenho também observado que esse problema é posto precisamente por aqueles que mais defenderam esse abandono. Ocorre perguntar: quando se bateram pelo abandono do Ultramar já tinham dúvidas sobre a viabilidade de um Portugal reduzido à Metrópole? Se já as tinham, haveremos de concluir que pouco cuidado lhes dá a sobrevivência de Portugal: caso contrário, e se apenas agora se aperceberam do problema, é de lamentar a ligeireza do seu procedimento anterior.
Por outro lado, a pergunta quer dizer que não sabemos o que somos como nação. Ora bem. Nós éramos uma nação com um conteúdo, uma dimensão não só territorial como humana. Havia um homem português e um mundo português. Sentia-se uma missão e um destino. Aquela e este apoiavam-se em forças nacionais. Ora aconteceu, e repare que isso aconteceu pela primeira vez na nossa história, que as forças internacionais venceram as forças nacionais. Quais as consequências? Ninguém pode prevê-lo. Parece-me que o país está longe de se aperceber das consequências do 25 de Abril, e que estas estão longe de ser aparentes. Tudo o que se passou até agora é a espuma da superfície. Como todos os países, Portugal tem as suas coordenadas, enfrenta encruzilhadas de forças exteriores. E estas, na sua acção, são lentas, surdas, subterrâneas, às vezes até não premeditadas, mas nem por isso menos reais. Como estão a actuar essas forças e como vai o povo português comportar-se em face delas? Não creio, também, que alguém o saiba.
Tudo isto, a meu ver, é agravado por outra circunstância: pela primeira vez na sua história, Portugal não se rendeu a uma força superior, mas a uma ideia, e essa ideia não é portuguesa mas alheia. Creio este ponto muito importante: quando nos rendemos obrigados pela força, não estamos por esse facto a dar razão ao adversário nem a abandonar os nossos princípios. Fomos vencidos. Mas o Portugal de hoje não é um Portugal que tenha sido vencido: foi convencido. Isto deverá querer dizer que houve efectivamente um colapso da vontade nacional. E de repente o país sente-se sem rumo, sem ponto de apoio, sem experiência de constituir, de súbito, uma nação diferente. Penso que será esta, entre outras possíveis, uma explicação para a sua pergunta.
Mas, concretamente, o que vamos ser?
Temos antes de mais, julgo, que tomar consciência de que somos uma nação diferente. E depois temos de reagir vigorosamente contra o desalento, a descrença. Por imperativo moral, é vedado a qualquer português, como português e como membro de um todo, partir de ideias suicidas. As nossas raízes não desapareceram: temos de acreditar nelas. As nossas capacidades não se extinguiram: temos de as aplicar. Temos de reganhar certezas sobre nós próprios. Temos de tornar bem vivo o sentimento colectivo, o sentido nacional, o patriotismo, o brio de se ser português. E se somos hoje uma nação diferente, haveremos de encontrar e empenhar-nos num novo projecto nacional, que nos justifique perante nós mesmos e perante o Mundo. Esse projecto, penso, terá de obedecer às seguintes premissas: aliciar e mobilizar a vontade dos portugueses; assegurar a independência nacional; ser viável, isto é, comportável nos recursos existentes e naqueles que com esforço e trabalho saibamos criar.
Dizem-me que a generalidade dos portugueses só pensa no dia de hoje e que aceita tudo contanto que passe o dia de hoje. No fundo, isto é talvez produto de um sentimento de desespero, de um desejo de evasão, de uma recusa às realidades. Mas se não deixar de ser assim, então será de recear que não haja dia de amanhã. Não pode ser isso que os portugueses desejam. Continuamos a ter motivos para querermos ser portugueses e não
outra coisa. Aliás, é pura ilusão pensar que viveríamos melhor se fossemos qualquer outra coisa. Julgar-se-á que alguém ou algum outro povo nos sustentaria, e nos faria viver bem no plano material, apenas por desvelado amor dos portugueses?
O que vai fazer?
No imediato, vou concluir o trabalho que tenho entre mãos. A seguir, tenho planos para uns dois livros. Depois, é o futuro — e o seu mistério.
Desistiu da política?
A política não é uma profissão, nem uma actividade para satisfação de ambições pessoais, mas apenas um serviço, pelo que a sua pergunta não tem para mim sentido.
Quando volta?
Voltar!? Desejo-o bem, mas eu preciso de trabalhar e isso é-me negado em Portugal.
Segue os acontecimentos e a sua evolução?
Sim, decerto, e com a maior das preocupações, como português.
Como surgiu a biografia (de Salazar) e quais as razões do seu êxito
O que fez durante estes cinco anos?
Depois de vicissitudes que só a mim interessam, vim para Inglaterra em Agosto de 1975 e aqui tenho trabalhado.
Porquê a Inglaterra?
Conheço Londres de há muito, já aqui exerci funções oficiais, tenho numerosos amigos ingleses, e os ingleses são um povo que admiro.
Que lhe custou mais largar? De que tem mais saudades? O estar fora do seu país traduz-se imediatamente, para si, em quê?
Correndo o risco de parecer sentimental, não me envergonho de confessar que tenho saudades de Portugal, dos meus familiares. dos meus amigos. Saudades daquele pequeno mundo que todos nós construímos, os meus papéis, os meus livros.
A propósito de livros: porque escolheu a personalidade de Salazar para fazer uma biografia?
Tendo desempenhado durante o seu governo algumas funções importantes, vieram ao meu encontro, naturalmente, muitos dados e muitos testemunhos, sobre a vida de Salazar. E é evidente que reuni, no decurso dos anos, muita documentação que eu julgo do maior interesse.
Aconteceu, por outro lado, que me foi facultado, com a autorização do professor Marcello Caetano, depois da morte de Salazar, o acesso ao espólio de documentação por ele deixado.
E que estava aonde?
Estava nessa altura, já reunido, creio que pelo professor Lumbrales, numa cave do Palácio de S. Bento.
Aproximadamente quando?
Não posso precisar, mas muito antes do 25 de Abril. Eu comecei este estudo em 1973 e, durante todo o Outono de 73 e a passagem para o Inverno de 74, frequentei assiduamente esse arquivo.
Voltou lá depois de 25 de Abril de 1974?
Sim, uma vez, e em conjunto com o estão secretário-geral da Presidência do Conselho, Paiva Brandão, para fazer a entrega da chave, repôr os originais de quatro ou cinco documentos que tinha para fotocopiar, e mostrar como tinha deixado os arquivos.
Apenas voltou uma vez mais porque a situação tinha mudado, ou porque considerava que já tinha tudo o que lhe era necessário?
Porque a situação tinha entretanto sido modificada. Decerto eu teria ainda prolongado, por mais algum tempo, as investigações, pois não tive oportunidade de examinar todos os cofres que lá se encontravam. Cheguei a fazer o pedido, mas não obtive resposta. Tive de procurar fontes alternativas, mas não estou seguro de o haver conseguido em todos os casos.
Gostaria que me falasse disso: das fontes a que recorreu, das pessoas que viu para esse efeito, etc.
Recorri a fontes de várias origens. Em primeiro lugar, vali-me das pessoas familiares de Salazar, ainda vivas.
Foi fácil?
Não tive dificuldades a esse respeito. Falei, em primeiro lugar, com as irmãs, que fui visitar a Santa Comba, e com quem estive durante longas horas. Tomei, na altura, notas muito minuciosas. Falei depois com muitas outras pessoas de Santa Comba, que conheceram e privaram com o antigo Presidente do Conselho. Percorri também muitas das freguesias dos arredores do concelho de Santa Comba, sempre que me indicavam a existência de pessoas que o haviam conhecido, ou mesmo parentes dessas pessoas. Aí recolhi inúmeros depoimentos, testemunhos e indicações.
Nessa busca de fontes, não há nenhum episódio ou pessoa que gostasse de referir, por mais interessante ou pitoresca?
No concelho de Santa Comba, talvez de todas as pessoas com quem falei, do ponto de vista exclusivamente humano, a de maior interesse terá sido o pedreiro Ilídio, que durante cerca de cinquenta anos trabalhou para Salazar, e que me referiu longamente os pormenores de que ainda se recordava. E a frase para mim mais expressiva usada pelo pedreiro Ilídio e que eu incluo num dos meus livros, é esta: “Não havia um palmo de terra em que Salazar não pusesse a mão”.
À parte isso, temos Coimbra. Aí falei com antigos professores, alguns dos quais ainda o tinham conhecido, como foi o caso de Paulo Mereia, de Cabral Moncada, de Bissaia Barreto. O mais íntimo amigo durante todo o tempo de Salazar foi, como todos sabemos, o Cardeal Cerejeira. Com ele tive numerosas entrevistas, quer em Lisboa, quando ainda era Cardeal Patriarca, quer depois da sua aposentação, quando estava vivendo no seu retiro da Buraca. Tive oportunidade de lhe fazer numerosíssimas perguntas, e de obter dele a revelação de episódios, de factos, e até muita documentação que de outra forma seria impossível. Designadamente, a única colecção completa do jornal “Imparcial” que existe pertencia ao Cardeal Cerejeira. Tenho-a em meu poder para entrega oportuna à Universidade de Coimbra, consoante determinação do Prelado. E finalmente, em Viseu. Fui a Viseu, onde pude consultar os arquivos do liceu e sobretudo os do seminário de Viseu e do colégio de Via Sacra, onde Salazar foi, durante um ou dois anos, perfeito. Tanto num local como noutro, pude obter documentação do maior interesse, designadamente fui aí descobrir o original manuscrito da primeira conferência feita em Coimbra por Salazar, de que tirei uma fotocópia.
Finalmente, ainda poderia dizer que falei com numerosas outras pessoas, antigos ministros, antigos amigos, famílias com as quais o antigo Presidente do Conselho tinha privado. E foram estes os elementos que no plano humano, pessoal e de documentação, pude reunir.
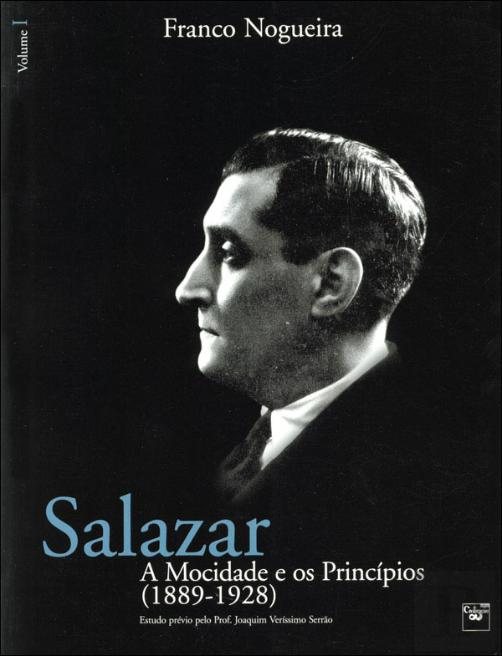
O primeiro volume da biografia de Salazar escrita por Franco Nogueira
Foi um trabalho que o ocupou todas as horas do dia?
Não as horas do dia, pois que tenho as minhas ocupações, mas muitas horas da noite.
Como explica, numa revolução com as características especificas da nossa, o êxito que obtiveram os seus volumes sobre Salazar?
É difícil avaliar as razões que levam as pessoas a comprar livros, tão diferentes são, tão dispares. Eu próprio tenho feito a mim mesmo essa pergunta sem encontrar uma resposta que me satisfaça. Algumas pessoas terão sido determinadas pela curiosidade do tema em si. Outras pela curiosidade de saber o que é que eu diria, e como trataria o tema. Penso que muitas pessoas julgaram que eu iria escrever essa biografia de um ponto de vista apaixonado, apologético, saudosista. E julgo saber que foi com grande surpresa, pelo menos, que muitas verificaram não ter sido essa a minha intenção.
Tenho procurado nortear-me por um critério extremamente objectivo, diria frio, certamente desapaixonado, deixando sobretudo falar a documentação e as fontes históricas, e isso talvez tenha dado ao trabalho um tom um tanto descarnado e excessivamente esquemático. Preferi, em todo o caso, fazê-lo dessa maneira, a poder ser acusado de paixão, ou a fazer uma biografia que fosse contraditada, por eu falar mais do que as fontes.
Em que consiste o terceiro volume, e quando sai a público?
O terceiro volume está já a ser impresso, espero que saia brevemente, e constitui a narrativa da posição portuguesa durante a guerra internacional que se travou em Espanha, a guerra civil espanhola, e a guerra mundial que se lhe sucedeu, de 39/45.
E o que será o quarto volume?
Segue a narração da vida de Salazar até à sua morte, portanto desde fins de 45 até 1970. A extensão do período abrangido e a abundância da documentação de que disponho poderiam motivar o desdobramento desse quarto volume em dois, ficando a obra em cinco volumes. Não tenciono fazê-lo, se bem que esteja consciente de que terei de sacrificar muita documentação, e até o equilíbrio geral da obra.
Porque me deu esta entrevista? Porque deu esta entrevista ao Expresso?
Se me disser por que ma pediu, dir-lhe-ei por que lha concedi…
Mas sentia uma necessidade de falar, ao fim destes cinco anos?
Necessidade, não. Mas, desde que a oportunidade é facultada, é um dever corresponder-lhe.

















