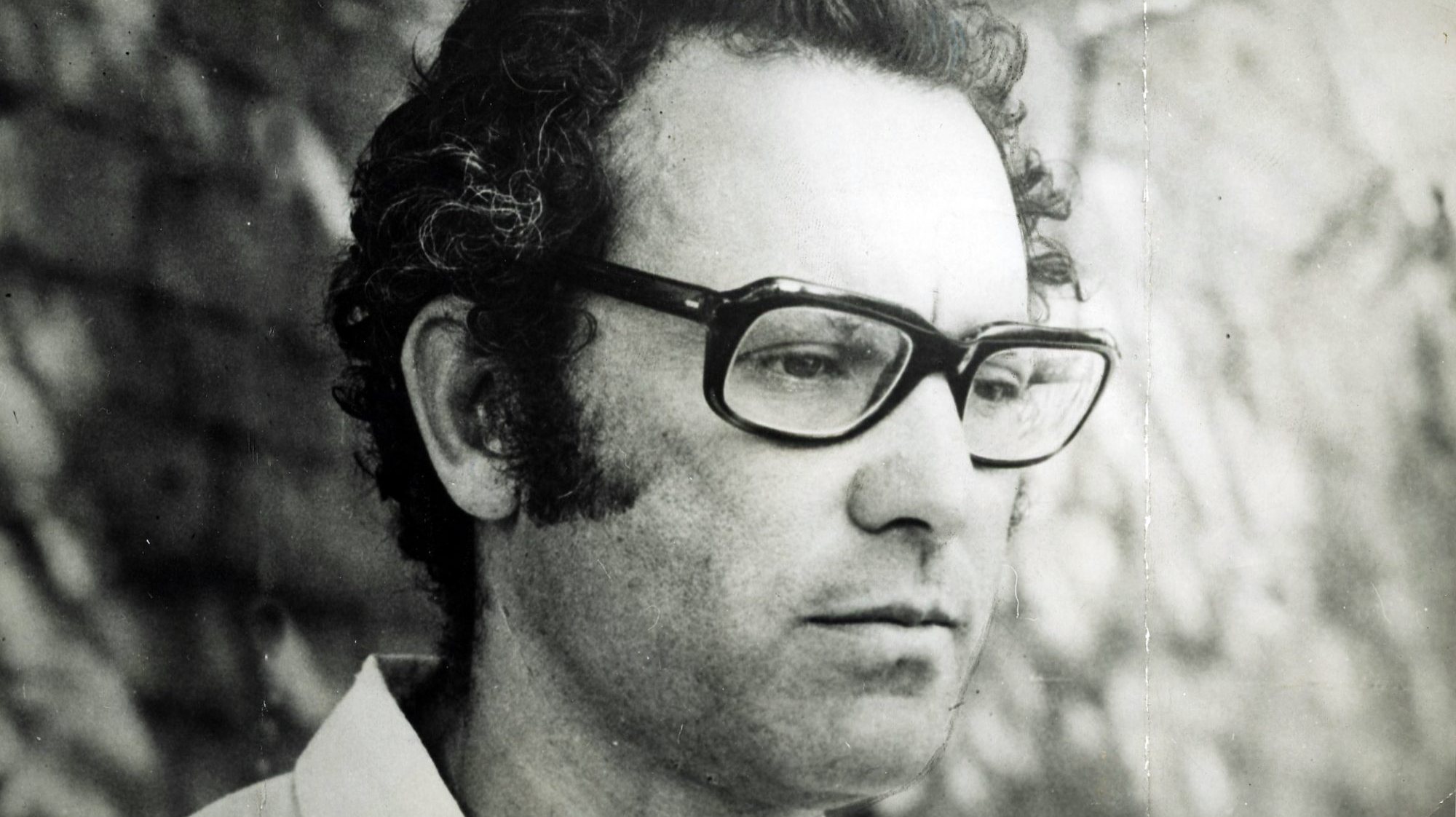Talvez nem Billie Holiday imaginasse, quando cantou “Strange Fruit” em 1939 — utilizando a metáfora para falar dos corpos negros linchados e enforcados no sul dos EUA —, que 81 anos depois o tema do racismo continuaria a motivar protestos e apelos de maior igualdade de tratamento, no seu país e em muitos países. Ou talvez não se surpreendesse e até visse o copo meio cheio, ao notar os passos dados ao longo das décadas seguintes em todo o mundo e especificamente na América.
O tema da igualdade racial e do combate ao racismo tornou-se discussão em todo o lado, depois do homicídio de George Floyd nos EUA ter sido captado pelas câmaras e denunciado e difundido pela internet. Por isso, mas também porque é tema que não perde validade, revisitamos aqui a forma como o racismo foi abordado, denunciado e visado em muitas canções ao longo da história — na América, sobretudo, mas em vários pontos do mundo, em estilos como a pop, o jazz, o rock e o hip-hop.
Charley Patton – I Shall Not Be Moved
Versões do tema há muitas: de Blind Roosevelt Graves, editada no mesmo ano de 1929, e, já muitos anos depois, de 1950 e ao longo das décadas seguintes, dos Almanac Singers de Pete Seeger, da rapaziada que se juntou para a jam session conhecida como Millon Dollar Quartet (estavam lá Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Carl Perkins), dos Freedom Singers, de Ella Fitzgerald, de Mavis Staples ou dos Public Enemy.
A canção ganharia anos mais tarde contornos de hino do movimento pelos direitos civis. Porém, este ‘spiritual’ negro — um tipo de canções que vão passando por tradição oral, mas que na génese foram criadas no ambiente do esclavagismo negro, muitas vezes cantadas e popularizadas por escravos — ganha particular força quando cantada com esta produção roufenha (afinal ainda nem nos anos 1930 estávamos), pela voz do bluesman Charley Patton.
Billie Holiday – Strange Fruit
Escrita pelo compositor e escritor Abel Meeropol, “Strange Fruit”, cantada por Billie Holiday em 1939, para muitos abriu caminho ao movimento pelos direitos civis e pela igualdade racial, que ganharia força já nos anos 50 e 60. Poucas canções têm o impacto que esta tem, com a voz única de Billie a denunciar os linchamentos de americanos negros nos Estados Unidos da América, comparando os corpos enforcados das vítimas aos frutos das árvores. Era difícil ser mais clara naqueles tempos:
“Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees”
Sister Rosetta Tharpe – Take My Hand Precious Lord
Velha melodia do século XIX, esta canção gospel foi evoluindo por tradição oral, sendo ainda hoje um standard da música negra. As Heavenly Gospel Singers cantaram-na em 1937, as Selah Jubilee Singers em 1938, os magníficos The Soul Stirrers em 1939 — e uns anos mais tarde, gente como Mahalia Jackson (que a cantou em muitos eventos e marchas do movimento pelos direitos civis), Aretha Franklin e Al Green também a cantariam exemplarmente.
Era a canção favorita de Martin Luther King (cuja fé era, dizia ele, indissociável do seu posicionamento social e político), tanto que, a pedido de este, foi cantada no seu funeral, por Mahalia Jackson. E no entanto, a versão de Sister Rosetta Tharpe, “madrinha do rock” injustamente esquecida, merece muito mais fama do que a que tem. Na guitarra tem o talento todo, mas são as dores e injustiças de quem sofreu e ainda procura esperança no futuro, neste mundo ou noutro qualquer — as dores de quem, convém lembrar, tinha de dormir em autocarros porque os hotéis eram para brancos e que na hora das refeições tinha de apanhar a comida nas traseiras dos restaurantes, impedida de entrar — que aqui se destacam.
I’m tired, I am weary, I’m worn
Through the storm, through the night
Lead me on to the light
Duke Ellington – Black, Brown and Beige
Vários anos antes, a 2 de maio de 1921 (!), a sala de concertos Carnegie Hall, em Nova Iorque, tinha recebido um concerto que ficara na história: o então chamado “Concert of Negro Music”, que não precisava de ser explicitamente antirracista para ser um desafio à ordem de segregação instalada no início do século XX. Mais de 20 anos depois, em 1943, Duke Ellington apresentou-se na mesma sala com a longa peça jazz “Black, Brown and Beige”, criada propositadamente para aquele concerto e que se propunha a apresentar uma história paralela da música negra e da narrativa histórica em torno da população negra em África e nos EUA. Mais tarde, em 1958, gravou em estúdio versões dos temas que levara ao Carnegie Hall 15 anos antes.
The Weavers – Follow The Drinking Gourd
A história da cantiga é interessante: diz-nos a internet que menciona uma espécie de ponto referencial nos céus que os escravos seguiam para não se perderem. Verdade ou não, a teoria era esta: a canção seria usada, reza a lenda, por um condutor (Peg Leg Joe) de uma rede de rotas clandestinas como referência para ajudar escravos em fuga. Algures entre o final dos anos 40 e o início dos anos 50, os The Weavers de Pete Seeger cantariam este tema antigo da história da música negra, descoberto nos anos 1930 pelos grandes investigadores da tradição oral e folk John A. e Alan Lomax. Na letra deste tema — há variantes consoante os intérpretes — fala-se de um velho que está à espera para “levar-vos para a liberdade”. Outra versão imperdível: a adaptação jazz que John Coltrane faz do tema, passando a chamar-lhe “Song of the Underground Railroad”.
Mahalia Jackson – He’s Got The Whole World In His Hands
Se escolhemos a versão de “Take My Hand Precious Lord” de Sister Rosetta Tharpe e não de Mahalia Jackson, não podíamos deixar passar a oportunidade de destacar uma cantora importante do movimento dos direitos civis, que cantou no funeral de Luther King, que contribuiu financeiramente para a causa, que cantou em Montgomery no protesto contra autocarros segregados. Este “spiritual” afroamericano, capaz de fazer da alegria o motor de uma inssurreição, atira as tristezas ao tapete e comemora uma coisa simples: há de haver qualquer coisa melhor e maior do que “isto”.
Odetta – Spiritual Trilogy: Oh Freedom – Come and Go With Me – I’m On My Way
Martin Luther King Jr. chamou-lhe “a rainha da música folk americana”. Em 1957, seis anos antes de participar na marcha pelos direitos civis, “pelos empregos e pela liberdade” em Washington que juntou 250 mil pessoas, Odetta já cantava “Oh Freedom”. Um tema que Harry Belafonte, figura central do movimento pelo fim da segregação racial nos EUA e alguém que admirava especialmente Odetta (com quem cantou), tão bem cantou também. É uma trilogia de “spirituals”, melodias passadas de boca em boca e difundidas desde cedo entre escravos: “Oh Freedom”, canção negra libertária com origem no século XIX que Joan Baez cantaria nessa já mencionada marcha de Washington; “Come And Go With Me” e a espantosa “I’m On My Way”. Quanto a esta última, a letra aqui cantada é historicamente muito elucidativa:
“I’m on my way
Gonna ask my brother: won’t you come with me?
(…)
Gonna ask my captain, won’t you let me go?
Ask my captain, won’t you let me go?
(…)
If he says no no no no, I’m gonna go anyhow”
Mahalia Jackson e Nat King Cole – Steal Away
Outro “spiritual” negro, também belissimamente cantado por Harry Belafonte, é aqui recordado na versão duo de Mahalia Jackson e Nat King Cole, duas figuras muito importantes da música negra americana (e americana, ponto) do século XX. Diz-nos a internet, essa muito útil ferramenta, que esta “Steal Away” — também conhecida como “Steal Away to Jesus” — é mais uma canção, a par de “Swing Low, Sweet Chariot” e “Wade In The Water”, com mensagem escondida com religião de fora: à primeira vista parece ser só canto religioso, declaração de fé em Deus com tom gospel (e o gospel era a banda sonora negra por excelência, na medida em que até dada altura era nas igrejas que cantores e músicos negros se sentiam seguros), mas tem também mensagens escondidas a apelar à fuga e libertação de escravos. Mais impressionante ainda é ouvi-la cantada por estas duas tremendas vozes, que quase convencerão ateus e agnósticos que foi mesmo Deus que muitos anos antes clamara pela libertação de escravos e pela fuga aos seus ‘donos’:
“Steal Away
Steal Away
Steal Away
To Jesus
Steal Away
Steal Away home
I ain’t got long to stay here”
Louis Armstrong – Go Down Moses
Quem popularizou este tema foi uma outra grande figura da música americana e da música negra, chamado Paul Robeson, que também cantara muito antes com a sua voz grave a já citada “Steal Away” — e que além da notoriedade na música teve notoriedade pelo ativismo político e defesa dos direitos civis (mas que acabou investigado pelo esquerdismo nos conturbados tempos do senador McCarthy). Também o importante músico jazz Archie Shepp tem uma bela versão do tema, mas era imperdível a oportunidade de trazer aqui a voz de Louis Armstrong, a cantar este tema bíblico sobre a libertação das tribos israelitas da escravidão no antigo Egipto, que na América era algo simbolicamente transposto, obviamente, para a libertação do povo negro escravizado do povo branco opressor.
“Go down Moses
Way down in Egypt land
Tell all pharaoes to
Let my people go!
When Israel was in Egypt land
Let my people go!
Oppressed so hard they could not stand
Let my people go!”
Harry Belafonte – Oh Freedom
Talvez seja a mais poderosa e mais bonita canção libertária contra a opressão dos negros na América e a escravidão dos negros na América. Em 1959, o hoje veterano Harry Belafonte (ainda vivo, com 93 anos), figura central da música americana mas também um dos líderes artísticos do movimento pelos direitos civis — é justo reconhecer que não foi apenas um dos que o financiou, foi também um dos mais deu a cara por ele e um dos que mais esteve presente no núcleo organizativo das ações de protesto —, lançou um disco chamado My Lord What a Mornin. No disco, cantava standards e versões de spirituals, de “My Lord, What a Mornin'” a “Were You There When They Crucified My Lord?”, de “Swing Low” a “Steal Away”. E cantava esta “Oh Freedom” como talvez mais ninguém a tenha cantado, garantindo que preferia estar morto e enterrado a ser um escravo, comandado por vontades alheia. Do mesmo disco vale a pena ouvir a versão, incluída como faixa bónus na reedição de 1995, de “Michael Row the Boat Ashore”, canção do século XIX cantada por antigos escravos.
“Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me
And before I’d be a slave I’ll be buried in a my grave
And go home to my Lord and be free”
Sam Cooke – Swing Low, Sweet Chariot
Já por aqui falou de “Swing Low, Sweet Chariot”, mas ainda não se falara de Sam Cooke — e quando uma coisa se junta à outra, é receita ganha. Alegadamente referenciando o movimento de libertação e as rotas de fuga que ajudavam os escravos negros do Sul dos EUA a fugirem para territórios mais a norte e para o Canadá, o Underground Railroad, que para português traduzir-se-ia para algo como “caminhos de ferro subterrâneos”, foi gravada ao longo do século XX por muita gente, de Bing Crosby a Louis Armstrong, Paul Robeson, Peggy Lee e Eric Clapton. Mas vale a pena ouvir a versão do grande senhor da música negra, Sam Cooke, incluída no seu álbum Swing Low, de 1961.
Mahalia Jackson – How I Got Over
É mais uma canção eternizada por Mahalia Jackson e mais uma que viria a ser cantada em 1963, na marcha pelos direitos civis em Washington. Mas a razão pela qual aqui é trazida é outra: o que originou a composição deste tema gospel, escrito por Clara Ward, das The Famous Ward Singers. O título significa algo como “Como Eu Escapei” e segundo Willa, irmã de Clara, terá sido escrito depois de um episódio vivido pelas duas, pela mãe Gertrude e por outros elementos do clã Ward, quando viajavam em digressão pelos estados sulistas dos EUA no início de 1950. A caminho de Atlanta, no estado da Geórgia, as Ward terão sido abordadas por um grupo de brancos enraivecidos, furiosos por um grupo de mulheres negras viajarem num vistoso Cadillac — naturalmente um luxo que pela cor da pele não lhes deveria estar acessível. Como tal, foram visadas com alguns insultos raciais, até Gertrude Ward fingir estar possuída por demónios e afugentar os assustados mauzões. Vai daí, resultou a escrita deste agradecimento ao Senhor.
Charles Mingus – Fable of Faubus
Em 1959, Charles Mingus estava furibundo. Dois anos antes, o governador do Arkansas, Orval Faubus, decidiu que a melhor resposta para combater a integração racial e convivência sã entre rapazes e raparigas de cores diferentes num liceu (a escola secundária Little Rock Center) era enviar a Guarda Nacional ao local. O contrabaixista do jazz não esteve pelos ajustes e escreveu um tema de protesto, “Fable of Faubus”. A editora, a Columbia Records, não fica bem na fotografia — dado o teor antiracista explícito das letras, recusou a versão com palavras e no álbum Mingus Ah Um o que se ouve é uma versão apenas instrumental. Mas em outubro do ano seguinte, a canção foi gravada já com letra para o disco Charles Mingus Presents Charles Mingus, lançado pela discográfica mais pequena (e livre) Candid. Porque o músico tinha contrato com a Columbia, o título foi mudado para “Original Faubus Fables”, a recordar o mundo inteiro que aquela é que era a versão idealizada. A letra diz tudo e reforçava a ideia de um jazz interventivo, que se ouvira por exemplo no ano anterior em Freedom Suite de Sonny Rollins:
Oh, Lord, don’t let ’em shoot us!
Oh, Lord, don’t let ’em stab us!
Oh, Lord, no more swastikas!
Oh, Lord, no more Ku Klux Klan!
Name me someone who’s ridiculous, Dannie.
Governor Faubus!
Why is he so sick and ridiculous?
He won’t permit integrated schools.
Then he’s a fool! Boo! Nazi Fascist supremists!
Boo! Ku Klux Klan (with your Jim Crow plan)
The Freedom Singers – This Little Light of Mine
Canção gospel cuja origem é difícil de precisar (há quem aponte para os anos 20, há quem garante que foi escrita antes, no século XIX), repescada e muito cantada mais tarde durante os anos mais quentes do movimento pelos direitos civis, teve várias versões: foi cantada por Ray Charles (que a alterou para “This Little Girl of Mine”) e pelos Everly Brothers, por exemplo. Mas foi também cantada pelos decisivos e muitas vezes esquecidos The Freedom Singers, originalmente um quarteto nascido no início dos anos 60 que assumia tanto o seu papel de intervenção política pela música — na senda do que antes fizera também, por exemplo, Pete Seeger com os seus grupos — que chegou a ser chamado de “jornal cantado”. Pegando em velhos “spirituals” mas recriando-os, alterando-os, dando-lhes letras novas e sintonizadas com os acontecimentos recentes na América, cativaram muitos ouvintes. Também ajudava as vozes serem portentosas.
À estação pública NPR, a fundadora e cantora do grupo, Rutha Mae Harris chegou a recordar a canção como um tema que, durante os anos 60, dava força a manifestantes do movimento dos direitos civis para resistir aos abusos e às ameaças de violência da polícia. “A música era uma âncora. Evitava que sentíssemos medo. Começávamos a cantar uma canção e, de alguma forma, aqueles cassetetes não te batiam. Teve um papel muito importante no movimento”. O mais surpreendente: ainda recentemente a canção foi entoada como resposta a um protesto de supremacistas brancos em Charlotesville. Vale a pena ver o vídeo desse momento, para perceber a força arrepiante da canção. Como cantavam os The Smiths, há uma luz que nunca se extingue.
We Shall Overcome
É uma espécie de canção charneira, não só do movimento dos direitos civis mas que serve como banda sonora aplicável a todos os momentos de convulsão da América. Tanto assim é que ainda hoje é um hino, ainda este ano mereceu uma nova — e belíssima versão — do guitarrista e compositor de jazz Bill Frisell. Originalmente um velhinho tema gospel, aproximou-se da versão que viria a ficar mais conhecida quando foi cantado em 1945, durante uma greve de trabalhadores em Charleston, na Carolina do Sul. Tanto serviu como um foco de esperança em tempos sombrios que Martin Luther King Jr. citou-a no seu último sermão, antes de ser assassinado. Já foi cantada por toda a gente, de Pete Seeger (o grande difusor do tema) e Joan Baez a Bruce Springsteen e Roger Waters. Vale a pena ver o impacto que teve quando cantada em 1963, na grande marcha de Washington:
John Coltrane – Alabama
Poucos crimes raciais tiveram tanto impacto na história da América quanto o atentado bombista de 15 de setembro de 1963. Não foi tanto o número de vítimas, foi o local escolhido e o grau extremo de irracionalidade que conseguiu chocar um país infelizmente já acostumado a linchamentos e mortes por ódio racial. Naquele dia, uma igreja batista frequentada por negros em Birmingham, Alabama, foi alvo de um bombardeamento orquestrado por quatro membros do Ku Klux Klan. Entre 14 a 22 pessoas ficaram feridas (os relatos e o grau de ferimentos divergem) e morreram quatro raparigas, três de 14 anos e uma de 11 anos. Foram precisos anos para que do crime resultassem condenações e foi um momento que chocou e acordou muitos, mas que também fez muitos ativistas negros duvidarem dos méritos da resistência pacífica defendida por Martin Luther King Jr. Acossado pelo bombardeamento, o saxofonista John Coltrane completou nos dois meses seguintes a gravação do disco Live At Birland e incluiu uma composição a que chamou “Alabama”, precisamente como resposta ao crime racial. O resultado foi este, com a tensão e o tom elegíaco muito notórios:
Pete Seeger – If You Miss Me At the Back of the Bus
Escrita por Charles Neblett, dos já citados The Freedom Singers, “If You Miss Me At the Back of the Bus” foi cantada por Pete Seeger e gravada para o seu álbum We Shall Overcome, editado em 1963. A canção surge como resposta às tentativas em curso à época de abolir a segregação ainda decretada numa piscina pública na cidade de Cairo, Illinois. Os negros não podiam nadar ali, mas a morte por afogamento de um jovem americano num rio próximo — impedido que estava de nadar na piscina pública da cidade devido à cor da pele — motivou os protestos. A canção, contudo, parte daí para se posicionar como um desafio a toda a segregação racial: nos autocarros, nos estabelecimentos de ensino, nas urnas de votos. O melhor mesmo é ouvir.
Sam Cooke – A Change is Gonna Come
“Uma mudança vai chegar”, preconizava (acreditava?) Sam Cooke em 1964. Gravada poucos dias depois de o cantor fazer 33 anos, “A Cange Is Gonna Come” era uma forma de Sam Cooke rever a segregação racial a que assistira e que sentira na pele durante a sua vida: por exemplo, nunca se esqueceu do dia em que foi expulso com a sua comitiva de um hotel só para brancos em Louisiana, em plenos anos 60, aliás no ano anterior (1963), já era então um cantor com carreira sólida… Consta que também acossado por ouvir brancos cantarem sobre injustiças e desigualdades e denunciarem-nas de forma tão incisiva quanto o andavam a fazer Bob Dylan e outros folkies, Sam Cooke dedicou-se à escrita de uma canção que ainda hoje entra na galeria de clássicos, aqueles temas cujo refrão e cuja melodia resistiram ao tempo e ficaram na memória coletiva.
“And I go to the movies, and I go downtown
Somebody keep telling me, don’t hang around
It’s been a long, a long time coming
But I know a change’s gonna come, oh, yes, it will”
Nina Simone – Mississippi Goddam
Toda a gente sabe o que se passa no Mississippi, porra. Quem o cantava era Nina Simone, com uma fúria inesperada e que naquele ano de 1964 soava a profundamente nova: mesmo na música negra mais interventiva, os cuidados com a linguagem ainda eram bastantes e os receios de cantores consolidados em hostilizar parte do seu possível público branco eram nítidos. Nina Simone viria a chamar-lhe a sua “primeira canção de direitos civis” e não poupou nas palavras quando a escreveu.
No ano anterior tinha acontecimento o bombardeamento da igreja protestante em Alabama, mas também o homicídio de Medgar Evers, ativista negro pelos direitos civis, antigo veterano que combatera na Segunda Guerra Mundial ao serviço dos EUA, figura proeminente da importante organização de direitos civis da época NAACP. O homicídio fora cometido por Byron De La Beckwith, membro de um “Conselho de Cidadãos Brancos” de Jackson, no Mississippi, que não tinha grande simpatia pela ideia de negros e brancos frequentarem os mesmos locais e, já agora, as mesmas escolas.
O ambiente estava a ferro e fogo e Nina Simone iniciaria neste ano de 1964 uma fase incendiária, artisticamente muito interventiva do ponto de vista social mas também de grande fulgor criativo. A canção fala de Alabama, do Mississippi, alude à morte de Evers e ao bombardeamento da igreja de Birmingham, mas impressiona sobretudo pela raiva transbordada, como uma máquina centrifugadora de angústias, com a cantora a disparar para todo o lado e num vórtice de pancadas desferidas a velocidade estonteante. Nina Simone acumulara até despejar aqui tudo, até cantar que “este país está todo ele cheio de mentiras / vocês vão todos morrer e vão morrer como moscas”. Não se canta isto levianamente.
“Don’t tell me
I tell you
Me and my people just about due
I’ve been there so I know
They keep on saying ‘Go slow!’
But that’s just the trouble
‘Do it slow’
Washing the windows
‘Do it slow’
Picking the cotton
‘Do it slow’
You’re just plain rotten
‘Do it slow’
You’re too damn lazy
‘Do it slow’
The thinking’s crazy
‘Do it slow’
Where am I going
What am I doing”
Sam Cooke – If I Had a Hammer
Foi definitivamente o ano em que Sam Cooke começou a escrever canções socialmente mais interventivas, ou com alusões mais claras às injustiças sociais da América em que vivia. No mesmo 1964 em que revelou ao mundo “A Change Is Gonna Come”, o cantor que nasceu no Mississippi mas cresceu em Chicago lançou um álbum ao vivo gravado na discoteca Copacanaba, em Nova Iorque, chamado Sam Cooke at the Copa. Do alinhamento das canções faziam parte a sua gingona “Twistin’ the Night Away”, versões (entre outras) de “Blowin’ in the Wind”, de Bob Dylan — canção de que era um grande fã — e “This Little Light of Mine” mas também de “If I Had a Hammer”.
Sam Cooke cantar este tema era por si só simbólico: a canção fora escrita por Pete Seeger e Lee Hays como tema de apoio ao Partido Progressista norte-americano, filiação partidária situada na ponta esquerda do sistema político dos EUA que tinha por esses dias reivindicações como o fim da segregação racial, a instauração de um sistema nacional de saúde, o reforço do Estado social, a nacionalização da indústria energética e as tréguas com a União Soviética em plena Guerra Fria. É um tema que fala de um “martelo de Justiça”, de um “sino da liberdade” e de “amor entre os meus irmãos e irmãs por toda esta terra”, cantada pela primeira vez pelos The Weavers de Seeger e Hays, popularizada pelos Peter, Paul & Mary mas entoada também por Martha and The Vandellas e até Johnny Cash. Vale a pena ouvi-la na versão de Sam Cooke, até para captar o brilhantismo de um grande cantor cada vez mais atento ao andamento do mundo.
Carlton Reese e Cleo Kennedy – Yes We Want Our Freedom
É um tema simples, curto, incluído na importante compilação Sing For Freedom: The Story of the Civil Rights Movement Through Its Songs, editada em 1990 e que se propunha a “capturar o espírito irresistível” de uma era, a do movimento dos direitos civis, revelando “uma cultura afroamericana determinada e triunfante através de “hinos, discursos, spirituals, canções gospel e orações… uma coletânea comovente da época dos direitos civis que remonta a gravações exteriores [de rua, fora dos grandes estúdios] dos anos 60 nos estados do Alabama, Georgia, Mississippi e Tennessee”. Interpretado pela cantora e ativista Cleo Kennedy e por Carlton Reese (da formação Carlton Reese Freedom Choir), tem uma letra muito clara:
“Yes, we want our freedom
Yes, we want our freedom
We want out freedom
and we want it now
We want out freedom
and we want it now”
Freedom Singers – Woke Up This Morning
Foi adaptado da velha canção gospel, de teor mais religioso do que socio-político, “I woke up this morning with my mind stayed on Jesus”. Só que a década era os 60’s, o movimento promotor da igualdade de tratamento independentemente da cor da pele estava efervescente e era preciso banda sonora adequada. Consta que este e muitos outros temas foram aprendidos, nuns casos modificados, noutros até inventados de raiz durante os muitos dias do verão de 1961 passados por um conjunto de mais de 200 ativistas dos Freedom Riders na prisão do condado de Hinds, no Mississippi. O grupo viajava para estados sulistas em autocarros com brancos e negros no interior, para contestar a forma como nestes territórios as autoridades se recusavam a aplicar a decisão de proibição de segregação racial decretada pelo Supremo Tribunal norte-americano, já esperando serem detidos.
Puxando seus galões de grupo musical “pedagógico”, os The Freedom Singers gravaram uma versão do tema, ainda nos anos 60. Mais recentemente John Legend fez o mesmo, para a banda sonora do filme documental “Soundtrack for a Revolution” (de 2009), que lembrava o papel da música na dinâmica e crescimento do movimento dos direitos civis nos EUA.
Bob Dylan – The Lonesome Death of Hattie Carroll
Se 1964 foi o ano em que Sam Cooke lançou “A Change Is Gonna Come”, foi também o ano em que Bob Dylan revelou uma portentosa canção sobre o assassinato de uma empregada negra de um bar, Hattie Carroll, de 51 anos, morta no ano anterior por um homem branco de 24 anos chamado William Devereux “Billy” Zantzinger, descendente de uma família de muitas posses com negócios na indústria do tabaco. Zantzinger, que segundo os relatos da época estava agastado por o que considerava ser uma demora da barmaid em servir-lhe a bebida que pedira, agrediu Carroll depois de a insultar gritando-lhe “preta” e “sua preta filha da mãe”. Hattie Carroll acabou por morrer horas depois, com uma hemorrogia cerebral, e o autor da agressão que a matou foi condenado a seis meses de prisão.
Acossado, Dylan, que já fizera antes a interventiva “Only a Pawn In Their Game”, acabou a gravar esta canção, na qual descreve a vítima como uma mulher de 51 anos que deu à luz dez crianças (segundo relatos da época, teria na verdade nove filhos), que “levava os pratos e levava o lixo / e nunca se sentava no topo da mesa / que só limpava toda a comida da mesa”, que foi “morta por um golpe” sem “nunca ter feito nada a William Zanzinger”, que por sua vez “matou sem motivo algum” e que, julgado por um juiz que iria “mostrar que todos são iguais” e que “até os nobres têm o tratamento devido”, foi condenado “com uma pena de seis meses”.
Luís Cília – O Menino Negro Não Entrou na Roda (1964)
A existência desta canção chegou-me através de um belíssimo programa da Antena 1, de António Luís Marinho, intitulado “Canções da Guerra”. É um tema gravado pelo cantor e músico de intervenção Luís Cília em 1964, vivia então em Paris (fugido ao Portugal salazarista do Estado Novo). Aproveitando um poema do escritor angolano Geraldo Bessa Víctor, denunciava o racismo com a sua música:
O menino negro não entrou na roda
das crianças brancas
(…)
‘Venha cá, pretinho, venha cá brincar’
— disse um dos meninos com seu ar feliz.
A mamã, zelosa, logo fez reparo;
o menino branco já não quis, não quis…
E o menino negro não entrou na roda”
Phil Ochs – Here’s to the State of Mississippi
Outra canção da época do movimento pelos direitos civis e pelo fim da segregação racial, que serve também para falar do seu autor, é “Here’s to the State of Mississippi”, do cantor norte-americano branco daquela época Phil Ochs, conhecido pela intervenção política e social e por ter usado a música para se opor à guerra do Vietname e às injustiças humanas que via no seu país. Vale a pena referir esta missiva crítica ao estado racista do Mississippi. O rol de denúncias é longo e os alvos são muito: a população do Mississippi “que diz que os tipos do norte simplesmente não compreendem”, as escolas do Mississippi onde se ensina as crianças “que não têm de se preocupar”, os “polícias do Mississippi” — alguns crachás escondem assassinos, diz mesmo Ochs —, os “juízes do Mississippi” (“quando um homem negro é acusado o julgamento é sempre curto”), o governo do Mississippi, as leis do Mississippi, as igrejas do Mississippi… em suma, “Mississippi encontra outro país para fazeres parte”.
Freedom Singers – Governor Wallace
Cantada pelos já mencionados The Freedom Singers, aqui liderados por Chuck Neblett, esta “Governor Wallace” começa assim: “Ainda no outro dia / li no jornal / que os Freedom Fighters / estão a caminho / estão a ir de autocarro…”. E mais à frente um aviso: “Governador Wallace / a segregação está destinada a cair”. A mensagem era para George Corley Wallace Jr., governador democrata e populista do Alabama que era um defensor acérrimo da segregação entre brancos e negros, que na altura cumpria o primeiro mandato (exerceu-o entre 1963 e 1967) mas que voltaria a ocupar o cargo futuramente entre 1971 e 1975 e entre 1983 e 1987 — e que ainda tentou ser candidato presidencial.
Quando tomou posse em 1963, apresentou logo uma declaração de intenções clara: defendia, dizia ele, “a segregação hoje, a segregação amanhã, a segregação para sempre”. Acabou derrotado pelo tempo, mas Wallace, que Martin Luther King Jr. descreveria dois anos depois como sendo “talvez o mais perigoso racista na América de hoje”, ter estado no poder no estado do Alabama até ao final dos anos 1980 mostra como o racismo na América não é um problema arrumado no baú do passado longínquo. Vale a pena voltar à canção não apenas pela letra, mas pela pinta vocal de Chuck Neblett e pelo coro que aqui o apoiou.
B. B. King – Why I Sing the Blues
Ele é o rei dos blues e, em tempos, explicou porque os cantava. Na explicação, refletia sobre a sua vida e a sua história. “When I first got the blues / They brought me over on a ship / Men were standing over me / And a lot more with a whip”, canta a dada altura B. B. King, evocando a escravidão. Também havia de falar sobre os tempos em que morou “num apartamento no ghetto”, sobre o filho estar destinado a crescer “para ser um tolo” porque “já não têm lugar para ele na escola”, sobre a “empresa” ter-lhe dito “acho que estás destinado a perder”, sobre apanhar um autocarro na zona residencial da cidade, onde mora quem não pode viver no centro, e “todas as pessoas têm os problemas que eu tenho”. Este ano, o trompetista Ambrose Akinmusire fez um disco que partiu de uma pergunta: o que são os blues hoje em dia? Entre outras coisas, são a resiliência de lutar e de procurar respeito, mesmo sabendo que se está destinado a não ganhar, concluiu. Ou como cantava B. B. King: “You know I’m singing the blues / Yes, I really / I just have to sing my blues”.
The Impressions – People Get Ready
A canção não é especialmente explícita sobre o racismo, mas o tema tornou-se um hino daqueles tempos, uma espécie de “Grândola Vila Morena” para os que o ouviram e sentiram ali sinalizar-se um futuro diferente: People Get Ready, preparem-se gente, cantavam os The Impressions de Curtis Mayfield (ainda antes de iniciar uma carreira a solo) em 1965. Inspirado pelo gospel, cada vez mais atento às mudanças e aos ares dos tempos nos anos 60, Mayfield usava a metáfora do comboio e do movimento para antecipar as (necessárias) mudanças sociais por vir. Mais tarde, seria ainda mais explícito.
The Staple Singers – Wade in The Water
O tema já foi mencionado, como uma daquelas canções-senhas associadas à transmissão de boca em boca desde os tempos do Underground Railroad, as rotas dos caminhos de ferro subterrâneos pelas quais se escapavam e libertavam os escravos negros. Vários cantaram este velho spiritual, esta antiga melodia negra sobre os escravos que fugiam do antigo Egipto, que alguns dizem conter pistas sobre como os escravos negros americanos de determinada época podiam escapar aos seus senhores. Mas ninguém o cantou como os Staple Singers, o grupo de soul e gospel formado pelo clã Staples, que incluía o patriarca Roebuck “Pops”, o filho Pervis (depois substituído pela irmã Yvonne) e as filhas Cleotha e Mavis Staples. Acabou gravado e incluído no disco de 1965, Freedom Highway, tornando-se uma canção importante da era do movimento dos direitos civis nos EUA.
Hollis Watkins – I’m Gonna Sit at the Welcome Table
Talvez seja um abuso citar mais uma canção da já mencionada compilação Sing For Freedom: The Story of the Civil Rights Movement Through Its Songs, que recordava canções obscuras de protesto associadas ao movimento pelos direitos civis e contra a segregação racial. No entanto, esta justifica mesmo a menção: é um bálsamo ouvir a alegria de Holliw Watkins e o coro e as palmas que o acompanham cantando-nos que “um dia destes” será possível “sentar-se à mesa de boas vindas”, que também um dia destes será possível “ser um eleitor registado”. É uma bela adaptação de uma velha canção negra de um autor anónimo, acredita-se que um escravo negro.
Nina Simone – Backlash Blues
Se em 1964 Nina Simone começara a salgar a ferida do racismo sem poupar no tempero, com “Mississippi Goddam”, nos anos seguintes continuaria a denunciar e visar o racismo sem meias palavras. Em 1966, incluía “Four Women” no álbum Wild Is The Wind, uma canção onde usava quatro arquétipos de mulheres negras para nos contar os seus sofrimentos: a escrava que tivera de aguentar as dores e agruras, a filha de mãe negra e pai branco e rico que vivia entre dois mundos (“my father was rich and white / he forced my mother late one night”, cantava mesmo), a negra que tinha de se prostituir para subsistir e a descendente de escravos que vivia com os traumas do passado.
Já uma figura proeminente da música do movimento dos direitos civis, já irascível — nos dias de maior fúria, duvidava da resistência pacífica —, ainda sem que a bipolaridade e os abusos que sofrera do marido se repercutissem na instabilidade mental total em que viveria mais tarde, Nina Simone revelaria no ano seguinte de 1967 “Backlash Blues”. Às gentes do poder, que remetiam os negros a “casas de segunda categoria” e “escolas de segunda categoria”, fazia uma pergunta cortante: perguntava-lhes se achavam que “todos os tipos de cor / são tipos de segunda categoria”. E a canção rematava com uma daquelas tiradas que pode ser entendida como aviso ou como ameaça:
You’re the one will have the blues
Not me, just wait and see
James Brown — Say It Loud – I’m Black and I’m Proud
Foi um grito que mudou a ordem das coisas: James Brown a proferir a plenos pulmões “digam bem alto: sou negro e tenho orgulho disso”. A canção, escrita pelo seu companheiro de banda Alfred “Pee Wee” Ellis e lançada pelo rei do funk em 1968, tinha tudo para ser um êxito: o groove marcado pelo ritmo da bateria, o trombone de Fred Wesley, a pinta imensa de um homem capaz de fazer mexer até as mais inamovíveis ancas. E, é claro, as palavras de agregação comunitária: “we’ve been treated bad”, “we can’t quit until we get our share”, “now we demand a chance to do things for ourselves”, “we rather die on our feet than keep livin’ on our knees”.
Sly and the Family Stone – Everyday People
Uma ode ao tipo comum, à pessoa que se vê mais vezes todos os dias, “Everyday People”, editada pelo grupo Sly and the Family Stone (de Sly Stone) em 1968, era também uma crítica à desigualdade e à incapacidade em lidar com a diferença — que é no fundo a incapacidade do branco em lidar com o negro, do rico em lidar com o pobre e por aí fora…
“I am no better and neither are you
We are the same whatever we do
(…)
There is a yellow one that won’t accept the black one
That won’t accept the red one that won’t accept the white one
And different strokes for different folks
And so on and so on and scooby dooby doo”
The Beatles – Blackbird
A letra é razoavelmente críptica: a um pássaro negro que canta no silêncio da noite, esta rapaziada britânica recomenda que pegue nas asas quebradas e magoadas e que voe, até porque só estava à espera “deste momento” para se erguer e para “ser livre”. O pássaro negro de facto existiu — Paul McCartney ouviu-o cantar na Índia — mas na convulsão do final dos anos 1960, e do final dos anos 1960 nos EUA onde o racismo tinha chocado os The Beatles, a canção não era inocente. O próprio Paul McCartney já o confirmou e se um Beatle diz que também escreveu a canção a pensar nas tensões americanas e na ânsia dos povos negros do sul dos EUA em libertar-se da opressão, quem somos nós para negar?
Nina Simone – Why? (The King of Love is Dead) (1968)
É uma homenagem demasiado comovente — e uma resposta demasiado bonita a um crime hediondo, o assassinato de Martin Luther King Jr. a 4 de abril de 1968. Apenas três dias depois, Nina Simone, que o conhecia muito bem e que o admirava profundamente (momentos irascíveis à parte), tinha um concerto no Festival de Música de Westbury, em Long Island, Nova Iorque. A homenagem, que seria gravada e depois incluída no álbum ‘Nuff Said, editado ainda esse ano, foi rapidamente pensada: na véspera, Gene Taylor, o contrabaixista e grande parceiro musical de Nina Simone, escreveu a canção, Simone aprendeu-a rapidamente e cantou-a logo no concerto.
No álbum, Nina fez questão de incluir também as primeiras notas tocadas ao piano e a forma como apresentou ao público o tema, a que chamou “Why? (The King of Love Is Dead)”. Podemos por isso ouvi-la dizer que queria tocar com a sua banda um tema “escrito para hoje, para esta hora, para o dr. Martin Luther King”. Todo o concerto, notava antes de cantar, era dedicado à sua memória — mas o tema em causa era especificamente sobre ele, para ele, escrito em sua homenagem. “Tivemos o dia de ontem para o aprender… vamos ver”, ouvimo-la ainda dizer.
O que se segue é simplesmente mágico: o piano magistralmente tocado, com uma contenção assombrosa, e a voz dolente, triste mas lindíssima de Nina Simone a cantar sobre um homem “de berço humilde” que “viveu um dia no planeta Terra” a pregar “o amor e a liberdade para os outros homens como ele”; sobre um homem que “sonhava com o dia em que a paz chegaria à Terra para ficar”; sobre o quão difícil é pensar “que este grande homem morreu”:
“Will my country fall, stand or fall?
Is it too late for us all?
And did Martin Luther King just die in vain?
Cos he’d seen the mountain top
And he knew he could not stop
Always living with the threat of death ahead
Folks you’d better stop and think
Cos we’re heading for the brink
What will happen now that he is dead?”
Syl Johnson – Is It Because I’m Black?
Em 1969 a música negra que denunciava o racismo era cada vez menos críptica. O assassinato de Martin Luther King Jr. no ano ano anterior tinha exposto de forma demasiado nítida as feridas ainda por sarar dos EUA e o ato simbólico de fazer música e apresentá-la tornara-se gradualmente, nos anos anteriores, cada vez menos o modo de resistência por excelência.
É neste ano que o produtor musical, músico versátil e grande cantor de blues, rhythm and blues e soul Syl Johnson revela uma grande canção chamada “Is It Because I’m Black?”. A canção estava cheia de perguntas incómodas, Syl dizia que algo o travava e perguntava-se: será que é porque sou negro? E acusava o interlocutor: dizia-lhe que insistia em “pôr o pé em cima de mim”, em pisá-lo, mas ele tinha de se escapar “algum dia e de alguma forma” porque “queria mesmo, mesmo ser alguém”, queria “anéis de diamantes e andar de carros Cadillac”.
The Temptations – Message From a Black Man
Em 1969, os The Temptations de Otis Williams, Melvin Franklin, Eddie Kendricks, Paul Williams, Dennis Edwards e companhia limitada usavam as suas vozes — tingidas a soul psicadélica, fornecida pela Motown — para enviarem uma “mensagem” de um “homem negro”, no disco Puzzle People. Cantavam eles: sim, a minha pele é preta, mas isso não é razão para ficar para trás. Perguntavam “yes, your skin is white… does that make you right?” e “how can a color determine whether you’re wrong or right?”. E desafiavam o racista branco: “No matter how hard you try / You can’t stop me now”.
Curtis Mayfield – We The People Who Are Darker Than Blue
Talvez valesse a pena falar de todo o disco: Curtis, o primeiro álbum a solo de Curtis Mayfield editado em 1970, não é só um portento musical, é todo um manual narrativo sobre a pobreza associada à cor da pele, a vida vivida nos bairros de má fama dos da América e o racismo sentido todos os dias na pele. Em “Miss Black America”, outro belo tema do disco, o homem que também faria Super Fly canta com alguma ironia: “You’re such wonderful people / and so beautifully equal / Miss Black America”. Mas foi para “We The People Who Are Darker Than Blue” que reservou algumas das palavras mais fortes:
“We people who are darker than blue
This ain’t no time for segregatin’
I’m talking ’bout brown and yellow, too
(…)
If your mind could really see
You’d know your color the same as me”
Quarteto 1111 – Maria Negra
Em 1970, os Quarteto 1111 revelavam-se ao país com o seu álbum de estreia, começavam a mudar o panorama rock e incluíam no disco uma canção chamada “Maria Negra”, onde cantavam sobre uma mulher de “negra pele” que, ao contrário dos “senhores do mundo e de tudo”, não tinha “nome”, “história”, “não tem nada”. Mas “pouco importa que sorriam / que a ignorem ou desprezem”, Maria “pisou espinhos mas continua a sorrir”.
The Staple Singers – When Will We Be Paid?
Os The Staple Singers já tinham cantado os velhos spirituals e as canções que lembravam que as fundações da América eram o trabalho escravo. Já tinham cantado “March Up Freedom’s Highway” e “Long Walk to D.C.”, esta última uma celebração da grande marcha do movimento dos direitos civis em 1963. Mas em 1970 lançam o seu tema mais contundente e inquieto. A âncora era uma pergunta: quando é que vamos ser pagos pelo trabalho que fizemos? Afinal, “nós” — eles —, negros, andaram neste país “de costa a costa” a trabalhar, “as nossas mulheres cozinharam toda a vossa comida e lavaram as vossas roupas”, foram eles que andaram “a apanhar todo o vosso algodão” e a construir os transportes ferroviários, lutaram “as vossas guerras” (as guerras deles) em todo o mundo “para manter este país livre”. E a justa recompensa de tudo isso?
“We have given our sweat and all our tears
We stumbled through this life for more than 300 years
We’ve been separated from the land which we knew
Stripped of our culture, people you know it’s true”
Jorge Ben Jor – Negro É Lindo
“Negro é lindo”, cantava Jorge Ben Jor, essa estrela maior da música brasileira, em 1971. O negro, proclamava (e lembrava) ainda o grande músico e cantor carioca, “também é filho de Deus”. E ele só queria que Deus o ajudasse a ver o filho “nascer e crescer / e ser um campeão / sem prejudicar ninguém”, como nos cantava com aquela subtileza gostosa, música de quem crescer de chinelo no pé.
Marvin Gaye – Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)
Não sendo exatamente uma canção sobre racismo, também o é, porque é uma canção sobre a vida dura nos subúrbios e nos ghettos norte-americanos naquela época (finais dos anos 1960 e 1970). Infelizmente, a canção mantém-se atual, como todo o disco — e a segregação, parecia querer-nos cantar Marvin Gaye em 1971, era tão económica e social quanto racial.
Duo Ouro Negro – Tala On N’Bundo
Longe da América do Norte, os Duo Ouro Negro, entre Angola e Portugal, marcaram a música lusófona como poucos nos anos 60, 70 e início dos 80’s (mas sobretudo nas primeiras duas décadas). Além de temas mais conhecidos como “Moamba, banana e cola”, “Agora Vou Ser Feliz”, “Amanhã” e “Maria Rita”, são muitos os temas com referências às desigualdades, mais genericamente, e ao racismo, mais especificamente. É o caso de “Mãe Preta” ou de esta “Tala On N’Bundo”. A ‘conversa’ a meio da canção, sobre o dinheiro (ou a ausência dele) e a diferença entre o que podem brancos e negros, não deixa aliás margem para dúvidas. Ou o refrão, sobre o ‘preto’ que só tem cinco escudos e quer beber vinho e quer jantar…
Stevie Wonder – Living For The City
É uma das canções mais pungentes de Innervisions, um dos álbuns mais icónicos da música negra americana e para muitos o auge criativo do mestre da soul e do funk Stevie Wonder. Nesta cantiga, Stevie canta sobre a família de um rapaz que cresce no “duro” Mississippi, “surrounded by four walls that ain’t so pretty”. Onde ele vive, canta o músico nascido no estado do Michigan, “they don’t use colored people”. O pai deste nosso protagonista da canção, por exemplo, “trabalha às vezes 14 horas / e podes apostar que com isso mal ganha um dólar”. Já a mãe “vai esfregar o chão de muitas gente / e é melhor que acredites, mal ganha um centavo”. E por aí fora. Fica o desespero por um futuro um bocadinho mais digno:
“I hope you hear inside my voice of sorrow
And that it motivates you to make a better tomorrow
This place is crelu no where could be much colder
If we don’t change the world will soon be over
Living just enough, stop giving just enough for the city”
John Lee Hooker – Will The Circle Be Unbroken
Canção tão velhinha que já é de domínio público, podendo ser gravada por quem a aprouver, “Will The Circle Be Unbroken” foi cantada por The Staple Singers, Bob Dylan e The Band, The 13th Floor Elevators, Pentangle, Gregg Allman ou os The Neville Brothers. Está quase tudo dito sobre a importância histórica de um tema que serve para cantar as mais diferentes chagas, mas que o bluesman John Lee Hooker gravou brilhantemente. Atente-se no refrão:
“Will the circle be unbroken?
By and by, Lord, by and by
There’s a better home a-waiting
In the sky, Lord, in the sky”
Teta Lando – Irmão Ama Teu Irmão
Em 1975, o músico angolano Teta Lando, uma das figuras da canção de intervenção (e da canção, só) deste país, gravou um disco chamado Independência. O título não deixa ninguém ir ao engano e nesta bela canção fraterna (não é a fraternidade uma boa arma contra o racismo?) e pró-independência pede-lhe: “Não vejas nele a cor que ele tem, vê nele somente um angolano”.
“Camarada, a palavra de ordem é união
pois com o povo de Angola unido
a independência chegará
pois com o povo de Angola unido
o colonialismo não resistirá”
Stevie Wonder – Black Man
Três anos depois de “Living For The City”, Stevie Wonder mostra ao mundo “Black Man”, uma canção que é uma ode ao homem negro e à importância do homem negro para a construção da América mas que é também uma reivindicação de maior justiça racial. Em “Black Man”, Stevie Wonder pede que o mundo se cumpra, de certo modo: “este mundo foi feito para todos os homens” e “Deus salvou o seu mundo para todos os homens, todas as pessoas, todos os bebés, todas as crianças, todas as cores, todas as raças”.
“We all must be given
The liberty that we defend
For with justice not for all men
History will repeat again
Its time we learned
This world was made for all men”
Super Mama Djombo – Sol Maior Para Comanda
Formado na década de 1960, o grupo guineense Super Mama Djamba bateu-se através da música contra o racismo e contra o colonialismo. Em “Sol Maior Para Comanda”, ouve-se uma homenagem a Amílcar Cabral, herói da independência da Guiné-Bissau, e reivindicações de “esperança” num país novo e mais livre.
Rev. Harvey Gates – It’s Hard To Live in This Old World
Ora aqui está um tema cuja origem é difícil de identificar. Mais fácil é ficar embasbacado com esta canção gospel, recuperada numa (espantosa) compilação recente chamada The Time For Peace Is Now – Gospel Music About Us, da editora Luaka Bop de David Byrne. Sem ser especialmente explícita sobre a desigualdade racial, podendo até não ter as injustiças raciais como mote, ajusta-se na perfeição às dores dos americanos negros. “We can’t find peace / we lost our hope…” , cantava este reverendo, evocado numa coletânea dedicada à música gospel dos anos 1970 que confrontava o mundo através da palavra.
Bob Dylan – Hurricane
“Here comes the story of the Hurricane / the man the authorities came to blame / for somethin’ that he never done”, anunciava Bob Dylan na sua canção lançada em 1976. O tema é inspirado no que aconteceu a Robin Carter, conhecido por “Hurricane”, um pugilista acusado de um triplo homicídio nos anos 60. Com a passagem dos anos, a condenação começou a ser posta em causa e a impressão de que o julgamento não fora justo com o acusado acentuou-se. Dylan leu a autobiografia de “Hurricane”, foi visitá-lo à prisão e escreveu a canção, onde comenta todo o processo e tem tiradas como “se és negro, é melhor nem apareceres na rua / a não ser que queiras atrair problemas”. O pugilista acabou libertado nos anos 80 e o juiz que acedeu ao pedido de habeas corpus avaliou o julgamento de que Carter fora alvo anos antes como um processo “baseado em racismo e não na razão”.
“The trial was a pig-circus, he never had a chance
The judge made Rubin’s witnesses drunkards from the slums
To the white folks who watched he was a revolutionary bum
And to the black folks he was just a crazy nigger
No one doubted that he pulled the trigger
And though they could not produce the gun
The D.A. said he was the one who did the deed
And the all-white jury agreed”
Fernando Tordo – Caderneta Militar
Com letra de Ary dos Santos, gravada na segunda metade da década de 1970, “Caderneta Militar” é uma canção sobre a guerra “ultramarina” mas também sobre racismo. Cantava Tordo por esses tempos:
“Davam-te um preto
E um amuleto
Davam-te o mote
Para o chicote
Davam-te o escravo
Mas só agora é que te deram um cravo”
Gil Scott-Heron – Delta Man
Já gravara “The Revolution Will Not Be Televised”, já gravara “Johannesburg”, já cantara tantas e tantas canções sobre desigualdade e injustiça racial. E no entanto é impossível não destacar “Delta Man”, que Scott-Heron gravou com o seu grande parceiro musical em vida, o pianista Brian Jackson, e que incluiu no disco Bridges, de 1977. Logo ao início, fazia uma declaração de intenções, explicando que esta era uma canção sobre mudança (concreta). E de seguida transportava o ouvinte para a história dos “irmãos” americanos, dos que cresceram no Mississippi aos que fugiram para o Nebraska depois da Guerra Civil, passando pelos que vivem “no coração da cidade / entre os drogados e os desesperados”. Era preciso impulsionar a mudança, clamava-se neste grande tema.
José Afonso – Um Homem Novo Veio da Mata
Com elogios ao “homem novo” que “veio da mata” e é “do MPLA”, que “duma fazenda faz um país”, por causa de quem o “colonialismo não passará”, o tema foi editado por José Afonso nos anos 70, incluído no álbum Enquanto Há Força, de 1978. E é um bom exemplo de um período desempoeirado da produção musical de José Afonso, neste disco como no anterior, Com As Minhas Tamanquinhas, repleto de ritmos e percussões (quem consegue resistir ao ritmo marcado de “Os Fantoches de Kissinger”?) festivas.
“Se novos donos
Querem pôr tronos
No teu país
Dum guerreiro
Faz um juiz
Colonialismo
Não passará…”
Peter Gabriel – Biko
Uma das mais famosas canções de oposição ao apartheid da África do Sul, “Biko”, lançada por Peter Gabriel em 1980, é tema motivado pelo homicídio de Steve Biko, um ativista anti-regime e anti segregação racial que esteve vários dias detido — sem julgamento, muito menos justo — e sob custódia policial tendo sido brutalmente agredido pelas autoridades sul-africanas e acabando por morrer na sequência dessas agressões. Chocado após ler sobre a morte de Steve Biko, Peter Gabriel compôs esta canção, em que canta:
“The outside world is black and white
With only one colour dead”
Elza Soares – Oração de Duas Raças
Em 1980, a deusa da canção brasileira, que viveu (e resistiu) por várias vidas e que continua a cantar com a autoridade de quem sabe bem do que canta, gravou um tema chamado “Oração de Duas Raças”. E a letra, espantosa, resume com uma simplicidade desarmante o disparate do ódio racial:
Não deve haver distinção
De ambiente nem cor
Tanto negro, como o branco
Tem o mesmo sangue, sente a mesma dor
No ambiente em que vive um branco
Pode haver um negro a mais
O importante na vida
Aqui somos todos iguais
The Specials – Racist Friend
Gravada em 1984 pela banda britânica do ska e do reggae (embora explorasse também outros comprimentos de onda musicais), também conhecida como The Special AKA, “Racist Friend” aborda o caso bicudo que é ter um amigo racista. Para os The Specials a resposta é simples: deixa de ser amigo, seja “irmã, irmão, primo, tio ou a tua paixão”. A solução proposta é esta: “Tell them to change their views / Or change their friends”. A canção termina com um prosaico “adeus”.
“So if you know a racist who thinks he is your friend
Now is the time, now is the time for your friendship to end
(…)
So if you are a racist
Our friendship has got to end
And if your friends are racists don’t pretend to be my friend”
Gilberto Gil – A Mão da Limpeza
Cantada por uma figura maior da música popular brasileira — Gilberto Gil —, “A Mão da Limpeza” é mais um bom exemplo de como se cantou no Brasil sobre o racismo ao longo das últimas décadas. O tema foi incluído no álbum Raça Humana, de 1984, e tem alguns versos que vale a pena a reter, sobre uma “mão escrava” que “passava a vida limpando o que o branco sujava”. Mais importante ainda:
“Mesmo depois de abolida a escravidão
Negra é a mão
De quem faz a limpeza
Lavando a roupa encardida, esfregando o chão”
Hugh Masekela – Bring Him Back Home (Nelson Mandela)
O apartheid sul-africano deu origem a uma multitude de canções gravadas por artistas que aproveitaram a música para se posicionar contra o racismo institucionalizado. Além das já citadas “Johannesburg” de Gil Scott-Heron e “Biko” de Peter Gabriel, há que destacar Hugh Masekela — músico, trompetista, compositor e cantor negro sul-africano com grandes argumentos no jazz, que contribuiu com vários temas para uma espécie de banda sonora de resistência. “Soweto Blues” foi uma das mais marcantes, “Bring Him Back Home (Nelson Mandela)” foi outra memorável. O tema foi gravado em 1986 por Masekela e pela cantora e ativista de direitos humanos Miriam Makeba e chegou aos ouvintes no ano seguinte, 1987, quando Mandela estava ainda detido. A letra diz tudo:
“Bring back Nelson Mandela,
Bring him back home to Soweto
I want to see him walking down the streets of South Africa
Tomorrow!”
Public Enemy – Fight the Power
Um dos grupos mais combativos da história do hip-hop, os Public Enemy lançaram em 1989 mais um entre muitos temas que visavam o racismo, a desigualdade económica e social, — que muitas vezes coincidia também com desigualdade racial. Sem paninhos quentes, as palavras aqui são incendiárias mas ressoaram numa geração que tinha a revolta como combustível:
“Elvis was a hero to most but he
Elvis was a hero to most
Elvis was a hero to most
But he never meant shit to me you see
Straight up racist that sucker was
Simple and plain
Mother fuck him and John Wayne
‘Cause I’m Black and I’m proud
(…)
Nothing but rednecks for four hundred years if you check”
Miriam Makeba – A Luta Continua
Hino da FRELIMO durante a guerra de Moçambique pela independência, “A Luta Continua” acabou por se tornar posteriormente uma canção na voz da sul-africana Miriam Makeba alegadamente depois de a filha de Miriam, Bongi, ter assistido à cerimónia oficial de declaração de independência de Moçambique — e ter escrito o tema para a mãe cantar. O refrão, “a luta continua / a luta continua, continua”, acaba por ser aplicado aqui a vários países: em Moçambique, no Zimbabué, no Botswana, na Zâmbia, em Angola, na Namíbia, na África do Sul, “a luta continua”, ouvimos Miriam Makeba cantar.
Michael Jackson – Black or White
Não importa se és branco ou preto: até na cabeça de quem não gosta de música a expressão fará ressoar o êxito de 1991 de Michael Jackson, “Black or White”. Entre um refrão orelhudo, os gritinhos, a melodia de verão que se eterniza em festas cheias de glamour e as batidas já com uns pozinhos de hip-hop misturados com funk e eletro-pop, ouve-se os seguintes versos rappados:
“Protection
For gangs, clubs, and nations
Causing grief in human relations
It’s a turf war on a global scale
I’d rather hear both sides of the tale
See, it’s not about races
Just places, faces”
Rage Against the Machine – Wake Up
Espantemo-nos todos, a Terra continua a ser um planeta indecifrável: em 2020, uma boa quantidade de gente descobriu na internet que a rapaziada dos Rage Against The Machine tem posições políticas — e, pasme-se, de esquerda. A internet continua a ser fonte de maravilhamento constante, mas talvez valesse mais a pena prestar-se atenção ao que Zack de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford (“Timmy C.”) e Brad Wilk diziam ao mundo em 1992, no álbum de estreia da banda. Desde logo, ao que diziam em “Wake Up”:
“You know they went after King when he spoke out on Vietnam
He turned the power to the have-nots
And then came the shot
Yeah, several federal men
Who pulled schemes on the dream and put it to an end
You better beware of retribution with mind war
20/20 visions and murals with metaphors
Networks at work, keepin’ people calm
Ya know they murdered X and tried to blame it on Islam”
2Pac – Changes
Nenhuma canção de 2Pac aborda o racismo e a opressão do poder (branco) ao negro, em especial ao negro pobre, quanto “Changes”, lançada postumamente em 1998, dois anos depois da morte do rapper e cantor, que foi assassinado. Isto apesar de por exemplo em 1993, em “Holler If Ya Hear Me”, do disco Strictly 4 My N.I.G.G.A.Z, Tupac ter já enviado uma palavra solidária aos seus “homies on tha block / gettin’ dropped by cops” e ter pedido aos “meus jovens homens negros” para “se erguerem e brilharem” enquanto esperam pelo dia em que “o tipo sem dinheiro nenhum” possa viver mais condignamente.
Neste tema que terá sido originalmente gravado em 1992, o rei do hip-hop da Costa Oeste (e grande rival de Biggie Smalls, mais emblemático representante do hip-hop da Costa Este dos EUA nos anos 90) parte de uma inquietação: não vê grandes mudanças em seu redor e não vê as mudanças que queria ver. A forma como os negros e os pobres são tratados na América merece palavras poucas meigas e vale a pena atentar nelas, ‘rappadas’ por um homem que aqui diz: ‘we ain’t ready to see a black Presidente” e “the penitenciary’s packed and it’s filled with blacks”.
“I’m tired of bein’ poor and even worse I’m black
My stomach hurts so I’m lookin’ for a purse to snatch
Cops give a damn about a negro
Pull the trigger kill a nigga he’s a hero
Give the crack to the kids who the hell cares
One less hungry mouth on the welfare
First ship ’em dope and let ’em deal the brothers
Give ’em guns step back watch ’em kill each other
(…)
I see no changes all I see is racist faces
Misplaced hate makes disgrace to races
Outkast – Rosa Parks
Dois anos depois, em 1998, os Outkast de “André 3000” e “Big Boi” lançariam o disco Skantonia e por essa altura quaisquer dúvidas estavam dissipadas: este duo de hip-hop estava cada vez mais firmado nos lugares cimeiros do rap norte-americano, estava a transformá-lo (com mais canto) e falava da América que não gostava de se olhar ao espelho. Mas dois anos antes, em 1996, houve Aquemini, o espantoso terceiro álbum de estúdio dos Outkast e um disco que deu grande notoriedade ao duo, em parte devido a este single. A homenagem à ativista que em 1955 recusou ceder o seu lugar sentado a um passageiro branco, algo que lhe estava a ser exigido pelo motorista, fica clara pelo título mas a canção pega na recusa para contar outras histórias.
Guru ft The Roots – Lift Your Fist
Em 2000, no terceiro álbum da sua saga de discos mais jazzísticos — o projeto Guru’s Jazzmatazz —, o rapper que também se notabilizou nos Gang Starr chamava para junto de si a banda de funk e hip-hop The Roots para gravar um tema a que chamou “Lift Your Fist”. De punho erguido, Guru e os membros The Roots apelam à insurreição e às mudanças. Primeiro fazem-no pela voz de Black Thought, da banda convidada: “To all my people, just lift your fist / seem like it ain’t no peace, no justice / how you want it, the bullet or the microchip? / either way you got to lift your fist”. Depois é Guru que, como faria brilhantemente J. Cole muitos anos depois em 4 Your Eyez Only, lamenta que parte da população negra adira à ratoeira sistémica. “And they love it, when we mild out and kill our own / but the greater responsibility, yes, is still our own”. Guru, porém, ainda tinha mais versos na manga:
“Too many tears of pain, too many years of struggle
Too many drops of blood, too many problems to juggle
Too few jobs available, too few schools equipped
Too few role models; just gangsters and pimps
Will you succumb, will your heart grow numb
Or will you save the world, and use your mind like a gun?
I’m the one – I turn a stick-up kid to a soldier
Me and The Roots, word up, we takin over”
Elza Soares – A Carne
Estão entre os versos mais conhecidos da música brasileira. “A carne mais barato do mercado / é a carne negra”, cantava Elza Soares em 2002, em “A Carne” — e tragicamente voltaria a cantar bem mais tarde, sem que o tema ficasse desatualizado. A escravidão pode ter sido abolida mas se a carne negra já não era grátis, ainda era a mais barata do mercado, denunciava Elza.
E esse país vai deixando todo mundo preto
E o cabelo esticado
Mas mesmo assim ainda guarda o direito
De algum antepassado da cor
Brigar sutilmente por respeito
Brigar bravamente por respeito
Brigar por justiça e por respeito (Pode acreditar)
Racionais MC’s – Negro Drama
Um dos mais importantes grupos da história do hip-hop lusófono, os Racionais MC’s, ou simplesmente Racionais, incluíram este tema no seu quinto álbum de estúdio, Nada como um Dia após o Outro Dia. Nele falam dos dramas dos negros desafortunados, no Brasil como em outros países. É difícil não reter aquelas palavras ditas a meio do longo tema, evidência de um rap totalmente ancorado na palavra: “Crime, futebol, música, carai… / eu também não consegui fugir disso aí / eu sou mais um”.
“Histórias, registros e escritos
Não é conto, nem fábula, lenda ou mito
Não foi sempre dito que preto não tem vez?
Então, olha o castelo e não foi você quem fez, cuzão”
Chullage – Pretugal
A quantidade de temas que aqui poderiam estar do rapper, sociólogo, músico e produtor musical português Chullage é imensa. Não haverá muita gente em Portugal que pense tão criticamente e com tanta substância sobre o racismo. Em Rapensar, álbum editado em 2004, editou esta “Pretugal”, que mais do que destaques de excertos da letra merece ser ouvida do início ao fim, palavra a palavra.
Jamiroquai – Don’t Give Hate a Chance
John Lennon tinha escrito e cantado “Give Peace a Chance”, a banda de funk, acid jazz e uns pozinhos de disco Jamiroquai inverteu a ordem. “(Don’t) Give Hate a Chance”, incluída pela banda britânica no disco Dynamite, de 2005, alerta: temos andado a dar uma oportunidade ao ódio, isto não está a correr bem e é preciso parar. E já agora, para quê dar tanta relevância à cor da pele?
“So why do we see these colors
It’s only skin deep, don’t mean a thing
So clear underneath this we’re all brothers
Can’t you see it’s killing us”
Valete – Subúrbios
Em 2002, com o seu primeiro disco Educação Visual, Valete deixou um marco importante no hip-hop português dos anos 90 — estatuto que cimentaria quatro anos depois, com o sucessor Serviço Público. O seu rap combativo, visando frontalmente os poderes instalados, tornou-o um dos nomes maiores do género. E em Serviço Público incluiu “Subúrbios”, tema em que rappa sobre o “povo escravizado”, os que “trabalham duas vezes mais e ganham duas vezes menos”, e especificamente sobre os negros dos subúrbios: “Negros dos subúrbios são sempre vistos como gente a mais / para as discotecas africanas eles são pretos demais”. Para as forças de segurança, deixa palavras duras e acusa-as de albergar racistas:
“Bófias vêm para os subúrbios com arrogância e prepotência,
por isso é que forças de segurança aqui só trazem insegurança.
Vêm numa de roubar pretos com armas e cacetetes,
há mais Skineds na PSP que no PNR”
Mavis Staples – Eyes on the Prize
Pete Seeger cantou-a logo em 1963, Mahalia Jackson e Odetta já a tinham cantado antes, Bruce Springsteen e Mavis Staples cantaram-na bastante mais tarde. Canção folk que ficou indelevelmente associada ao movimento dos direitos civis e ao combate à segregação racial nos EUA, “Eyes on the Prize” foi cantada pela voz dos The Staple Singers para o disco We’ll Never Turn Back, um importante álbum de 2007 produzido por Ry Cooder e inspirado nas canções do movimento pelos direitos civis. Do disco fazem parte outros temas resgatados ao passado longínquo, como “Down in Mississippi”, “We Shall Not Be Moved”, “In the Mississippi River” e “This Little Light of Mine”. O texto que acompanha o álbum — as chamadas “liner notes” — foi escrito pelo recém-falecido John Lewis.
The Roots – Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me ‘Round
A canção é um velho tema que remonta à época do movimento pelos direitos civis — que segundo o The Washington Post foi cantado no verão de 1961 na prisão estatal do Mississippi, por ativistas do grupo Freedom Riders. Estes, incomodados com os ouvidos moucos das autoridades dos estados sulistas às decisões do Supremo Tribunal americano, desafiavam a segregação viajando em autocarros mistos, com brancos e negros no interior. Houve emboscadas aos autocarros, espancamentos, uma reação violenta não só do Ku Klux Klan mas da polícia.
A estadia na prisão destes ativistas, porém, foi musicalmente produtiva. Aprenderam-se e inventaram-se canções novas “engajas”, cantaram-se canções antigas, alteraram-se velhos hinos da música negra, mais religiosa ou não. Muitos anos depois, o tema acabou a ser gravado pela banda de funk e hip-hop The Roots, que decidiram fazer a sua versão para a banda sonora do filme “Soundtrack for a Revolution”, de 2009. A premissa do filme? “Cada geração encontra a sua voz”. Na letra, ouve-se um desafio claro: não há prisões nem segregações que travem caminho à liberdade que está para chegar.
Ain’t gonna let no jailhouse, turn me ‘round
(…)
Ain’t let segregation turn me ‘round
(…)
I’m gonna keep on a-walkin’, keep on a-talkin’
Marchin’ on to freedom land”
Wadada Leo Smith – Ten Freedom Summers
Excepcionalmente falar-se-á aqui de um disco no seu todo e não de um só tema: em 2012, o grande trompetista e compositor de jazz Wadada Leo Smith, que tem atualmente 78 anos, editou uma caixa com quatro discos chamada a que chamou Ten Freedom Summers. Trata-se de um conjunto de 19 composições musicais que começaram a ser idealizadas pelo músico desde o final dos anos 1970. Nascido no Mississippi, cuja história de segregação aponta como um dos catalisadores das composições, Wadada Leo Smith dividiu as composições em três secções: à primeira chamou “momentos definidores na América”, à segunda “o que é a democracia?” e à terceira “verões de liberdade”. As composições evocam e inspiram-se em figuras associadas ao movimento dos direitos civis e ao ativismo pela igualdade racial ao longo da história — de Rosa Parks, Malcolm X e Martin Luther King Jr. a Medger Evers, Thurgood Marshall, Emmett Till — mas também partem de reflexões sobre instituições centrais no modelo de organização social norte-americano. O disco foi finalista do prémio “Pullitzer para a Música”, em 2013.
Allen Halloween ft Mundo Segundo e Vinicius Terra – Versos que Atravessam o Oceano (2013)
Em 2013, um tema juntou os portugueses Allen Halloween e Mundo Segundo ao brasileiro Vinicius Terra. Vinicius tem passado os últimos anos a tentar estabelecer pontes entre o hip-hop português e o hip-hop do Brasil e aqui fê-lo uma vez mais. Os versos de Allen Halloween ficam na retina como um manual de boa escrita sobre a desigualdade racial e as dores negras mais fundas da lusofonia. Fala do “maior ghetto do mundo”, o “continente africano”, e de como de lá vem gente “atrás do sonho lusitano” que acaba a construir e limpar as moradias da tuga / com a força e o empenho de quem nunca teve uma”. Um dia, anseia, “vem uma mesa redonda cheia de comida / onde os filhos dos escravos e dos donos se sentem em harmonia / comem e bebem em alegria, até nascer um novo dia”.
“Nascido no maior ghetto do mundo, no continente africano,
comprei um passaporte para o outro lado do oceano.
Com os troques que eu ganhei, mano,
deixei tudo para trás atrás do sonho lusitano.
Construí e limpei as moradias da tuga
com a força e empenho de quem nunca teve uma.
(…)
Mas nem tudo o que ficou, ficou para trás.
Nasceram novas Áfricas em mil lugares:
Nasceram novos mundos, nasceram novos mares
e os homens todos juntos procuram a paz.
Mas antes da paz vem a justiça,
vem uma mesa redonda cheia de comida
onde os filhos dos escravos e dos donos se sentem em harmonia,
comem e bebem em alegria, até nascer um novo dia.”
Ambrose Akinmusire – Rollcall for those absent
Nos seus álbuns para a editora Blue Note Records — o primeiro remonta a 2011 e antes disso só tinha gravado um, lançado em 2008 —, o trompetista e compositor de jazz Ambrose Akinmusire, um dos grandes músicos americanos do género na atualidade, tem honrado uma tradição: a cada disco faz um tema novo motivado pelo racismo e pelo que entende ser uma violência policial desproporcionada sobre os negros na América. Começou com “My Name is Oscar”, uma dedicatória a Oscar Grant (negro americano de 22 anos morto a tiro por um polícia, que acabou condenado), mais recentemente fez “Free, White and 21” e pelo meio, em 2014, revelou “Rollcall for those absent”. Nesta espécie de “chamada por aqueles que estão ausentes”, ouvem-se nomes de jovens afroamericanos como Patrick Dorismond e Trayvon Martin, também eles mortos por polícias ou vigilantes.
Vince Staples – Hands Up
Mesmo que não tenha grande reconhecimento por isso, poucos rappers negros escreveram sobre o tema da violência policial — e da violência policial sobre negros — como o jovem Vince Staples. Ainda antes do primeiro disco completo, no EP (ou mini-álbum) Hell Can Wait, de 2014, este rapaz de Compton (estado da Califórnia) que conseguiu encontrar originalidade na mistura entre o rap e a música de dança incluiu o tema “Hands Up”. Mãos ao ar, portanto. O refrão fica no ouvido, “nigga freeze, put your hands in the air”, mas Vince Staples rappa também sobre Deangelo Lopez e Tyler Woods, “só mais dois que abateram a tiro no bairro”, e diz que “só a tua cor é suficiente para te deterem”. A engenharia rímica faz “arrest” rimar com “protest” e “oppressed”. Mais à frente, dispara:
“Raidin’ homes without a warrant, Shoot him first without a warning
And they expect respect and non-violence
I refuse the right to be silent”
Capicua – A Mulher do Cacilheiro
É uma das canções mais fortes de Sereia Louca, o álbum que deu a popularidade devida e justa à rapper e cantora Capicua, mestre na arte de juntar palavras desarmantes às batidas hip-hop. No tema, Capicua rima sobre uma mulher que apanha o barco ainda de madrugada, que ao ouvir uma criança chorar lembra-se “dos filhos que ficaram sós em casa / e dos filhos da patroa p’ra cuidar na outra margem”. Uma mulher que “no balanço do barco” lembra-se do “mar de Santiago”. Uma mulher que tem “mão gretada de lixívia / pele negra, cabelo curto / saudade de Cabo Verde / vontade de um mundo justo”. Uma mulher preta.
“Ela é só mais uma preta
Só mais uma emigrante
Empregada da limpeza
Só mais uma que de longe vê a imponência imperial
Do tal Terreiro do Paço da Lisboa capital”
Lauryn Hill – Black Rage
O tema remonta a 2012, mas a rapper e cantora Lauryn Hill só o revelou dois anos depois, em 2014. Dedicou-o àqueles que na altura ocupavam a cidade de Ferguson, no Missouri, para protestar contra o ódio e a desigualdade racial — e explicou que era um velho rascunho lo-fi de uma canção, captado na sua sala de estar. Vale a pena atentar na letra, que começa assim:
“Black Rage is founded on two-thirds a person
Rapings and beatings and suffering that worsens
Black human packages tied up in strings
Black rage can come from all these kinds of things
Black rage is founded on blatant denial
Squeezed economics, subsistence survival
Deafening silence and social control
Black rage is founded on wounds in the soul”
J. Cole – Be Free
O tema surgiu como resposta a um caso chocante: a morte a tiro de Michael Brown, um rapaz negro e desarmado de 18 anos, que tornou a cidade de Ferguson epicentro dos protestos contra a desigualdade racial nos EUA, naquele ano de 2014. Na altura, aquele que é um dos mais aclamados intervenientes do hip-hop americano atual explicou que estava farto de deixar de se impressionar com “o homicídio de pessoas negras” e acrescentou estar-se a marimbar “se era pela polícia ou por ‘colegas’, esta porra não é normal”. No refrão canta: “Tudo o que queremos é arrancar as correntes”. E pergunta: “Podem dizer-me por que motivo / cada vez que vou à rua vejo os meus niggas a morrer?” Vale a pena ver a emotiva interpretação ao vivo do tema, com direito a um freestyle temático, no programa de David Letterman:
D’Angelo and the Vanguard – The Charade
Incluída no álbum Black Messiah, o primeiro disco do cantor, compositor e músico de soul e soul eletrónica D’Angelo em quase década e meia, “The Charade” pede “uma oportunidade para falar”. D’Angelo e a sua banda, representando um nós maior, prometem: ‘continuaremos a marchar’. Vale a pena ver a interpretação ao vivo do tema no programa SNL, com músicos e cantoras nos coros com t-shirts com inscrições como “I can’t breathe” e “Black Lives Matter”.
“All we wanted was a chance to talk
‘Stead we only got outlined in chalk
Feet have bled a million miles we’ve walked
Revealing at the end of the day, the charade
With the veil off our eyes we’ll truly see
And we’ll march on
And it really won’t take too long
And it really won’t take us very long”
Kendrick Lamar – The Blacker the Berry
Logo no arranque, em “HiiiPoWeR”, Kendrick Lamar tinha mostrado que um puto negro de Compton tinha coisas a dizer sobre a América atual e a inevitabilidade de rapazes crescerem em ghettos pobres, rodeados de drogas, crime e um horizonte de futuro pouco auspicioso. Em 2015, “Alright” — e o refrão, “we ‘gonna be alright’ — ficou nos ouvidos de meio mundo e acabou cantada e tocada em protestos do movimento Black Lives Matter.
Nesse mesmo ano, e também incluída no disco To Pimp a Butterfly (um dos grandes álbuns desta última década, um dos grandes álbuns da história do hip-hop e da música negra), está “The Blacker The Berry”, em que K.Dot se auto-intitulava de “maior hipócrita de 2015” mas também em que dispara sem dó nem piada sobre os racistas. A arma aqui é a palavra:
“Been feeling this way since I was sixteen, came to my senses
You never liked us anyway, fuck your friendship, I meant it
I’m African-American, I’m African
I’m black as the moon, heritage of a small village
Pardon my residence
Came from the bottom of mankind
My hair is nappy, my dick is big, my nose is round and wide
You hate me don’t you?
You hate my people, your plan is to terminate my culture
You’re fuckin’ evil, I want you to recognize that I’m a proud monkey
You vandalize my perception but can’t take style from me
(…)
You sabotage my community, makin’ a killin’
You made me a killer, emancipation of a real nigga
The blacker the berry, the sweeter the juice
(…)
The blacker the berry, the bigger I shoot”
Janelle Monáe – Hell You Talmbout
Atriz, cantora, rapper, ativista… Janelle Monáe é uma espécie de renascentista na cultura pop contemporânea e, sem grandes alardes, também na música foi-se consolidando ao longo desta última década, com um álbum de estreia lançado em 2010 e dois discos razoavelmente aclamados, The Electric Lady (2013) e sobretudo o mais recente Dirty Computer (2018). Na convulsão de um ano de 2015 repletos de protestos raciais nos EUA — e de afirmação do movimento Black Lives Matter —, Janelle Monáe tornou pública uma canção chamada “Hell You Talmbout”, em que enumera o nome de americanos negros vítimas de racismo e de violência policial. No tema participam vários elementos do coletivo artístico Wondaland. Entre os nomes das vítimas, há um apelo repetido incessantemente: “Say his name” e “say her name”, ‘digam os nomes deles’.
Allen Halloween, General D, Buts Mc – Bairro Black
Incluída no álbum Híbrido, lançado em 2015 por Halloween — e que tem um outro tema, “Marmita Boy”, que conta faz uma pergunta dorida: “jovem africano do bairro social, quais são as tuas chances, mano, em Portugal?” —, “Bairro Black” conta com a participação de General D e Buts Mc. Começa com versos duros de Allen Halloween, o grande cronista português dos últimos anos (do submundo português, mas não só), que rappa sobre “o preto, o cigano, o pobre branco” marginalizados e mortos pelo sistema, sobre “mais um puto de um bairro degradado assassinado / eliminado por um agente do Estado / era bandido, era mitra, era nigga…”. Depois entra em cena um bem regressado General D:
“Reghetização e perseguição
Alguém venha-me explicar o estado desta nação
Desde puto muito cedo nesta pressão
O meu pai trabalhador fica nesta humilhação
Uma fuga da polícia já tentei mais uma vez
Conheço bem o sistema, já fiz tempo no xadrez
Tenho um mês de fora mas já me querem de volta”
Common e John Legend – Glory
Da autoria de rapper e cantor Common e do cantor de baladas pop e soul John Legend, a canção “Glory” serviu como tema genérico do filme “Selma”, de 2015, que retratava as marchas pela igualdade racial de 1965, de Selma para Montgomery. O refrão, mais meloso e grandiloquente (a armar ao épico), é de John Legend, mas são as palavras de Common — que pouco depois lança o disco Black America Again, quase todo ele um manual de intervenção social e por igualdade racial que tem um grande tema título com Stevie Wonder — que mais atenção devem merecer:
The movement is a rhythm to us
Freedom is like religion to us
Justice is juxtapositionin’ us
Justice for all just ain’t specific enough
One son died, his spirit is revisitin’ us
Truant livin’ livin’ in us, resistance is us
That’s why Rosa [Parks] sat on the bus
That’s why we walk through Ferguson with our hands up
When it go down we woman and man up
They say, “Stay down”, and we stand up
Shots, we on the ground, the camera panned up
King pointed to the mountain top and we ran up
Blood Orange – Sandra’s Smile
Em 2015, a morte de Sandra Bland, encontrada enforcada na sua cela prisional em Walter County (Texas) três dias depois de ser mandada encostar no trânsito e detida — as gravações da detenção e a agressividade do polícia chocaram boa parte da América —, levou Dev Hynes a gravar uma canção com o seu projeto musical Blood Orange como resposta. Chamou-lhe “Sandra’s Smile” e nela, o artista que funde soul eletrónica com batidas hip-hop e até umas pitadas de jazz e rhythm and blues, canta:
“Who taught you to breathe, then took away your speech
Made you feel so loved, then syour hand with gloves?
You watched her pass away the words she said weren’t faint
Closed our eyes for a while, but I still see Sandra’s smile”
Michael Kiwanuka – Black Man In a White World
Da tradição soul e soul-rock (recordemos o psicadelismo soul de alguma da música do final dos anos 60 e início dos anos 70), o britânico Michael Kiwanuka é um dos mais interessantes representantes contemporâneos. Neste tema, canta que toda a vida lhe foi dito que não tem “nada para rezar, nada para dizer”. E repete incessantemente o refrão como um mantra, talvez para que o tenhamos bem presente e não nos esqueçamos disto: ele, Michael Kiwanuka, como tantos outros, é “um homem negro num mundo branco”.
Rincon Sapiência – A Coisa Tá Preta
À música brasileira recente não faltam bons exemplos de canções que têm o racismo em ponto de mira, mas “A Coisa Tá Preta”, de Rincon Sapiência, fá-lo explicitamente e especialmente bem, com uma ginga infindável. “Lava a boca p’ra falar da minha cor”, ouvimo-lo rimar. “Seu preconceito vai arrumar treta”, dirá ainda, numa canção de orgulho negro. Já agora, vale a pena prestar ainda atenção à homenagem de Karol Conka a Sabotage, revelada também recentemente em “Cabeça de Nego”.
“Sangue de escravo não, pulei
Vou um pouco mais longe, sangue de rei
Na onda do stereo história, prolongo
Não rola mistério, sou Manicongo”
Mavis Staples – If All I Was Was Black
O tema deu nome a um disco editado por Mavis Staples em 2017, feito com a colaboração de Jeff Tweedy. O guitarrista, vocalista e compositor da banda Wilco escreveu sete das dez canções do álbum e as outras três foram escritas a meias, pelos dois. Esta que deu origem ao título e em que a intérprete faz questão de vincar a burrice que é reduzir alguém à cor da pele que tem foi o caso de uma dessas canções nascidas de um trabalho a dois, com Mavis a cantar “If all I was was black… / don’t you wanna know me more than that?”. Outra, que também vale a pena ouvir, é “We Go High”, em que Staples canta: “We go high / When they go low”. A cantora de música soul, gospel e R&B continua em grande forma e com grande vitalidade: no último ano, editou um disco intitulado We Get By.
Irreversible Entanglements – Chicago to Texas
A própria música tem um propósito, garantem eles: almeja à libertação. Os Irreversible Entanglements são um coletivo de free jazz formado por Camae Ayewa (escritora e declamadora de poesia interventiva), mais conhecida no mundo da música como Moor Mother, pelo saxofonista Keir Neuringer, pelo trompetista Aquiles Navarro, pelo contrabaixista Luke Stewart e pelo baterista Tcheser Holmdes. O jazz é visceral, tocado com arrojado, nada smooth. E as letras, a condizer com a música, são socos no estômago, como prova esta “Chicago to Texas”.
Incluído no álbum de estreia do grupo, homónimo e de 2017 — lançaram entretanto o sucessor, Who Sent You? —, o tema fala das celas prisionais dos EUA e da sua incapacidade de reabilitar pessoas, da violência historicamente perpetuada sobre negros, de prisões forçadas e voluntárias, de injustiça, de tempos em que “a morte era uma bênção”, de “ser sempre Black Sunday aqui”, de “corpos linchados”, de “a espera ser um privilégio” e de um tempo em que um pai pôde olhar uma filha nos olhos e dizer-lhe: “não vais ser uma escrava”. Não é um acaso: o grupo comeou a formar-se quando Camae, Keir e Luke juntaram-se para um concerto em trio numa manifestação de músicos contra a violência policial (Musicians Against Police Brutality), em Nova Iorque, que teve como fim angariar fundos para a família de Akai Gurley, afro-americano assassinado por um agente da polícia nova-iorquina. Peter Liang, o polícia em causa, acabou condenado por homicídio.
Joey Badass – Land of the Free
O título do álbum de que este tema faz parte — All-Amerikkkan Bada$$ —, com os três “K” a referenciarem o Ku Klux Klan, já dava a entender que o disco teria uma forte componente interventiva, visando a desigualdade racial. E a verdade é que Joey Badass, outro dos jovens prodígios do rap norte-americano, confirmou-o, com temas como “Good Morning Amerikkka”, “For My People” e “Y U Don’t Love Me? (Miss Amerikkka)”. Nesta “Land of the Free”, single de apresentação do disco, rima sobre sentir os seus antepassados ancestrais presos dentro de si, sobre Barack Obama “simplesmente não ter sido suficiente” e Trump “não ter capacidade para gerir este país”, sobre gente que ainda é deixada “morta na rua para ser os vossos doadores de órgãos”, sobre os negros “ainda terem o último nome dos donos dos nossos escravos” — de que descendem, entenda-se. Mais importante ainda, rima:
“Trickery in the system, put my niggas in prison
All our history hidden, ain’t no liberty given
We all fit the description of what the documents written
We been lacking the vision and barely making a living
We too worried to fit in while they been benefitin’
Every time you submittin’, we all guilty admit it”
Jay-Z – The Story of O. J.
Em “Spiritual”, do ano anterior de 2016, Jay-Z desferira fortes pancadas palavrosas na violência policial, na violência sobre negros e no racismo. Rimara aí que não era nenhum veneno, era só “um rapaz do bairro que tinha as mãos no ar, em desespero”, a pedir para não dispararem. No ano seguinte, Jay-Z lançaria um novo álbum, 4:44, e incluiria aí este tema, “The Story of O. J.”. Samplando “Four Women” de Nina Simone, partiria para um tema com um refrão que nos diz uma coisa simples: podes ser mais ou menos escuro, rico ou pobre; se fores um negro, continuarás sempre a ser um negro.
Jay-J saberá bem que as preocupações de um negro multimilionário não são as mesmas de um negro sem dinheiro para o jantar — até porque já foi o segundo e agora é o primeiro —, mas parece convicto, talvez por experiência própria, que o dinheiro não protege de tudo e que a negritude lhe será sempre vincada.
“Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga
Rich nigga, poor nigga, house nigga, field nigga
Still nigga, still nigga”
Wet Bed Gang – Já Passa
Não é maioritariamente uma canção sobre racismo, embora aluda à violência policial, quando Gson, rapper do grupo de hip-hop de Vialonga, acusa: “Olha as marionetas do Estado prontas para prejudicarem o meu futuro / é porque cada vez que eles não sabem o que fazem estão literalmente a dar tiros no escuro”. Mas é sobretudo uma canção que transporta o ouvinte para as durezas de ser negro, pobre e tantas outras coisas mais que complicam o futuro.
“Com tempo de vida irmãos morrem
mães choram
mais lágrimas enchem capelas.
Com tão pouca ajuda
enfrentámos grandes provações
e tornámo-nos maiores do que elas
Com tão pouco…
(…)
Deixa-me representar essa classe survivor”
Childish Gambino – This Is America
Não precisa de grandes apresentações, até porque foi uma das canções que o mundo mais ouviu em 2018. “This Is America”, gravada por Donald Glover — que edita com o nome artístico Childish Gambino —, incorpora as batidas e os trejeitos do trap para criar uma canção viciante. Mas foi o vídeo e a violência do vídeo que mais impressionaram a internet como fiel retrato americano: um coro a ser despachado a tiro por Donald Glover, sangue por todo o lado, polícias a correr com cassetetes e o negro (ele) a correr para fugir de uma matilha de furiosos.
Nas – Cops Shot the Kid
Incluído no disco Nasir, editado em 2018 e com batidas e produção instrumental de Kanye West, “Cops Shot the Kid” tem um título que se explica por si. O principal alvo a violência policial e a letra deste já veterano rapper, que nem sempre faz música à medida daquilo que o seu jeito para as palavras faria supor, merece atenção, contando a história de um rapaz que por ser negro bastava estar na rua à noite fora de horas para ser incomodado pela polícia. O insistente refrão, com a expressão “cops shot the kid” (“os polícias dispararam sobre o miúdo/a miúda”) canaliza o que tem motivado muitos dos protestos recentes por igualdade racial nos EUA:
“The cops used to come around in my neighborhood
‘Alright, you kids, stop having so much fun, move along!’
Oh they’d arrest me, you know, especially at night
They had a curfew, niggers had to be home at 11, negros, 12
And you’d be trying to get home, doing your crew runs
And they’d always catch you out in front of a store or something
‘Cause you’d be taking shortcuts, right
Cops, ‘Ree, put your hands up, black boy!’
Black Thought – Rest In Power
A morte de Trayvon Martin chocou a América e Black Thought, membro do grupo The Roots, não ficou indiferente. Em 2018 dedicou-lhe uma canção com o tema “Rest In Power”, onde rima sobre a vontade de “poupar uma vida” se tivesse poder para isso. E parte daí para falar sobre como a sua América o magoa:
“In America, one tradition that lasts
Is black blood woven into the fibers o’ the flag
Not addressing the problems of the past
To nowhere fast, but following the path
So called “leaders” on hire for the Klan
Still rapin’ and settin’ fire to the land
Well that’s the climate, how can I become a man
If survival is a triumph and we got the underhand?”
Solange – Stay Flo
Talvez ainda mais do que a irmã Beyoncé, Solange Knowles tem feito da abordagem à desigualdade racial e aos estereótipos raciais um tema que marca a sua música. Na mais conhecida “Don’t Touch My Hair” isso é muito evidente, mas em “Stay Flo”, canção que revelou em 2019, canta estes versos:
“Niggas get fade and they feel it on they face (hold up)
Talking all day, then they feel it on they place (yeah)
Take it all down, they gon’ feel it on the day
Take it all home and they feel it all the way
Takin’ all shots and they feel it on they face (take it)”
Phoenix RDC – LOOP
Já este ano, na sequência da morte de George Floyd, o rapper português Phoenix RDC decidiu fazer um tema a propósito do racismo e da violência policial. Chamou-lhe “LOOP”. Ouvimo-lo aqui sem grandes freios:
“P’ra muitos tipos o veredicto
É pôr o people black no tapete
(…)
Sirenes assustam, woo, woo
Nas costas bullets, puh, puh
Somos o troféu dos Ku Klux (Klan)
Senhor agente, don’t shoot me (Puh, oops)
E a criminalidade acontece em loop
Fuck Ku Klux Klan
(…)
Berço é o cemitério
Esquadra é inferno
E o resto é circo
O que a gente vive é muito triste
Matar um preto
Basta um click (Easy)”
Vários artistas – Pig Feet
Também nos EUA houve reações musicais quase imediatas à morte de George Floyd. O tema “Pig Feet” foi o primeiro. Junta gente nova mas com notoriedade do rap e do jazz, entre os quais Denzel Curry, Terrace Martin e Kamasi Washington. Embora seja difícil de perceber se a letra foi motivada pela morte de George Floyd — nunca o menciona explicitamente — a violência policial e o racismo são temas e o título é uma óbvia referência ao caso.
Jorja Smith – By Any Means
Também a cantora britânica Jorja Smith lançou recentemente um tema a propósito da morte de George Floyd e da discussão atual sobre o racismo ainda existente em porções significativas da sociedade. Em “By Any Means”, diz que fará o necessário para lutar por “ele”. E canta:
“White men can’t jump but at least they can run
Broke these chains just to put our hands up
They could never see the kingdom coming
You wanna see us all amount to nothing”
Dino D’Santiago e Julinho KSD – Kriolu
Dino D’Santiago, que em tempos já fizera o tema “Filho do Ghetto” com Valete — que se apropria bem a esta discussão em curso —, lançou em 2020 um tema intitulado “Krioulu”. Gravado com Julinho KSD, fenómeno nacional do rap crioulo, “Kriolu” tem dois versos chaves a apelar a uma melhor convivência social: “Branco com preto / geração de ouro”. Já não é tempo de deixar de aceitar a diferença e procurar mais a semelhança?
Leon Bridges e Terrace Martin – Sweeter
Na sequência da morte de George Floyd, o cantor de soul Leon Bridges juntou-se ao cantor e músico Terrace Martin (que já havia estado envolvido em “Pig Feet”) para gravarem juntos “Sweeter”, um tema sobre “esperar uma vida mais doce” mas ciclicamente ser protagonista de uma história que se repete, ter medo “com a pele negra como a noite”, sobre “não conseguir sentir paz com esses olhos que me julgam”.
Christian McBride – The Movement Revisited: A Musical Portrait of Four Icons (2020)
Também este ano, o contrabaixista norte-americano de jazz Christian McBride editou um álbum intitulado “The Movement Revisited: A Musical Portrait of Four Icons”. No disco, a acompanhar a instrumentação jazzística de qualidade de exceção a que habituou os ouvintes do género (e que é inspirada por personalidades históricas negras), junta palavras sobre figuras como Rosa Parks, Malcolm X e Martin Luther King Jr. O álbum foi feito durante anos, sendo o (épico) resultado final fruto de uma dedicação de longa data.