De passagem por Portugal para receber o Prémio Literário Vergílio Ferreira 2019, atribuído pela Universidade de Évora, e enquanto convidada de honra do festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, a escritora brasileira Nélida Piñon conversa sobre literatura – “vagabunda, no melhor sentido” –, conta como uma sentença de seis meses de vida a levou a começar a “organizar a morte de uma forma estética” e defende que não há modernidade sem a noção dos conceitos arcaicos.
Tem editados em Portugal títulos como “A República dos Sonhos”, “Livro das horas”, “Aprendiz de Homero”, assim como o seu mais recente romance, “Uma Furtiva Lágrima”, que chegou às livrarias no final de janeiro.
Veja a entrevista em vídeo:
Ao ler no seu livro de ensaios “Aprendiz de Homero” – a epopeia da leitora Nélida – um capítulo sobre a sua infância, a sua relação com os livros na infância, a sua paixão pelas palavras, em que diz que “os livros lhe prolongavam a existência e a impediam que caísse nas malhas do banal”, lembrei-me do Proust, que também tem uma digressão sobre isso na Journée de Lecture. “Não há talvez dias da nossa infância que tenhamos tão intensamente vivido como aqueles que julgamos passar sem tê-los vivido, aqueles que passámos com um livro preferido, diz ele.
Também me aconteceu muito isso, mas gostava que a Nélida nos contasse um bocadinho essa sua experiência mais primária, mais primitiva, mais inicial com os livros.
Eu tive a felicidade, a sorte de, desde menina, ganhar livros. Meu pai, galego imigrante, gostava de livros, lia muito. Na verdade eu suspeito que ele fosse um grande solitário. Não aquele solitário repudiado, mas aquele solitário que precisa da solidão para poder pensar. Ele fornecia-me livros, dava-me no fim do ano almanaques do Flash Gordon, do Mandrake, de todo o mundo. E eu vivia imersa nessa fantasia e na expectativa de conhecer aventuras que mudassem a minha vida para sempre. Eu acho que a mensagem colocada nos livros era a seguinte: você vai ser feliz. Porquê? Porque você vai conhecer a densidade das aventuras. Você vai ser uma mulher, uma menina, que vai sair de casa. Eu dizia o seguinte: adoraria jamais dormir uma noite debaixo do mesmo teto. E então eu comecei a escrever também pensando que eu, se escrevo, passo a viver aquilo que estou narrando. De modo que essa leitura inicial foi fundamental para me dar um substrato, para acreditar até na minha humanidade. E para querer apostar no dia seguinte, no futuro, que poderia contemplar-me com excelências, com benesses, com personagens… A infância para mim foi fundamental em relação à leitura. A leitura realmente me deu um escopo novo, ampliou os meus horizontes, introduziu-me personagens que eu não sabia quem eram, passei a entendê-los e certamente passei a entender melhor o meu vizinho de vida, os meus familiares, as pessoas que eu conhecia, a partir dos personagens.
Os rapazes liam outros livros que não eram bem os mesmos livros que liam as meninas. Havia uns que todos liam. Mas lembro-me, por exemplo, do Salgari, que nunca saiu de Itália mas que escrevia sobre África e sobre o Ártico, as florestas, o Corsário Negro… Mas também de alguns autores que a Nélida cita e que eu também li em miúdo. O Karl May…
Eu ia mencioná-lo… E que também nunca foi à América!

Tiago Couto/Observador
Como o Salgari, que nunca saiu de Itália. E o May era alemão. E sabe que era uma das leituras do Hitler…
É, ele era meio bandido. Ele chegou a ser preso, não tinha uma reputação ilibada, era meio bandidão. Mas um autor extraordinário e um best seller. Ele ensinou-me uma coisa que se tornou emblemática na minha vida de autora. Há uma cena de um dos livros dele, ele inventou um personagem chamado Old Shatterhand, que era um alemão culto que decide conhecer a América e desbravar a América do Norte, e conhece Winnetou, o chefe dos Apaches, que era um ser emblemático, com uma moral impecável, um grande líder. Tornam-se grandes amigos e viajam juntos. Há uma cena que me ofereceu um novo postulado estético. Uma cena em que Old Shatterhand se vira para Winnetou e pergunta: “Winnetou, a que distância estão os bandidos [que eles estavam perseguindo], onde é que estão?” Winnetou sai do cavalo, desce, põe a orelhinha no chão e fica alguns minutos auscultando a terra. Aí levanta-se e diz: “Estão a tantos quilómetros, são tantos cavalos e um deles está montando um cavalo e, vou-lhe dizer uma coisa, não tem o braço direito!” E sabe porque é que ele deteta isso, do braço direito? Porque as pegadas do cavalo, da pata direita, que correspondiam ao braço direito do homem, eram mais ténues, mais suaves, ao passo que do outro lado eram mais pesadas. Para mim, ensinou-me que nada é impossível em literatura.
Melhor que a inteligência artificial…
Você pode inventar tudo, e esquecer… Acho que numa cena do William Faulkner ele esquece e põe um cavalo com três patas… Você pode esquecer, na voragem da criação, mas o importante é que o arrebatamento continue, a história prossegue.
No fundo os livros, sobretudo os grandes livros, são tratados sobre a natureza humana, sobre a condição humana, sobre a comédia humana, sobre a tragédia humana. Que também se repete nas mensagens religiosas, sobretudo na Bíblia, nos Evangelhos, onde vem também repetida essa natureza humana. Mas se a literatura, por um lado, repete, por outro lado cria. Estou-me a lembrar daquele livro fabuloso do Harold Bloom, “Shakespeare ou a Invenção do Humano”: os conceitos contemporâneos que nós temos de uma série de sentimentos – do ciúme, da paixão, do ódio, da ambição – vêm muito também das categorias de um grande autor como Shakespeare e, antes, de Homero e de uma série de clássicos, o Tácito, etc. Mas não há dúvida que a literatura também reinventa o humano.
Sobretudo é a literatura e nenhum outro campo sociológico ou psicológico, nada indica mais quem nós somos que a literatura. A literatura é capaz de ir por interstícios que nenhum outro assunto humano, nenhuma outra categoria…
… o cinema, às vezes…
Ah, não consegue! O filme, para começar, são duas horas. O cinema abasteceu-se da literatura…
E normalmente os grandes livros não deram grandes filmes…
Porque não tinham que dar! A literatura não é cinema. A literatura requer leitura. E os filmes abasteceram-se dos ditames, dos sentimentos da literatura, porque eles se propagam de tal modo que um personagem não é um indivíduo, é um arquétipo. Se ele é um arquétipo, ele arregimenta todas as noções éticas, estéticas, que nós somos, para poder compor um personagem. Esse personagem multiplica-se numa sociologia extraordinária. Por exemplo, se você for ler D. Quixote, do Cervantes, ele pode ser lido na China, mesmo numa tradução precária, porque ele tem uma dimensão tão percussora, tão extraordinária, que ele fica bem na China como ficaria bem em Homero, se ele pudesse retroagir.
Sim, aliás temos versões, até no cinema, do Kurosawa, de temas de Shakespeare…
O Kurosawa fez isso, mas aí é que está: o cinema abasteceu-se. O cinema não estaria onde está se não fosse a literatura. Aliás eu acho que a sociedade contemporânea está a dever esse reconhecimento. Daí a precariedade dos estadistas de hoje, porque não lêem…
Não lêem e não gostam de quem lê!
E não têm repercussão. Eles não se olham no espelho porque não se viram na literatura. Balzac, por exemplo, ele mesmo diz que ele é o registo civil da França. A França inteira está no Balzac. O próprio Homero – Homero, grande poeta, mas na verdade não é a poesia que o engrandece, é a narrativa. É a história que ele conta que lhe dá essa transcendência.
O Ulisses podia ser nosso contemporâneo. Já o Aquiles, não.
Porque o Aquiles só ganha grandeza numa circunstância. O Aquiles é um personagem pequeno. Ele torna-se grande quando mata Heitor. E leva o cadáver para a sua tenda, negando-lhe o tributo máximo do funeral. O pai vai lá, o Príamo, ajoelha-se diante dele e pede-lhe que devolva os escombros, o cadáver, e ele cede-lho. Nesse momento Aquiles ganha uma dimensão superior.
Aliás, Aquiles não morre. Não morre mas depois aparece-nos morto na Odisseia…
Isso é outra coisa, isso vai ser na Eneida. O grande facto da Eneida é que Eneias vai visitar o pai, vai em busca da figura do pai, Anquises, e abandona Dido. E Dido, a rainha, suicida-se por constatar que o seu amante a está deixando. Então a literatura… as pessoas nem sabem que são produto da literatura, que são filhos da literatura. A literatura realmente é pauta condutora.
E o Eneias é um refugiado político, que vai ser o fundador do maior império da História. Também é curioso isso, não é?
Isso é outra coisa, mas Eneias é um grande mito.
Voltando a esses personagens todos, também partilho muito esse seu amor e o seu gosto pelo Ulisses, pela Penélope, pela Circe, por Calipso. Encontramos aí modelos que podiam ser contemporâneos. Enquanto na Bíblia, por exemplo, há às vezes um circunstancialismo de narrativa que é arcaico … e aí também há uma grande diferença da Odisseia para a Elíada: o Ulisses é muito mais nosso, do nosso tempo…
Porque é muito menos bélico.
É mais versátil. Também é bélico, quando é necessário.
É bélico, mas de uma forma muito mais mítica, tem menos sangue.
É polimetis, tem muitos ofícios.
Mas conclua a pergunta que me vai fazer…
… que é exatamente a verdade e a continuidade e a realidade e a vida de todos estes arquétipos na modernidade, nos nossos dias.
As pessoas falam muito em modernidade. Eu acho que a modernidade é aquilo que chega a nós e é vigente porque não podemos dispensar. É uma pauta. É o epicentro do nosso ser, a modernidade, porque não podemos fugir da modernidade. Mas eu gostaria que nós todos pudéssemos valorizar mais os conceitos arcaicos, que pudéssemos entender que não podemos ser contemporâneos sem sermos arcaicos. Temos que trazer esse sentimento de que há uma sequência arqueológica das nossas vidas que vem de sempre e que nós não perdemos. Nós só somos quem somos, só desdobramos as nossas camadas arqueológicas, se pudermos entender quem foram os gregos.
A terra e os mortos, essa herança, claro. Nessas genealogias, por um lado, a literatura é universal: nós reconhecemo-nos nesses grandes autores, nos seus personagens, do Homero, de Shakespeare, de Cervantes. Mas também, por outro lado, há uma espécie de fragmentação, e a literatura também é nacional e também é identitária, ao mesmo tempo.
Isso sim, não precisamos de dispensar esse conceito. Ela identifica aquele grupo, mas, ao mesmo tempo, ela só tem essa visão identitária se puder ir além da fronteira nacional. Você vai descrever a sua aldeia. Mas a sua aldeia está ali porque ela é mítica, ela não é só aquela aldeiazinha.
Claro, a Nélida estava a falar do Faulkner. O Faulkner, naquele espaço territorial muito pequeno, tem o mundo todo.
Por exemplo, Machado de Assis: Machado de Assis é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele tem um sentido universal, os personagens dele, sendo brasileiros, sendo aparentemente nacionais, porque fortificam a língua portuguesa, o uso que fazemos da língua, aplicando a língua nos personagens, numa conceção estética maior, elevada, mas ele tem uma capacidade de compor um personagem universal. O próprio José de Alencar, no Brasil, traz à ribalta, à cena narrativa, a presença do índio, que não era valorizada no Brasil, na literatura do século XIX. Ele faz isso, não como Fenimore Cooper nos Estados Unidos fez. É muito diferente a abordagem dele do indígena, mas ele, inclusive, romantiza: Peri apaixona- se por Cecília, salva-a e vão morrer nas águas…
Mas o Cooper também romantiza um bocado. No “Último Moicano” também romantiza a figura do índio, o Moicano, que está com os ingleses contra o iroquês, que é o aliado dos franceses.
São veredas diferentes. Mas o José de Alencar traz o índio para a cena brasileira. Isso significa, a meu juízo, que deixa de ser nacional no melhor sentido. Libera o autor brasileiro para abordar o que seja. Como o Borges, na literatura hispano-americana, liberou o escritor hispano-americano para escrever sobre o que seja. Ou seja, o nacional, aquilo que se identifica com um pedaço de uma terra chamada pátria, é muito importante que tenha essa capacidade de voar. A literatura é alada. A literatura é uma jogral, está em todos os lugares, é vagabunda, no melhor sentido, no sentido francês…
E nós portugueses, de certo modo, temos uma identidade pela viagem – no fundo os nossos dois grandes poetas, o Camões e o Fernando Pessoa, são poetas da viagem. A viagem é fundamental. A viagem e até uma certa fragmentação, uma certa diluição no mundo, no universal, apanham muito bem a tal característica da nação. Até que ponto os poetas simbolizam melhor a nação? O que é que a Nélida acha? No Brasil isso verifica-se, na literatura brasileira?
Eu não concordo com isso. Primeiro, esse conceito valia antes da eclosão da narrativa. Como falámos há pouco, Homero é extraordinário, não pelo poeta que é, mas pelo narrador que é. Mas naquele tempo e nos séculos seguintes, a poesia não tinha com quem concorrer porque não havia grandes narrativas. Então a narrativa ganha depois um espaço poderoso. Como falei há pouco, Balzac explica uma nação. A nação francesa talvez esteja inteira no Balzac…
Até nas suas contradições políticas…
Mas tudo! Tem que ser. Você não pode harmonizar os personagens. Não há suavidade, nós todos somos feitos de discórdia, as narrativas são discordantes entre si. Então você vê: quem pode competir explicando o declínio napoleónico, a história da sociedade russa, com o Tolstoi? O Tolstoi é extraordinário. Ele explica uma nação.
Mas se a Nélida pegar por exemplo no Dostoiévski…
Explica a consciência humana.
…os personagens de Dostoiévski já são mais do século XX que do século XIX.
Pode ser que sim, mas ele introduz uma coisa extraordinária na consciência europeia, que é a consciência. Com “Crime e Castigo”. Quando eu li “Crime e Castigo”, eu tinha 13, 14 anos, eu tive um choque tão grande, que eu senti que estava saindo da minha casa, do meu casulo, do que a minha família tão amada me ensinou… Ou seja, não me disseram que havia consciência. Eu fui descobrir o conceito de consciência, que não me veio através do que eu estudei com as freiras alemãs, com o cristianismo, me veio através do Dostoievsky. Fiquei paralisada. E isso até hoje… Não é que me persiga, porque me faz bem. Eu quero sofrer com a minha consciência, eu agradeço quando a consciência bate à minha porta e diz: Nélida, cuidado. Porque nós não estamos acabados. Nós somos seres que aprendemos todos os dias… e herdamos preconceitos, somos terríveis. Então a gente poder fazer essas emendas nas nossas vidas é importante.
Mas daí, eu não concordo. Eu acho que a poesia até a um século determinado falava das nações porque a narrativa não falava.

Tiago Couto/Observador
Estava agora a lembrar-me dos historiadores romanos, sobretudo do Tácito, acima de todos, que tem já uma grande consciência, até da tragédia, na História…
Ele já lida com personagens. Não lida com a palavra.
Suetónio lida com personagens, Tácito lida com personagens, Lívio…
Plutarco, por exemplo: são personagens, é como se eles fossem um embrião da narrativa. Heródoto, por exemplo, Tucídides, aqueles grandes campos visuais das batalhas…
Das batalhas e sobretudo daquela ideia de uma certa melancolia perante a tragédia humana. Eu li muito o Tucídides, até porque fez parte da minha tese de doutoramento. É essa consciência, por um lado do tempo, por outro lado da tragédia e da própria guerra…
Voltando agora aqui à literatura portuguesa, eu costumo dizer que o Eça e o Camilo são dois grandes narradores dos portugueses e com uma certa continuidade. O português de Lisboa ainda tem muitas características queirosianas.
Porque vocês, grandes países da Europa, abandonaram o mundo rural há relativamente pouco tempo.
O Camilo é que é o homem da ruralidade…
O próprio Eça tem uma nostalgia do rural. Ele é um homem sofisticado, cosmopolita mas…
Mas o Aquilino é um homem do rural…
Eu vou-lhe dizer uma coisa, vou fazer uma confissão como narradora: eu acho extraordinário você ter uma liana forte com o rural. O rural é o ninho dos mitos. A cidade ainda não inventou os grandes mitos.
O rural, hoje em dia, foi praticamente destruído. A província tornou-se uma imitação, com toda esta coisa da modernidade, dos centros comerciais. Descaracterizou muito…
Mas também a cidade, a cidade não tem nem tempo para criar mitos. Ela é tão veloz, é tão fugaz, eu não sinto que haja um campo para as grandes tragédias nas cidades.
Mas o cinema conseguiu fazer isso…
Você não invente cinema, eu estou a falar de literatura! O que resta ao cinema é isso, é o que o cinema sabe fazer…
O cinema acaba por ir sempre para a literatura porque tem um guião…
Sim, tem um roteiro. Um roteiro o que é? É uma sequência humana, é uma história de gente com carne e osso. Você não pode atribuir-lhes abstração porque elas não têm. Elas têm desespero, têm desconhecimento, o que é que nós somos? Quem é que nós somos?
Voltando à cidade, estava a pensar nos grandes escritores brasileiros de cidade, o Rubem Fonseca e o Nelson Rodrigues.
… Vamos falar do Machado de Assis. É um grande escritor. Não estou a dizer que não possa falar deles, mas estou falando daqueles génios da literatura brasileira. Machado de Assis tem uma coisa extraordinária: ele foi o primeiro grande escritor das Américas – América hispânica e luso-brasileira – foi o primeiro a tratar a cidade, e faz da urbe, que é o Rio de Janeiro, a grande metáfora do Brasil. Numa época em que os hispanos eram costumbristas, preocupavam-se com os costumes da sociedade, descreviam as florestas, os acidentes geográficos, porque eles eram talvez filhos e herdeiros de culturas extraordinárias, dos Incas e dos Maias, que tinham sido, não destruídas, mas abafadas pelos colonizadores. Então o Machado vem com uma absoluta novidade: erguer a cidade como um panteão dos humanos. Eu fico tão impressionada com Machado de Assis, desculpe o meu entusiasmo… Mas eu estou chamando a atenção para ele porque eu digo uma frase, e costumo repetir: se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Eu sempre digo, o Brasil não pode falhar tanto, porque Machado, tendo existido, é uma prova de que somos capazes…
De maturidade nacional.
Exatamente. E veja que ele morreu em 1908 e até hoje estamos discutindo se, no D. Casmurro, a Capitu traiu ou não traiu o marido… Tornou-se a questão mais nacional no Brasil, fundacional! É uma coisa extraordinária, a elegância da sua linguagem, como esse homem, autodidata, gago, pobre, negro ou mulato, como queiramos dizer, pode erguer uma obra tão excecional.
Mas é curioso, por estar agora a falar do tema do D. Casmurro, o tema da traição feminina, do adultério feminino, é um tema muito recorrente na literatura europeia da época: Tolstoi, na “Ana Karenina”, “Madame Bovary”, do Flaubert, “Effie Brest”, do Fontanne e “O Primo Basílio”, do Eça. São quatro sobre o tema. E a mulher é condenada em todos estes romances.
O personagem D. Casmurro só vai contar a história do adultério depois que todo o mundo morreu. Não há um só personagem da época dele que pudesse contestar a afirmativa dele. É muito interessante, muito subtil isso no Machado.
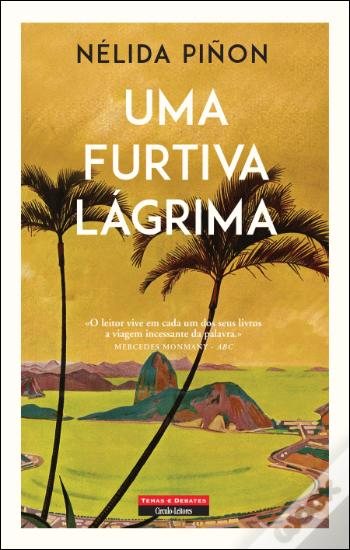
Nélida, já agora, falando um bocadinho no seu último livro que saiu agora aqui em Portugal – e penso que saiu aqui primeiro que no Brasil – “Uma Furtiva Lágrima”.
Foi uma edição do “Temas e Debates” do Círculo de Leitores, um atrevimento dos meus amigos portugueses, que publicaram primeiro do que no Brasil. No Brasil vai sair agora em Abril.
Tem uma reflexão que achei muito interessante, por várias razões, e até porque passei próximo em situações desse tipo, que é a sua reflexão sobre a morte.
Foi. Porque foi a primeira vez que eu disse que estava condenada. Deram-me uma sentença de morte. Deram-me seis meses de vida. E eu comecei, como disse no outro dia numa palestra (a Pilar del Rio adorou), a organizar a minha morte de uma forma estética. Mas na verdade ética também, mas enfim. Porque foi uma coisa terrível ter vivido isso. Eu vivi, dizem que com uma grande serenidade e coragem, mas depois eles foram vendo o erro. Mas isso leva-te para o limite que você não conhecia. Você passa a ser uma outra pessoa dentro desse quadro mortal e você vai conhecer a sua finitude. E nós não fomos educados para conhecer a nossa finitude. Então é uma experiência – eu não diria traumática, ou é traumática, sobretudo talvez para uma mulher mais nova, um homem mais novo, ou deixando filhos… Eu não tive esse problema de me preocupar com a educação de filhos. Eu acho que isso teria acentuado o meu desespero.

Tiago Couto/Observador
Sim, deixar reféns, de certo modo…
Eu vivi isso e acho que foi uma experiência pedagógica, educativa, sobretudo porque ainda estou aqui, três anos depois, graças a Deus. Mas eu quis escrever isso porque todo o mundo diz que eu sou muito vitalista, muito entusiasmada e tudo o mais, então de repente eu mostrei que essa mulher passou por essa vicissitude e penso ter saído talvez um pouquinho melhor como pessoa. O médico é que foi terrível, é que agiu de forma irresponsável.
Essas experiências, quando sobrevivemos a elas…Temos a frase do Nietzsche, “o que não me mata torna-me mais forte”, que é uma frase que, voltando às nossas leituras de infância, aquele famoso “Conan the Barbarian” repete todo o tempo essa frase do Nietzsche: o que não me mata torna-me mais forte.
E ele se alquebrou antes…



















