O mundo mudou muito em apenas um ano, com a pandemia do novo coronavírus e o seu impacto, mas há coisas que Ambrose Akinmusire não vê mudar há há demasiado tempo. Há um ano, em entrevista ao Observador antes de um concerto no festival Jazz em Agosto, aquele que é um dos grandes trompetistas e músicos de jazz destes tempos defendia: “Um afro-americano nos Estados Unidos da América de certo modo sente-se caçado, tem um medo que é inseparável do que significa ser afro-americano. Não é possível evitar esse medo. É a minha realidade e é natural que seja refletida na música”.
Na altura, Ambrose Akinmusire explicava que não andava a fazer temas vincadamente políticos, como “My Name Is Oscar”, “Rollcall for Those Absent” e “Free, white and 21” — todos eles sobre negros vítimas de racismo e de violência policial —, por intenção conscientemente político-ideológica, panfletária. Por um lado, não os conseguia evitar: “O Oscar Grant foi assassinado a dez minutos do sítio onde estou a viver agora. Por vezes passo pela casa em que ele vivia enquanto conduzo, é algo que está muito presente na minha vida, que é real”, dizia. Por outro, não via mudanças suficientes nos últimos anos para deixar de achar o tema pertinente e atual: “As coisas não estão a mudar com os anos, pelo menos o suficiente. Ainda são discussões relevantes para se ter hoje”, considerava.
Dez meses volvidos, o instrumentista e compositor de 38 anos nascido em Oakland, na Califórnia, tem coisas novas para dizer: editou um álbum novo, mais um pela editora e instituição do jazz Blue Note Records, tem as memórias da última atuação em Portugal para partilhar e está a ver o mundo de olhos pregados na morte de George Floyd, a discutir o racismo que ele não esquece há muito: “Trump? Nós, os negros, andamos a ser mortos desde que chegámos aqui”, proferia há dez meses.
A conversa, é claro, passou — e até começou — pelo novo álbum editado por Ambrose Akinmusire este mês, que começa com um solo de trompete que nos lembra que só a beleza do jazz seria arma suficiente para destruir ideias supremacistas. Chama-se on the tender spot of every calloused moment, escrito mesmo assim, em minúsculas, e com temas que homenageiam logo no título figuras do jazz como Roy Hargrove e Roscoe Mitchell.
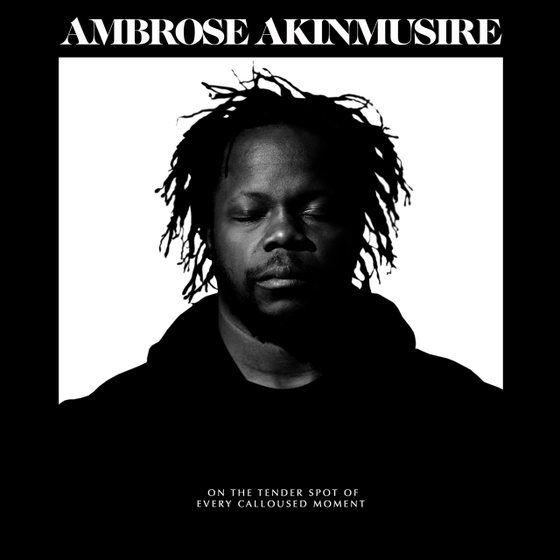
Capa do novo disco do músico norte-americano Ambrose Akinmusire
O álbum prossegue em grande nível: além do trompete, tocado como poucos como Ambrose o sabem tocar, tem Sam Harris a mostrar-se em grande forma no piano, Harish Raghavan com ginga no contrabaixo e Justin Brown a confirmar-se como baterista de exceção. E tem excertos melódicos quase baladeiros, de uma contenção admirável (como o arranque primeiro só com trompete, depois com trompete e piano, no início de “Yesss”), que se vão misturando com um jazz mais acelerado, quase frenético, com melodia e contra-melodia, com notas que só tiram o chão ao ouvinte no momento certo, com vozes a cantar em idiomas étnicos africanos (por exemplo, yoruba) ou com uma doçura desarmante em inglês (em “Cynical sideliners”).
Todos os 48 minutos do disco fazem-se de jazz tocado por um grupo cada vez mais coeso, com a classe e mestria a que Ambrose Akinmusire e os músicos de que se rodeia habituaram os ouvintes do género nos últimos anos. Mas se o trompetista confessa que pensou neste disco como um regresso musical às origens, uma espécie de sequela do seu primeiro álbum editado pela Blue Note (When the Heart Emerges Glistening, de 2011), é notório que a experiência acumulada em estúdio e em palco e que a rodagem de uma banda que não começou a tocar junta só agora fizeram desta uma outra música. Alinhada no tom do arranque de carreira, mas aprimorada nos detalhes. Evocativa de um jazz melódico e a piscar o olho ao que hoje já chamamos “clássicos”, mas nova na ponte que estabelece entre o jazz clássico e antigo e o futuro que se continua a procurar hoje no género.
Enfim, on the tender spot of every calloused moment é mais um daqueles álbuns para colocar na lista dos “melhores dos últimos anos”, não é só mais um daqueles que colocamos na lista de “melhores do ano”. É muito simplesmente mais um álbum de Ambrose Akinmusire, o seu quinto em estúdio e o seu sexto como líder de uma formação jazzística, porque tem um, A Rift in Decorum: Live at the Village Vanguard, gravado ao vivo.
Foi a partir da sua terra natal, Oakland, que Ambrose Akinmusire atendeu a chamada do Observador, para uma conversa que partiu do novo disco mas que teria de inevitavelmente culminar nas tensões raciais que são hoje tema de discussão na América e no mundo. E foi também aí que Ambrose Akinmusire explicou como tem pensado sobre que forma podem ter hoje os blues, já não enquanto género musical cantado de voz rouca e tocado de guitarra elétrica em punho mas mais genericamente, enquanto banda sonora das dores, das vidas, dos escapes e dos modos de expressão afro-americanos.
Foi também nesse momento que fez a ligação: os blues como modo de expressão do que é ser-se negro e americano também se ouvem hoje nos protestos antiracistas — e o sucesso da reivindicação dessa dureza não passa apenas por mudanças sociais. “Não sei se o blues é sobre mudança. É sobre estar magoado. E eventualmente a expressão [pública] disso pode mudar as coisas, mas trata-se sobretudo de estar ferido e querer ser respeitado. Às vezes quando entras numa luta, podes não ser tão forte quanto a outra pessoa ou podes estar a lutar sozinho contra dez, mas lutas só pelo respeito, para seres ouvido, para dizeres: não me vais empurrar assim tão facilmente. E da próxima vez que me tentares fazer isso, vais lembrar-se disto”.
Ambrose Akinmusire: “Trump? Nós, negros, andamos a ser mortos desde que chegámos aqui”
“Às vezes estás a lutar por respeito…”
Na última vez que conversámos, contou-me sobre a sua vinda anterior a Portugal, para um concerto na Casa da Música, no Porto — bom, também sobre arquitetura da cidade e o peixe fresco que comeu num restaurante junto ao hotel em que ficou. Um ano depois, pergunto-lhe: como foi a visita a Lisboa no último ano, para o festival Jazz em Agosto? Não falemos já do concerto, só da visita.
Foi divertido! Levei parte da minha família comigo. E aqueles músicos que foram comigo tornaram-se mesmo uma banda, cada vez mais. Acho que chegámos um dia antes, aproveitei para comer comida brasileira muito boa, bebi bom café, foi simpático. Foi uma boa oportunidade para simplesmente respirar um bocado. Ainda fomos à praia e tudo.
E que memória guarda do concerto? O final foi muito especial: convidou as pessoas para o palco, devido à chuva [o concerto era ao ar livre] e o público foi-se sentar todo à volta de si e da banda enquanto tocavam. Muitas pessoas comentavam à saída que foi um final algo mágico. Como é que foi para si, que estava a tocar?
Sim, foi excelente. Foi ótimo ter a oportunidade de ter aquela troca e aquela comunicação com as pessoas, poder tê-las tão perto e à volta de nós, poder tocar olhando para os olhos de tantas pessoas e ver as reações. E foi mesmo incrível aquilo ter acontecido quase no final da última peça [do concerto], porque aquela peça é sobre violência e brutalidade policial e tudo aquilo torna-se sempre um pouco emotivo e comovente no bom sentido. Gostei muito de ver tanta energia a sair da banda e ver o retorno de toda aquela energia ser-nos devolvida. Lembro-me que me apetecia fazer outro concerto a seguir.
Teve oportunidade de conhecer ou conviver com músicos portugueses nesta última estadia, de jazz ou de outros estilos musicais? Por exemplo, com alguns músicos que estavam confirmados para o mesmo festival?
Não nesse dia, mas sou amigo de alguns músicos portugueses. Já toquei e já convivi com pessoas daí ao longo dos anos. Não me lembro da primeira vez que fui a Portugal, mas já foi há muito tempo… Lembro-me de tocar com um pianista que na verdade morreu entretanto. Teve um acidente enorme e estranho, caiu de um penhasco.
Bernardo Sassetti, certo?
Exato. A coincidência mais estranha foi que toquei em Portugal no dia em que ele morreu e fizeram um anúncio a informar as pessoas sobre isso no início do meu concerto. Foi talvez há uns cinco ou seis anos [foi há oito, em 2012]. Mas bom, sim, sou amigo de músicos daí.
Nas anotações do disco há um texto do Archie Shepp [histórico saxofonista norte-americano ainda vivo, com 83 anos, que tocou por exemplo com John Coltrane] onde ele fala de como o seu enteado notou que enquanto os dois ensaiavam juntos, “Mr. Akinmusire” estava sempre a tocar mesmo fora de horas. E escreveu: “Lembrei-me imediatamente do John [Coltrane] quando tocava com o [Thelonious] Monk no Five Stop”. Como é que se sentiu ao ler isto?
É incrível. Pedi simplesmente ao Archie que escrevesse umas anotações, que escrevesse qualquer coisa — fosse o que fosse — porque é importante não apenas agradecermos aos nossos mestres como garantir que as pessoas sabem que eu me relaciono com aquele tipo de música. Não venho aqui tentar mostrar que estou a fazer alguma coisa nova. Estou a dar seguimento à mensagem e à energia que o Archie e outros mestres, inclusive que vieram antes dele, fizeram.
Fiquei honrado que ele tivesse aceitado e já teria sido ótimo se tivesse escrito só uma frase. Sentir-me-ia exatamente da mesma maneira, honrado, mas ele escreveu um texto tão bonito que ainda lhe estou mais grato.
Ele escreveu uma coisa sobre o vocalista que canta em Yoruba que me deixou curioso: referiu que o Ambrose lhe tinha dito que a intenção inicial era que fosse o seu pai a cantar e não um outro vocalista convidado. Houve alguma razão para que isso não tivesse acontecido?
Não, nenhuma. Bom, o meu pai não canta, teria apenas falado [feito spoken word]. O que este vocalista está a fazer é bastante complexo, porque não é apenas Yoruba, é toda uma mistura de idiomas. O meu pai de facto fala Yoruba, claro, porque é nigeriano, veio de Lagos. Mas não houve motivo nenhum especial: apareceu outra hipótese e fiquei feliz com ela, foi só isso.
Há um ano dizia que tinha voltado a Oakland há pouco tempo. Agora lançou um disco que também é inspirado pela experiência de voltar à cidade onde cresceu e sentir-se até certo ponto um estranho. Pode partilhar algumas experiências ou momentos específicos em que tenha sentido essa estranheza, em que tenha percebido o quanto a cidade mudou desde que saiu?
Não há propriamente experiências específicas, é mais a experiência de viver no seu todo. A cidade está simplesmente diferente. Parte disso está relacionado com o tempo, claro. Não se trata só de estar diferente, trata-se de como mudou. E está diferente porque as pessoas com quem cresci, que considerava uma comunidade, já não estão cá, nos espaços onde essa comunidade existia. E não vejo propriamente uma comunidade nova, coletiva.
É como voltar a casa e já não ter casa, porque foi totalmente reconstruída e as coisas mudaram de sítio. Não sei se isto é muito abstrato mas quando me mudei comecei a pensar em marcos, em coisas que são permanentes, como um lago, uma estátua ou um teatro, coisas que não mudam mesmo quando tudo o resto está a mudar à sua volta. Essa foi na verdade a razão pela qual pensei em fazer uma sequela e regressar ao tom desse álbum [When the Heart Emerges Glistening, de 2011], mas de forma diferente.
Também assume a importância de ter estudado e refletido sobre os blues para o resultado final deste disco — e como se debateu com o que significam os blues atualmente, o quanto isso está relacionado com a ideia de resiliência. Pode elaborar um pouco? O que aprendeu com esse estudo, o que concluiu?
É um assunto sobre o qual me é muito difícil falar. Como é que se fala sobre algo em que se está a pensar mas que ao mesmo tempo também se está a viver enquanto se pensa? As emoções e as ideias estão permanentemente a ser atualizadas, uma pessoa está sempre a mudar mediante as circunstância e acho que isso também é parte do conceito amplo dos blues. É aliás parte importante disso, saber que as coisas e o modo como as vês estão sempre a mudar — isso liga-te também às pessoas que experienciaram os blues em outras alturas.
Estou mesmo a tentar perceber a fundo o que são e a tentar expressar o que podem ser os blues hoje. Foram atualizados tão rapidamente, são-no todos os dias, hora a hora, minuto a minuto, a cada segundo. O que aqui tentei fazer foi perceber as emoções que lhes estão associadas e a forma como são vividas e expressar isso sonicamente. E, para os respeitar, fazê-lo de maneira tão pura e crua quanto possível.

▲ Ambrose Akinmusire tem 38 anos, nasceu e cresceu em Oakland, na Califórnia, e acabou de lançar o seu sexto álbum (quinto de estúdio)
D. R.
Há um ano falávamos da forma como gente que parte musicalmente de géneros diferentes tem-se juntado tanto por estes anos, tem esbatido diferenças de origem, raça e proveniência através da música. Fora da música, parece-lhe que isso tem-se refletido em sociedades mais respeitadoras da diferença, genericamente? Até pelo momento em que estamos a viver, nota essa celebração das misturas musicais também em melhores convivências sociais?
Não sei se isso que vemos na música mudou alguma coisa… sei que é algo muito bonito, mas acho que é muito complicado perceber ao certo o que mudou ou o que não mudou socialmente quando se está no meio de uma luta. Estás no meio de uma luta e alguém te pergunta: as coisas estão melhores do que na última vez? No meio de uma luta, é complicado… [risos]. O mundo está insano e aqui em Oakland as coisas estão uma loucura, portanto é difícil perceber os efeitos das artes neste momento.
Porém, acho que os artistas estão a juntar-se às discussões e a relacionar-se com a sociedade de uma maneira que não víamos antes. Não consigo dizer se isso aconteceu com artistas de determinados géneros ou cenas musicais, se aconteceu genericamente com artistas de todos os estilos.
Talvez seja um dos aspetos benéficos de tudo isto.
Há outra coisa aqui. Por um lado temos agitação social e por outro lado temos uma coisa chamada quarentena. Estas duas coisas impulsionam as pessoas para espaços opostos — a agitação social e coletiva promove a criação de comunidades e a quarentena estimula o individualismo. É difícil perceber exatamente para onde é que vamos.
Mas, sem querer soar piroso, tudo isto está relacionado com os blues dos afro-americanos, com querer que alguém sinta a tua dor e te oiça. Na verdade não é isto que quero dizer, não acho que as pessoas se importem com ter outros a ouvi-las, esqueça o que disse. É mais isto: contares a tua história sabendo que há um limite à capacidade de compreensão dessa história. Acho que isso é visível agora, ainda que pelo menos o mundo esteja de um modo geral a mostrar empatia com estas histórias [de racismo]. Isso é um passo necessário para qualquer noção de coletivo, porque é impossível existir um coletivo ou haver boas coexistências e colaborações sem haver empatia. Basicamente, é fundamental veres de onde é que a outra pessoa vem, qual é a história dela.
Foi pai há não muito tempo. Isso mudou de alguma forma o modo como vê acontecimentos como a morte de George Floyd? Fê-lo temer mais que o presente e o futuro possam não ser suficientemente diferentes do passado que tem vindo a denunciar e a criticar?
Esta vai ser uma resposta engraçada mas tenho de dizer que não, porque acho que já não poderia estar mais preocupado do que estava antes de ser pai. Acho que já estava no limite máximo da minha preocupação [risos]. A minha mãe vem do Mississippi e cresceu com segregação racial, o meu pai veio da Nigéria e eu sou nascido e criado em Oakland, na Califórnia. Ah, e o meu primeiro mentor era um Black Panther. Portanto, estou nisto há muito tempo.
Acho que as minhas preocupação já não podiam ser maiores. Mas ando a pensar noutras coisas, talvez valorize a minha vida e a minha família de uma forma um pouco diferente. Tive de pensar em estratégias quanto a como devo participar nestas coisas e como devo dizer estas coisas [mesmo em casa], mas fora disso os meus receios e as minhas preocupações continuam a ser exatamente os mesmos.
Gravou e lançou o tema “My Name Is Oscar”, em homenagem de Oscar Grant, em 2011, bem antes do aparecimento do Black Lives Matter e já agora da eleição de Donald Trump. Como é que sente que esse movimento está a evoluir ao longo dos anos? E está otimista quanto à possibilidade de este período poder influenciar aquilo que serão os próximos anos?
É uma pergunta complicada, porque o Black Lives Matter é muito recente. Se quiser considerá-lo um movimento… não sei. Pergunto outra coisa: as coisas parecem estar a ser diferentes agora, desta vez? Talvez estejam diferentes aqui nos Estados Unidos e acho que isso está relacionado com o Presidente. Acho que ele cometeu um grande erro ao atacar os media, portanto os media já não têm obrigação de ser neutros, já podem assumir posições como a Fox News [estação assumidamente conservadora] faz há mais tempo. Agora, a maioria dos media está do lado das pessoas. Portanto, agora estão a ver tudo, a ver a agitação social e a tomar parte dos protestos.
Isto torna tudo um pouco diferente. Se pensarmos nos anos 60, quando o Martin Luther King e todas aquelas pessoas andavam a ser espancadas, alvejadas, mortas e pulverizadas com água, vimos isso tudo em imagens dos media, estavam lá a tirar fotografias e a gravar vídeos. Mas agora os media já não estão só a fazer isso, estão a chamar à razão o Presidente, estão a dizer que as coisas estão erradas e que os problemas existem. Isso torna tudo muito diferente, mas não é só isso que contribui para que o que está a acontecer pareça diferente do passado: o mundo inteiro está a ver o que se passa, a opinar. Vimos o George Floyd por todo o mundo, nas manchetes dos media de todo o mundo. Isso é diferente e é muito importante. Antes, os vídeos passavam mas as histórias não eram manchetes, não tinham destaque. Só que agora os media estão zangados, estão a posicionar-se e acho que isso é ótimo e ajuda a dar força às pessoas que estão a protestar.
O facto de a história se ter espalhado e chegado a tanta gente fá-lo acreditar em grandes mudanças?
Não sei se é de mudança que se trata. Ando a pensar nisso por estes dias, também. Não sei se os blues [a resiliência afro-americana perante as dificuldades] versam sobre mudança. Acho que são sobre ser e estar magoado. Isto pode levar a que um dia as coisas mudem, mas do que se trata é de pessoas que estão magoadas e querem respeito. Às vezes podes estar numa luta e não ser tão forte quanto a outra pessoa, ou estar a lutar sozinho contra dez, mas estás a lutar à mesma por respeito, apenas para seres ouvido, apenas para dizeres: não vais empurrar-me assim tão facilmente, da próxima vez que tentares vais lembrar-te que não é assim tão fácil. Não se trata apenas de ganhar, às vezes é só sobre respeito e sobre pessoas que estão e foram magoadas.














