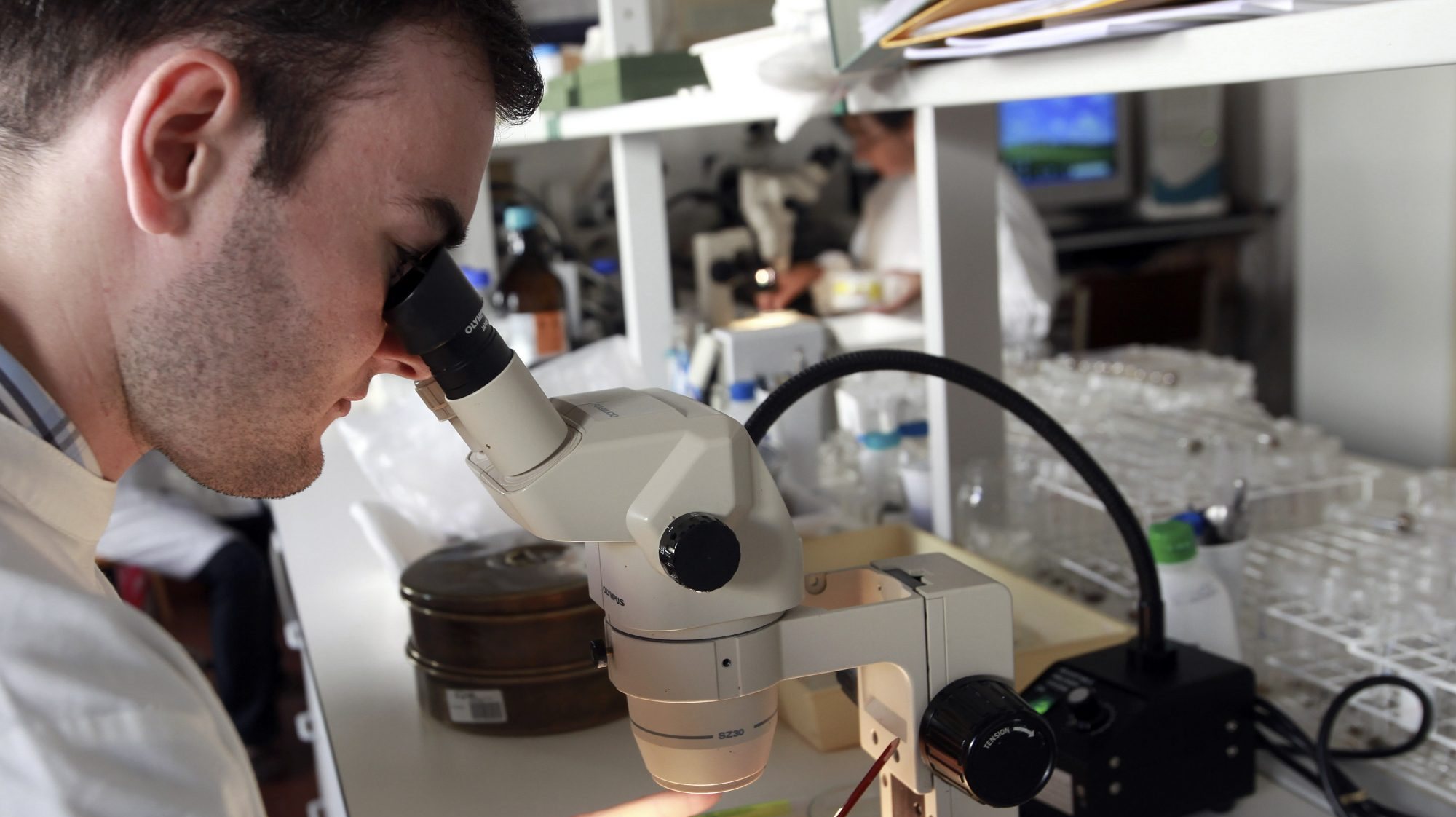Lembrar-se-á o leitor dos tempos em que juntávamos um grupo de amigos à roda de uma mesa, partilhando uns copos e uma boa conversa. Pois imagine que nesse grupo se discutia a possibilidade de conceberem de raiz um projeto educativo e haveria tema para longas e apaixonadas horas de discussão. Alguns defenderiam que as crianças passam tempo demais na escola, outros o contrário, porque nas férias esquecem tudo; que os adolescentes não sabem operações matemáticas complexas e que já não leem os clássicos; que seria preciso dar-lhes noções de ecologia, literacia financeira, segurança rodoviária. Numa palavra, tudo e o seu contrário.
É habitualmente neste tom que decorrem as discussões sobre educação em Portugal. À volta da mesa, real ou virtual, a conversa é ateada pelos episódios mediáticos da indisciplina escolar ou da falta de vigilantes nos recreios e exacerbada pela análise catastrofista do futuro do planeta ou da dificuldade de as jovens gerações conquistarem um lugar estável no mundo laboral. E perante os problemas, reais, de indisciplina, insegurança e fragilidade do planeta e da economia, a reação habitual é tomar decisões a medo, o que equivale quase sempre a não tomar nenhuma. A incerteza paralisa-nos. Ficar onde sempre se esteve é mais confortável.
Esse é o problema da educação em Portugal. Temos muitas escolas, mas poucos projetos educativos. Temos muitos professores, mas precisamos ter mais dos que são capazes de assumir desassombradamente a sua missão, que é educar gente para o futuro. Pessoas que usem as suas competências, não para ensinar aquilo que qualquer aluno aprenderia por si, ou noutro sítio, mas para pensar. Pensar dá trabalho. Pensar em conjunto é difícil. Exige tempo, disponibilidade, capacidade para ouvir o outro. Mas é exatamente para isso que os professores são necessários. O verdeiro trabalho do professor é de natureza intelectual – é complexo e exigente se for bem feito, é desgastante e repetitivo se for feito nesse registo.
De que se ocupa então um professor? À volta da mesa, alguém o dirá e outros repetirão: dos alunos. É verdade, mas não é toda a verdade. Para poder realmente ocupar-se dos alunos, de todos os alunos, o professor deve ter a capacidade e a possibilidade de intervir nos domínios em que pode tomar decisões. O currículo e a avaliação são a sua matéria-prima. O professor é um artífice.
Em Portugal, deram-se nos últimos anos passos decisivos no sentido de incentivar as escolas a gerir o currículo e a avaliação dos alunos (a dos professores é todo um outro tema). A publicação do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (julho 2017) e das Aprendizagens Essenciais (julho 2018), assumindo o desafio de gerir diferentes perceções e perspetivas, veio abrir um caminho irreversível na autonomia da escola e na flexibilidade que deve marcar as suas opções. Em sentido contrário ao slogan que os sindicatos gritavam há uns anos atrás – “Diz não à flexibilidade e à polivalência” – o que a sociedade parece agora apreciar, e mais do que isso, necessitar para a sua plena realização, é autonomia e flexibilidade.
Mas quer uma quer outra só existem enquanto ferramentas quando são efetivamente usadas. O que o ME veio dizer é que o core curriculum que se encontra prescrito a nível central nas tais aprendizagens essenciais – a que os seus detratores chamam “currículo mínimo” – é operacionalizado por decisão dos professores, em conjunto e de forma contextualizada. Esta é aliás a recomendação dos documentos de política curricular internacional, nomeadamente do recente The Future of Education and Skills 2030 da OCDE (2018).
O que é bom. Parece que finalmente se reuniu algum consenso nacional e internacional sobre o modo como o currículo deve ser desenvolvido na escola. Então estamos todos de acordo? À roda da mesa ter-se-ão finalmente entendido? Pois, parece que não.
O estudo avaliativo de 130 escolas desenvolvido pela equipa da Professora Ariana Cosme (FPCE – Porto, set 2018) sobre a implementação do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular em 2017/18 deixa a nu as principais fragilidades da experiência. A síntese do impacto da experiência sobre as 130 escolas que fazem parte do universo da amostragem identifica nos professores envolvidos uma “tendência curricular (sic) defensiva perante desafios, de algum modo inéditos, como alguns daqueles que os professores passaram a ter de enfrentar”.
Na análise SWOT, categoria «Trabalho docente», o aspeto positivo mais realçado – “Desenvolvimento profissional dos professores através da reflexão dos modelos pedagógicos incentivando-se o reforço da intencionalidade pedagógica e alterando uma visão rígida acerca do currículo e das práticas pedagógicas” – mereceu uns escassos 9,27%.
Na mesma categoria, o aspeto considerado mais negativo representa 24,85% das perceções dos professores. E consiste em quê? “Alteração e aumento da carga horária dos docentes onde acresceu a dificuldade em articular os horários dos professores dada a falta de crédito para momentos de reflexão e partilha sobre formas de articular vertical e horizontalmente.”
Tudo somado, é isto: num contexto de autonomia inédito num país onde a influência do ME continua a ser a matriz dominante, os professores são desafiados a poder pensar a escola em novos moldes. Talvez alguns deles se encontrassem na tal roda de amigos. Imaginará o leitor que há um ambiente de entusiasmo, de exaltação criativa? Pois engana-se. Em vez disso, uma “tendência curricular (sic) defensiva”. Os desafios não o são na verdade, são uma espécie de obstáculos que os professores “passaram a ter que enfrentar” (não seria superar?). E, apesar de 9% ter registado um aumento de sentido no que fazia (a “intencionalidade pedagógica”) e “alterado a visão rígida do currículo e da sua ação” (são eles quem o diz), quase um quarto dos envolvidos está descontente: tiveram que trabalhar mais horas e, mais do que isso, não conseguiram conciliar horários porque o tempo passado nestas reuniões não era creditado.
A escola é uma instituição milenar que tem resistido ao tempo. Só isso já deve merecer a nossa admiração, num mundo em que tudo muda tão rapidamente. Também por isso, a necessária atualização da escola aos novos contextos sociais e culturais deve ser lenta e cuidadosa, até ao dia em que se torne imperativo “virar o barco”, introduzindo uma mudança profunda e radical. Até esse dia chegar, e em prol de uma inovação duradoura, é preciso saber responder com exatidão a duas perguntas essenciais que são frequentemente amalgamadas de forma indistinta, impedindo os profissionais educativos de tirar boas ilações e com isso antecipar e gerir o rumo que a escola deve seguir:
- Quais os conhecimentos, as competências, as atitudes e os valores de que os alunos precisam para enfrentar e moldar o mundo?
- De que modo é que os sistemas educativos como um todo (das orientações do ME à decisão que o professor toma naquele momento preciso diante daquele aluno concreto) podem desenvolver eficazmente esses conhecimentos, competências, atitudes e valores?
Se a conversa tivesse chegado a este ponto, o mais provável é que houvesse algum consenso na resposta à primeira pergunta. Alguns lembrariam o papel primordial e insubstituível das famílias no desenvolvimento deste arsenal educativo. Mas todos concordariam no essencial com o horizonte traçado por documentos internacionais e concretizado de forma muito próxima pelos projetos educativos locais – entre outros, o conhecido Horizonte 2020, lançado por 8 escolas jesuítas da Catalunha em 2009, tem tido enorme repercussão em Portugal. No essencial, esse horizonte educativo encontra-se assim plasmado na formulação recente do já citado documento da OCDE: “Para navegar na incerteza, os alunos precisam de desenvolver a curiosidade, a imaginação, a resiliência e a autorregulação; terão de saber respeitar e apreciar as ideias, as perspetivas e os valores do outro; de aprender a lidar com o insucesso e a rejeição, e de avançarem na adversidade. A sua motivação para aprender terá que ir além de conseguir um bom emprego e um bom rendimento; precisam de assegurar o bem-estar dos seus amigos e da sua família, da sua comunidade e do planeta.” Alguém discorda?
Se a primeira resposta parece consensual, a segunda traz dúvidas, dificuldades e dissensões. Mas só com essa resposta podem as escolas oferecer às famílias um projeto consistente de educação para os seus filhos. É fácil dizer o que pretendemos alcançar, mas é difícil, muito difícil, dizer como vamos fazê-lo.
Sentando-me à mesa da conversa, proponho para a escola um processo de inovação a que chamo transformação. Este é o conceito essencial, que se opõe ao da substituição. Não se trata de substituir práticas inoperativas ou os manuais por tablets. A verdadeira transformação tem uma matriz curricular que se concretiza num novo paradigma:
- Da utilização da tecnologia à mediação tecnológica da aprendizagem;
- De um conhecimento isolado a um conhecimento partilhável e integrado;
- Dos conteúdos obrigatórios aos conhecimentos significativos;
- Da aprendizagem por justaposição à aprendizagem em contexto de projeto;
- Do compromisso com o cumprimento ao compromisso com o saber;
- Do trabalho dos adultos no centro das decisões organizativas às necessidades dos alunos no centro das decisões;
- Da aplicação dos professores num projeto à implicação dos professores com um projeto.
A transformação supõe que cada comunidade educativa procure e defina a sua identidade. Um projeto educativo sem identidade é uma “marca branca” – pode ser útil, mas nada o distingue. É mais um.
Na verdade, nada disto acontece por acaso, por boa vontade ou por intuição. Tal como o vejo, um processo de transformação tem de abranger de modos diferentes toda a comunidade educativa – auscultar famílias, envolver os alunos e capacitar as equipas pedagógicas, professores e técnicos, que dão o impulso vital à sua concretização. Sem isso, não será possível dar um único passo no caminho da renovação. Se não for possível envolver as pessoas, não valerá sequer a pena pensar em começar.
Como ponto de partida, é preciso detetar as fragilidades, a começar pela incapacidade de cumprir todas as tarefas que a sociedade pede à escola e um desconfortável sentimento de frustração com os resultados que estamos a produzir.
Como horizonte à chegada, é preciso pormo-nos de acordo sobre o perfil de aluno que queremos formar, traduzido em áreas de desenvolvimento e respetivos indicadores de aprendizagem.
Pelo caminho, há que subordinar as decisões organizativas e pedagógicas a esse fim, e escolher as que queremos implementar. Todas as que não concorrem para que o aluno tenha um papel ativo na concretização da sua aprendizagem, com vista a uma autoconsciência avaliativa, devem ser descartadas. Só isso permite avançar com coerência. E depois, é necessário criar as condições propícias a que a aprendizagem decorra como decidimos. Há várias hipóteses – há que ser criativo e ousado – mas estas são as que me parecem mais eficazes:
- os alunos agrupam-se de forma flexível em tempos e espaços versáteis, para potenciar uma aprendizagem significativa, em contextos reais ou simulados, e partilham em produtos finais diferentes aquilo que aprenderam;
- são guiados nesse itinerário por roteiros criados para o efeito, que articulam as diferentes áreas disciplinares e se complementam por meio de trabalho disciplinar e projetos transversais;
- são acompanhados por professores-tutores (que formam uma equipa pedagógica) que os ouvem e conhecem, promovem o seu crescimento interior e estimulam para uma vida solidária e atenta ao mundo, criam condições para que desenvolva o pensamento crítico e a capacidade para resolver criativamente questões mais complexas, trabalha-se a autonomia, a responsabilidade, a cooperação.
Neste paradigma, o tempo dilata-se, não há pressa nem dispersão. A agitação decresce, ganha-se concentração e foco. O saber adensa-se, torna-se real, palpável.
Uma escola assim é possível. E ainda que na roda de amigos a discussão se eternize, não podemos ignorar que há neste momento em Portugal 987.695 alunos (dados de 2018) a frequentarem o ensino básico, alunos que têm entre 6 e 15 anos (ou mais, em tantos casos de insucesso). Perante eles, devemos perguntar-nos com seriedade: que experiência de aprendizagem queremos que tenham? Que escola temos para lhes oferecer?
(o título deste artigo adota para o contexto do ensino básico e secundário o conceito desenvolvido por António M. Feijó e Miguel Tamen no excelente estudo publicado pela FFMS e lucidamente intitulado A Universidade como deve ser).
Diretora Pedagógica do Colégio Pedro Arrupe
‘Caderno de Apontamentos’ é uma coluna que discute temas relacionados com a Educação, através de um autor convidado.