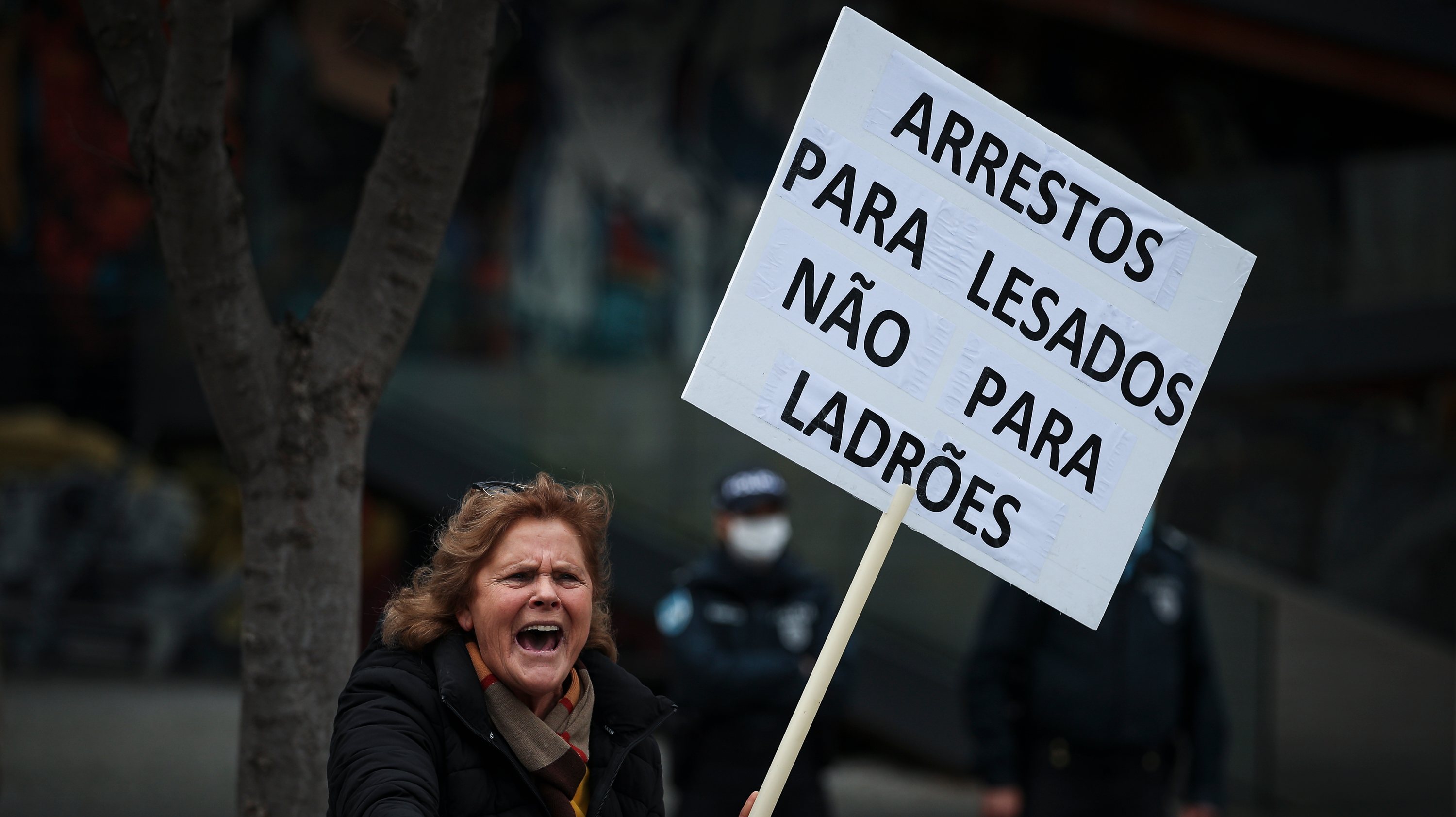1 Pela segunda vez (formalmente falando), o Presidente da República está a tentar promover um pacto regime para uma reforma da Justiça. Deu o pontapé de saída na abertura do Ano Judicial mas é muito pouco provável que tal (boa) intenção surta algum efeito concreto junto do poder legislativo — como Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu indiretamente este sábado no encerramento do XII Congresso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), que decorreu no Funchal, ao dizer que a Justiça está em “quinto, sexto lugar, sétimo lugar” da lista de prioridades do poder executivo.
Partindo do princípio (que me parece unânime) de que é mesmo necessário uma reforma para combater os atrasos, a ineficiência da administração da Justiça e, mais do que tudo, o sentimento da comunidade de que há dois pesos e duas medidas no acesso ao direito, resta saber por que razão a mesma não é efetivada.
Estive na Madeira e ouvi o desembargador Manuel Soares (líder da ASJP) a fazer uma boa síntese da situação em que estamos:
- “Os políticos desconfiam dos juízes e dos procuradores do Ministério Público: são corporativos, têm uma agenda de domínio da política pela justiça, não têm legitimidade democrática, têm demasiado poder, são incontroláveis.”
- “As magistraturas desconfiam dos políticos: desejam diminuir a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público.”
- “Juízes, procuradores do Ministério Público e advogados, esses desconfiam todos uns dos outros.”
A desconfiança é total e absoluta. E isso ajuda a explicar uma parte do problema. Mas não explica tudo.
2 Começo por dizer qualquer reforma da Justiça (que tem as propostas do think tank da ASJP e da SEDES como bons pontos de partida) só fará sentido se contribuir para um aprofundamento do nosso sistema democrático. Não tenho dúvidas de que tal aprofundamento passa, entre outros pontos, por um reforço do Poder Judicial, de forma a atenuarmos o excesso de poder do Executivo e do Legislativo face ao Judiciário.
Só assim é que conseguiremos ter um equilíbrio real entre os três pilares do Estado Moderno e o verdadeiro sistema freios e contra-freios que caracteriza as democracias liberais.
Este é o meu ponto de partida — e é precisamente aqui que surge o primeiro grande problema. Porque é o Governo e o Parlamento (o Poder Político) que detém (e bem, obviamente) a competência legislativa para alterar a situação, logo o reforço do Poder Judicial só acontecerá se os políticos aceitarem perder poder. E é aqui, como diz o povo, que a porca torce o rabo.
Recorrendo novamente à caricatura do desembargador Manuel Soares, a questão não reside na desconfiança entre os operadores judiciários, nem na visão que as magistraturas poderão ter do poder político.
A causa que interessa reside precisamente na desconfiança histórica que o poder político democrático tem das magistraturas. É uma questão estrutural do atual regime: os seus pais fundadores sempre desconfiaram dos juízes e dos procuradores, pela sua longa colaboração na construção e na solidificação do Estado Novo. Uma desconfiança que passou a fazer parte do ADN do regime e é independente das diferentes gerações de políticos.
A isso acresce o problema, também ele estrutural, que a democracia tem com a autoridade, nas suas diferentes vertentes. Ora, a autoridade é algo sagrado para a administração da Justiça.
3 É esta a causa histórica da preponderância do Executivo perante o Judiciário, nas suas mais variadas vertentes. Por exemplo, os tribunais e o Ministério Público não têm independência ou autonomia financeira. Todos os anos têm de esperar para ver o que lhes calha no Orçamento do Ministério da Justiça — uma pasta que, salvo raras exceções, sempre esteve longe das prioridades do poder político.
Por outro lado, e aqui entra o primeiro paradoxo do excesso de garantismo construído à sombra do complexo com a autoridade e a desconfiança sobre as magistraturas, as lei processuais assentam num sistema de possibilidades quase infinitas de contestação das decisões das duas magistraturas, o que criou um verdadeiro monstro burocrático e inoperacional nas diversas jurisdições, nomeadamente a penal, como expliquei aqui e aqui.
Já disse e repito: a iniquidade que existe atualmente no sistema penal, em que o acesso ao Direito é seriamente restringido em função da capacidade económica do arguido. Só alguém com poder financeiro pode, efetivamente, usufruir de todos direitos que a lei lhe confere. Querem maior exemplo de injustiça do que este?
E tudo por causa dos dois problemas que referi acima: a desconfiança sobre as magistraturas e o problema com a autoridade no exercício dos poderes públicos.
Temos mesmo de terminar de vez com o complexo relativo à memória história do Estado Novo. Só assim poderemos avançar enquanto comunidade. Já passaram quase 50 anos. Já chega.
O poder judicial — os juízes e os procuradores — estão disponíveis para avançar. É altura de o poder político avançar, mesmo que os advogados não estejam preparados para isso.
4O complexo com a autoridade levou ainda a um outro paradoxo. De natureza diferente do primeiro. Se no ponto anterior falei da inoperacionalidade e da ineficiência provocada pelo excesso de garantismo, agora está em causa o interesse do próprio Estado em que a jurisdição que trata das queixas dos cidadãos e das empresas contra os poderes públicos pura e simplesmente não funcione.
Estou a falar do segundo grande cancro da Justiça portuguesa: os atrasos da jurisdição administrativo-fiscal que superam em média os sete anos. Enfatize-se que é uma média, o que significa que há processos que chegam a durar entre 10, 15 anos ou 20 anos. São números que colocam Portugal mesmo no fundo da tabela da União Europeia.
Significa isto que um cidadão que queria reclamar contra uma decisão do fisco, da administração pública ou do Governo, por exemplo, pode esperar em média mais sete anos. Como também quer dizer que no direito tributário, e na prática, não exista prazo de prescrição para o Estado perseguir fiscalmente um cidadão ou uma empresa que não tenha pago os seus impostos.
Já não é só o facto de ser necessário depositar uma caução (no valor da alegada dívida existente) para poder contestar judicialmente uma decisão do Fisco, já não é só o facto de existir a inversão do ónus da prova no processo tributário (validada pelo Tribunal Constitucional), é também o facto de a lei reconhecer que o Estado pode perseguir fiscalmente uma pessoa individual ou coletiva até à eternidade e mais além.
Para ir ao bolso do contribuinte, as liberdades e garantias não prevalecem — ou não podem prevalecer, atenta a incapacidade do poder político para reformar o Estado e adaptar a despesa público àquilo que o país produz anualmente?
O facto dos atrasos na jurisdição administrativo-fiscal se arrastarem há muitos anos demonstra uma iniquidade do próprio Estado totalmente inaceitável. Pior: indicia que o poder político tem interesse em que as coisas se mantenha assim – o que é totalmente inaceitável em democracia.
5 Tudo isto não significa que o poder judicial não tenha responsabilidades ou esteja isento de culpas no estado atual da Justiça. Não está, sem dúvida alguma. E não está devido a questões concretas.
Desde logo, persiste (e, provavelmente, persistirá eternamente) um conservadorismo das magistraturas que as faz desconfiar de mudanças importantes. Desde logo, o avanço tecnológico. Os juízes têm sido um obstáculo e uma resistência regular à modernização tecnológica desde que a mesma se iniciou a sério no início da década de 2000.
É verdade que podemos dizer que o poder político ainda não esteve disponível para investir numa verdadeira rede informática da Justiça — que junte tribunais, Ministério Público (MP) e órgãos de polícia criminal dentro do mesmo chapéu informático em termos de software. Mas qualquer avanço que se tentou fazer, por exemplo, na digitalização de todo o tipo de processos encontrou sempre resistências — mais na magistratura judicial, do que na do MP — do que abertura. Como se está a ver novamente no que diz respeito à Inteligência Artificial.
Tanto é assim que o processo penal, por exemplo, continua, na prática, a ser tramitado em papel — o que não deixa de ser uma aberração no ano de 2023.
Outra área é a da autoregulação — que foi, e muito bem, referida por Álvaro Beleza, presidente da SEDES, no Congresso da ASJP. Essa é uma área essencial para que as magistraturas se credibilizarem. E aqui há mixed feelings.
Por um lado, temos o exemplo positivo da proposta de alteração de estatuto dos magistrados judiciais aprovada recentemente pelo Conselho Superior da Magistratura — e que partiu de uma proposta do conselheiro Henrique Araújo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).
O objetivo é simples: acabar com as portas giratórias entre o poder judicial e o poder político e os respetivos ‘vasos comunicantes’ entre políticos e magistrados que afetaram no passado a independência do poder judicial. É uma boa ideia que merece o aplauso geral.
6 O outro lado da moeda é o que está a acontecer com a Operação Lex no STJ — e que tem sido acompanhado de perto pelo Observador, como pode ler aqui e aqui.
Depois do Conselho Superior da Magistratura ter decidido em dezembro de 2019 expulsar Rui Rangel da magistratura e aposentar compulsivamente Fátima Galante, uma decisão histórica que atenuou o tremendo impacto que a Operação Lex teve na imagem do poder judicial, o jogou parece ter mudado.
De forma incompreensível, o STJ anda a tomar decisões contraditórias que podem acabar com a separação do processo que levará a dois julgamentos em tribunais diferentes, com o risco elevado de um imbróglio jurídico que levará anos a deslindar e, até, de decisões opostas sobre os mesmos factos.
Contudo, o pior que podia acontecer agora era transparecer a ideia de que o a cúpula do poder judicial está a proteger o desembargador Vaz das Neves — o único que, a de acordo com a última decisão judicial, deve ser julgado no STJ. Seria terrível e mais uma machadada na credibilidade dos juízes, se tal acontecesse…
7 Termino, regressando ao início. Como poderá o país pensar na exequibilidade de uma reforma efetiva da Justiça se olharmos para as escolhas que António Costa fez para a área da Justiça — e, pelo menos, uma delas com a conivência de Marcelo Rebelo de Sousa?
Refiro-me à substituição de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República. Perante um trabalho de sucesso e com resultados claros para mostras, o primeiro-ministro preferiu inventar (com a cumplicidade de Marcelo, repito) uma regra de mandato único.
Tudo para escolher — e é isso que interessa para este artigo de opinião — Lucília Gago. Percebe-se, ao fim de quase cinco anos de mandato da procuradora-geral da República, qual foi a ideia: escolher uma pessoa apagada, ultra-discreta, com medo da própria sombra e que não exista no espaço público.
Se olharmos para a escolha de António Costa para o Governo de maioria absoluta, temos uma dupla confirmação: Catarina Sarmento e Castro também prefere a obscuridade dos gabinetes do Ministério da Justiça a fazer uma verdadeira prestação de contas.
Com uma ministra da Justiça que foi escolhida para pouco ou nada fazer — e que, na realidade, nem sequer consegue resolver problemas do quotidiano, como uma greve de funcionários judiciais que já dura desde janeiro e que anda para regulamentar uma lei importante para os tribunais há um ano — como podemos pensar sequer em reformas da Justiça?
Bem podemos alegar que não estamos na mesma situação da Polónia, da Hungria ou até da nossa vizinha Espanha, em que a tentativa de captura do poder judicial por parte do poder político é algo real.
Eu não estaria tão otimista face ao futuro. Infelizmente, receio que aquilo que o PSOE e o Podemos estão a fazer em Espanha (ver aqui, aqui e aqui), algum dia repetir-se-á em Portugal. Veremos o que futuro nos reserva.
O Observador acompanhou o XII Congresso da Associação Sindical dos Juízes Portugueses a convite desta associação
Siga-me no Facebook (@factoserigor e @luis.rosa.7393), Twitter (@luisrosanews) e Instagram (@luis.rosa.7393)