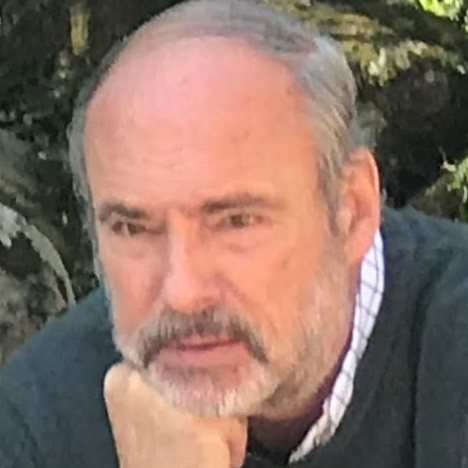Porque é que as crianças mais amadas que a Humanidade já “produziu”; aquelas que têm mais atenção e mais dedicação dos pais; as que têm mais oportunidades e mais agenda na atenção que eles lhes dão; que têm mais escola, mais formação, mais empenho e investimento, pensados sempre em função do seu futuro; que têm mais brinquedos, mais informação e mais mundo; as que são melhor conhecidas pelas suas famílias; as que têm entre elas e os seus professores as parcerias mais estreitas e cooperantes que jamais terão existido; e aquelas que vêem ser mais respeitados os seus direitos e as suas necessidades são as que, ao mesmo tempo, mais vezes merecem das mães alertas para a fragilidade da sua auto-estima (querendo elas referir-se às inseguranças que os filhos manifestam, à ideia que “têm de ser bons” nalguma coisa, que precisam de fazer a diferença seja no que for, ou ao modo como, quando eles passam de casa para o mundo, parecem encolher-se, perder um lado astuto e guerreiro e deixar de se perceberem únicos, inimitáveis e singulares entre todos os outros)? Não deveriam estas crianças ter, sobretudo, auto-estima? Não deveriam ser, sobretudo, seguras de si próprias? Não deveriam ter, sobretudo, a tenacidade, a garra ou a bravura de destrinçar um caminho e de o construírem e percorrerem?
É claro que se pode sempre argumentar que a auto-estima frágil de muitas crianças é uma criação das mães. Uma espécie de efeito colateral das redes sociais ou dos seus grupos de WhatsApp . Mas eu não acho que os pais sejam tão instrumentáveis assim. A (baixa) auto-estima teve o condão de traduzir num conceito intuitivo aquilo que os pais sentem, pressentem, ou “apanham no ar” quando os filhos desistem ao primeiro insucesso. Quando procrastinam os assuntos em que sentem que não são bons. Quando os vêem viver entre a exigência e a aflição. Ou quando se refugiam das frustrações através de atitudes mais “preguiçosas”, mais “engonhantes” ou diletantes, até. A verdade é que os pais, na sua sabedoria atenta, sentem que acabam por existir discrepâncias grandes demais entre aquilo que entendem que os filhos valem e as escorregadelas que os separam dos seus sucessos. Ou, mesmo, da forma como fraquejam ou fracassam. E que essas discrepâncias se explicam pela forma como, quando se trata de mostrarem aquilo que valem, os filhos acabam por ficar aquém daquilo que todos esperam. Não que lhes falte inteligência e um ror de outras competências. Mas falta-lhes uma espécie de “factor X”. Ficam-se pela mediania. Por causa da baixa autoestima.
É verdade que sempre disse que os nossos filhos valem menos do que aquilo que supõem e mais do que imaginam que são capazes. Mas eles valem muito, sem quaisquer margem para dúvidas. Só que nós acabamos todos a encaminhá-los para a ideia que aos 16, aos 17 ou aos 18 eles já têm que saber aquilo em que são bons. Sem “escola de vida”. Sem experiência. Sem direito a irem atrás das suas convicções. Como se fosse possível aprenderem sem errar. Ou saberem que são bons a andar de bicicleta antes, sequer, de se sentarem num selim. Um absurdo! Isto é, somos nós que, sem darmos por isso, lhes damos os argumentos para que a sua auto-estima se “constipe”. Como se lhes exigíssemos aquilo que nós próprios não tomamos como coordenadas para nós: que sejam bons! Inequivocamente bons. De preferência, “os melhores”. Bons não tanto no sentido da bondade ou do bom carácter. Mas bons no que diga respeito às suas realizações profissionais. Bons aos 7 ou aos 8. Bons aos 13 ou aos 14. Mas bons! Como se tivessem de ser os melhores do mundo nalguma coisa. E não chegasse serem “só” o melhor do mundo para alguém. Ou, mais precisamente, para nós.
Mas se isto é o que se passa com os nossos filhos antes dos 20, depois dessa idade, mal eles acabam o percurso escolar, e o seu sucesso se mede por uma autonomia clara que se traduza em empregabilidade, na capacidade de terem uma casa, uma vida e terem, também por causa disso, dinheiro (de preferência, por mais que nunca o assumamos, muito dinheiro), a baixa auto-estima parece perpetuar-se. Porque, muito depressa, eles sentem que não terão assim tão depressa o dinheiro suficiente para que o seu crescimento se dê do nível dos pais “para cima”. Acontece que essa autonomia dos filhos, mesmo quando têm formações académicas consequentes, quase nunca se dá, de forma segura e desafogada, entre os 20 e os 30. E, em muitos casos, muito por culpa do salário médio (que vai baixando, em suaves prestações), essa poucochinha autonomia vai-se aproximando, devagar, dos 40 anos! Com os nossos filhos a sentirem-se, desde o secundário, um bocadinho workaholics. E, consoante os diversos momentos das suas vidas, por causa disso mesmo, mais ou menos à beira dos ataques de pânico e do burnout. Em relação ao que fazem. Àquilo que tem sentido para eles. A nós. E a tudo o que acaba por ser importante para as suas vidas. Que parece nunca ser compatibilizável com aquilo que têm de fazer para serem bons. Como se a baixa auto-estima com que crescem se perpetuasse. E parecesse esperar que os filhos deles nasçam para que as realizações de que eles venham a ser capazes os consigam sossegar diante da forma como a baixa autoestima dos pais inquinou o seu crescimento. Como terá conturbado o nosso.
Sempre achei interminavelmente ternurento aquilo de que uma mãe é capaz de fazer numa festa de Natal. Quando o grupo das crianças onde algum dos seus filhos está entra, timidamente, no palco, com cada uma delas a olhar para o escuro duma forma que oscila entre o curioso e o assustado, e – uma a uma – as mães daquelas crianças se levantam e, no meio do escuro, acenam, esbracejam e quase saltitam, enquanto deixam escapar um lágrima por entre um sorriso rasgado de orelha a orelha para que, finalmente, mesmo que ninguém lhes pergunte, expliquem que “aquele menino ali (no meio de muitos, de acordo?…)… “é o meu filho!”. Regra geral, a família do lado sorri, condescendente, para que, mal entre novo grupo de crianças, as posições se invertam e a festa continue. A verdade é que eu acho isto duma ternura sem fim mas, sempre que eu entro num palco, faço o mesmo. Procuro, entre os estranhos todos que estão ali, as “minhas” pessoas. Leio-as nos olhos. Vou sentindo a reação que têm à medida que eu “actuo”. E, no fim, se os aplausos forem muito calorosos, olho para elas pelo canto olho para perceber se estão orgulhosas comigo. No fundo, no fundo, eu “actuo” para elas. É claro que eu agradeço muito que elas não se ponham aos saltos na plateia a acenar e a dizer que são “minhas”… Mas enche-me a alma que se reconheçam em mim de cada vez que dou mais um passo. Porque é isso que me dá força para dar o passo seguinte. O que eu quero dizer é que se as sentir orgulhosas em relação a mim o carinho das outras pessoas não me faz sentir “bom”. Só mesmo porque o orgulho de quem me ama me dá a segurança que mais nada seria capaz de me trazer. O orgulho é “a unidade de medida”! É isso que quero dizer. O orgulho. O reconhecimento. A admiração. A humildade. Precisamos de sentir o orgulho por nós de quem nos ama para que sejamos capazes de ultrapassar as derrotas, suportar a frustração, medir forças com o medo e “ir lá”! Com ganas de ganhar. Vendo bem, o orgulho ajuda-nos a compreender as pessoas sem as quais não somos capazes de vencer as nossas dificuldades. Enquanto a vaidade parece servir para afirmarmos, sempre “em bicos dos pés”, as nossas vitórias sobre as fraquezas os outros.
Nós damos, todos os dias, motivos para que os nossos filhos entendam que nos orgulhamos deles. Basta, aliás, que sintam a graça do nosso olhar quando os olhamos de frente. Mas, depois, parecemos andar numa competição pateta que os leva a supor que são as suas realizações e a forma como nos alimentamos delas que os fazem sentir “bons, singulares ou “diferentes”. Mesmo quando eles não são tão bons filhos como nós exigiríamos ou se tornam demasiado egocêntricos, egoístas ou até, mesmo, vaidosos, por via da forma como mascaram a baixa auto-estima. Será que escolheríamos os nossos amigos por essas características tão “cheias de si” com que os nossos filhos mostram, a léguas de distância, uma auto-estima “amachucada”? Se não, porque é não damos importância à unidade de medida do amor e os queremos a trabalhar, todos os dias, para a auto-estima, quando é o nosso amor por eles que os torna, humildemente, capazes de vencer na vida?…