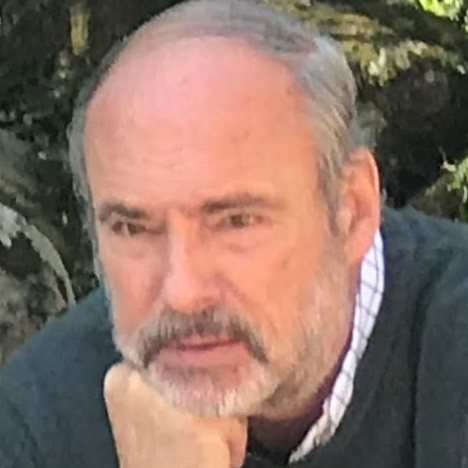Quando alguém me pergunta se se pode feliz sozinho eu hesito. Sempre! Toma-me o desconforto de imaginar que esperem que diga que sim. Por mais que saibam que eu acho (mesmo!) que “o topo de gama” da felicidade não é bem o amor entre um bebé e a sua mãe. Mas um amor adulto. Que crie “a mesma” confiança básica e “a mesma” ingenuidade entre duas pessoas, despidas de quaisquer “logo se vê”. Onde aquilo que as separe se esbata em nome do “mais que tudo” que não deixa de as ligar. E onde o eu e o tu, de tão próximos, pareçam dois num só.
Um amor adulto — onde duas pessoas sentem ser o brilho dos olhos uma da outra e onde se chega à paz interior de se sentirem nuas, por dentro, numa relação em que ambas souberam conquistar o arrojo de serem transparentes, quase sem querer, uma para a outra — não é impossível; claro. Mas é raro. Muito, (mas, mesmo) muito raro. Não seremos todos infelizes, claro. Mas estamos longe de ser felizes como desejamos. Da mesma forma como não estarmos em guerra não significa que estejamos em paz, não seremos infelizes nem sempre quer dizer que somos felizes.
A esmagadora maioria das pessoas não é feliz! Ou porque entrou numa relação iludida pela ingenuidade de se sentir “pequenina” e, sobretudo, com a esperança que não precisar de falar para que lhe dessem colo, e mimo. E a acalentassem. E desvendassem os seus desejos; sem que fosse preciso, sequer, imaginá-los. Ou porque entrou numa relação com a esperança de que a pessoa que ama se transforme; por sua causa e para si. Ou de ser ela a transformá-la conforme entenda. E isso venha tardando em demasia. Ou porque, por inexperiência ou por vaidade, entrou numa relação e foi ficando, sem coragem nem argumentos para se recriar e “renascer” para o amor. Ou porque uma relação se pode ter transformado na forma consentida de viver a sexualidade a que sinta ter direito. Etc.
Considerando um amor adulto, e excluindo o amor pelos filhos, a maioria das pessoas não é feliz! Construiu uma relação de amizade. Às vezes, colorida. No resto do tempo, engonhante, insossa e enfadonha. Ou construiu uma relação que se foi burocratizando. E, hoje, “o meu marido” ou “a minha mulher” parecem ser equiparáveis a “reservas de propriedade” mas não a um estado de alma que crepite sem parar. Ou construiu uma “terra de ninguém” entre duas pessoas que vivem juntas e separadas, ao mesmo tempo. E que se conhecem e se estranham, um pouco mais, todos os dias.
De toda essa imensa multidão de pessoas que não são felizes, talvez a maior parte não se sinta (ou não se diga, simplesmente) nem feliz nem infeliz. Por mais que um estado desses seja uma infelicidade branda, que carcome o coração. Dessacraliza o amor. E o transforma numa espécie de slogan. Numa convenção que se aceita. Ou na arte da prestidigitação. Mas em nada mais. Uma relação de duas pessoas que não se amam – e, antes, que se aturam – é uma solidão que se vive com companhia. A desesperança. Um morrer antes da morte. Devagarinho.
É por tudo isto que, em muitos momentos, me pergunto porque é que não somos mais verdadeiros com a nossa infelicidade.
Há dias em que me parece que construímos uma ideia muito “cor de rosa” da felicidade. Como se ela fosse um Euromilhões celestial que nos cai no colo, de surpresa. Uma dádiva, sem direito à dúvida, para a qual não se trabalha. Um presente de Natal com que, ainda, mal se sonhou. E não pode ser!
Há dias, em que acho, também, que, independentemente da nossa infelicidade, as histórias que continuamos a contar aos nossos filhos são, como aquelas que nos contaram, ao longo do tempo. Histórias, de todas as vezes, com um final feliz. Por mais que o “e foram felizes, para sempre” das histórias seja passado. (Não é?…)
Há dias em que me parece, até, que somos todos “especialistas” em felicidade, tantos são os momentos em que opinamos sobre as infelicidades dos outros. E, se for preciso, em que reafirmamos que somos felizes; um ror de vezes. Só porque “nunca discutimos”. Que é uma ideia muito querida à geopolítica. (Como a paz e a felicidade andam mais vezes de braço dado do que pode parecer, se não estamos em guerra, vivemos em paz. Logo, somos felizes. A “fórmula” será essa.) Mas também não é verdade!
Há dias em que acho que nunca ninguém nos disse, de forma clara e cristalina, que são precisos muitos contraditórios para que se chegue à felicidade! Contraditórios connosco mesmos. Contraditórios fora de nós. Contraditórios entre aquilo que nos desliga com tudo o mais que nos puxa para unir, para “costurar”, para compreender e para pensar. Nunca ninguém nos disse que, de início, somos só duas pessoas que se atraem. Para que, muitos contraditórios mais tarde, nos transformemos em pessoas que se amam. (São precisos muitos contraditórios para se chegar à paz. Será mais ou menos assim.)
E há dias em que sinto que nunca ninguém nos ajudou a perceber que, quando se trata dum amor adulto, nunca se trata de duas pessoas serem “muito felizes” ou “pouco felizes”. A felicidade é uma estranha comunhão. Muito “ou tudo, ou nada”. Ser feliz implica ser singular e viver uma eternidade que se repete. E é por isso que, em todos os nossos “somos felizes”, nem sequer cabe a intenção, na primeira pessoa, de “fazermos feliz” a pessoa que amamos.
Porque é que não podemos ser verdadeiros para com a nossa infelicidade? Podemos; sim! E devíamos sê-lo (também)! Sobretudo se, com isso, trabalharmos mais para o amor. Ligando e ligando, e ligando e ligando! Duma forma que faça com que a vida, a determinado momento, pareça simples e fácil. E quase óbvia. E a felicidade, assim, quase nos surja como uma dádiva. Que, mal se dá por ela, nos faz sentir em paz. A paz é sempre um exercício de inteligência. Que não cede ao impulso, ao egocentrismo e ao desprezo. É um “façam a paz”; obstinado e persistente, de duas pessoas que lutam por se amar. E que não respiram fundo e “adormecem” quando se sentem felizes; mesmo que seja só num bocadinho. E não presumem que, uma vez felizes, serão felizes para sempre.
Quando alguém me pergunta se se pode ser feliz sozinho tenho, quase sempre, a sensação que esperam que diga que sim. Talvez porque queiram muito ver validada uma felicidade que, no fundo, saibam não ser a sua. Eu acho que podemos estar em paz connosco próprios estando sozinhos. E termos a liberdade de pensar sem atalhos nem barreiras. (Basta que sejamos verdadeiros.) E acho que podemos ter a serenidade dos sábios, o entusiasmo próprio dos sagazes e a ingenuidade de quem confia. E — estando, igualmente, sozinhos — que nem todos “temos” de ceder ao azedume. E que se pode ter na esperança um planalto de onde se pode ver mais longe. Pode-se ter-se paz e estar-se bem. Mas ser-se feliz sozinho – desculpem… – não! “Exige” mais alguém.
Parece-me que entendo aquilo que as pessoas, quando se amam, querem dizer quando falam do seu desejo de envelhecerem ao lado do “seu amor”. O sonho de envelhecer ao lado de uma pessoa só tem sentido quando, ano após ano, a sentimos mais bonita, mais admirável e mais amável. Mais… inigualável! Mais cúmplice com o desejo de a desejarmos. Mais parte de nós. E “mais que tudo”. Sendo nós e ela duas paz na mesma paz.
Tirando um amor adulto, não há como, envelhecendo, sermos jovens. Não há como ser, ao mesmo tempo, mais passado e mais futuro. Não há como ser feliz sozinho!