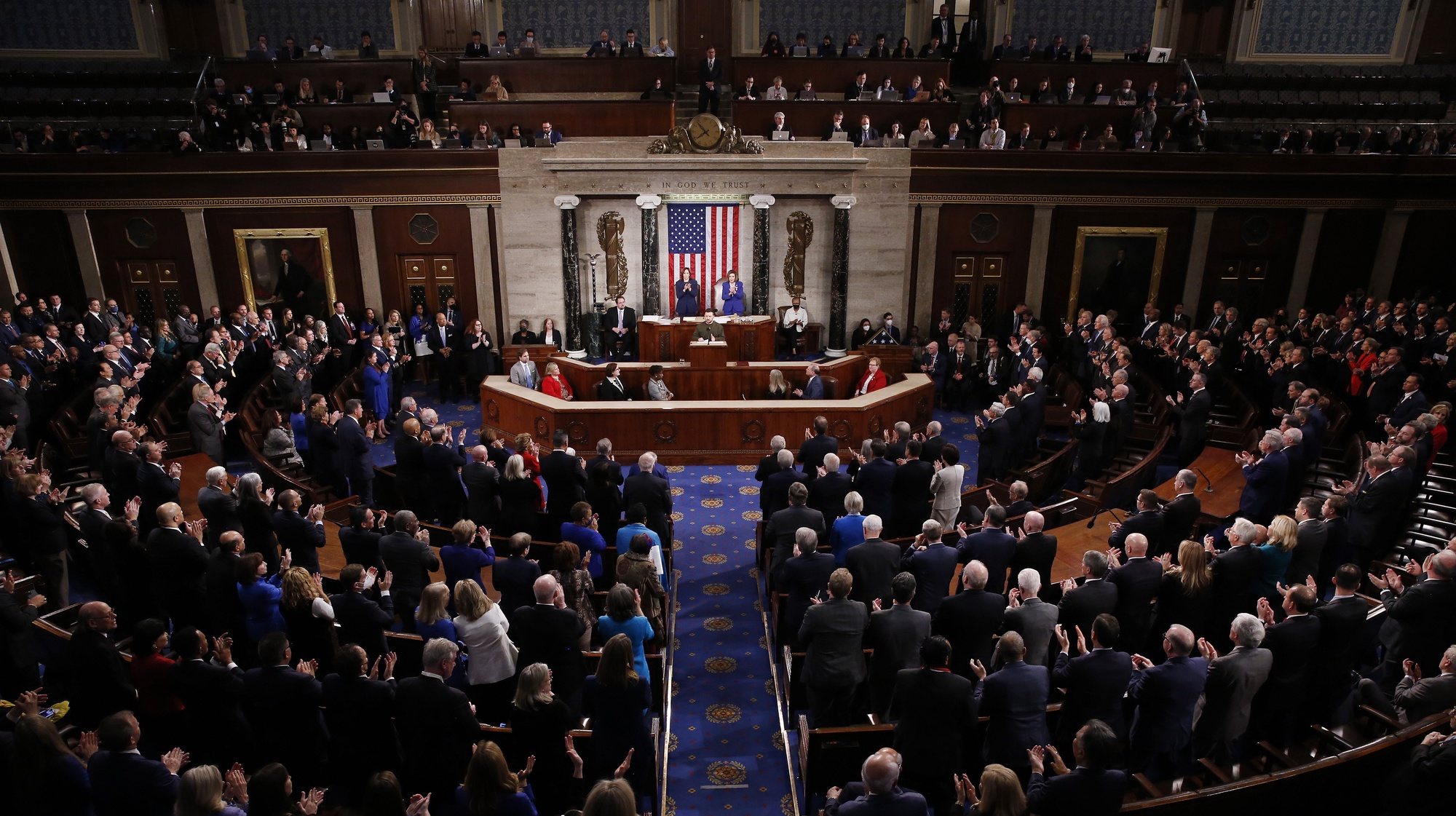Esta semana, Merkel e Hollande insistiram: o Brexit tem de ser um divórcio litigioso, arrastado e amargo, e nunca, como propõe Theresa May, o sensato início de uma nova relação. É uma questão de sequência, dizem: primeiro a separação, depois a reconciliação. Não é. A saída da UE é um direito previsto nos tratados. Mas franceses e alemães parecem determinados em associar esse direito a um castigo colectivo, uma praga do Egipto. Jean-Claude Juncker, o único político capaz de fazer Trump parecer comedido, não se cansa de ameaçar os britânicos com um “pagamento pesado”. Fala-se de uma penalização de saída de 60 biliões de euros, o equivalente a um terço do PIB português.
Enquanto os líderes europeus se esforçam por tornar a UE o mais odiosa possível no Reino Unido, a imprensa europeia continua muito histérica com os “brexiteers”. Convirá por isso lembrar que não foram os eleitores do Brexit quem iniciou o processo político que resultou no Brexit. Antes do voto, houve a decisão do primeiro-ministro David Cameron de submeter a Europa a um referendo, e a decisão dos líderes europeus de negarem a Cameron qualquer acordo que calasse os euro-cépticos no Reino Unido. Já então, os dirigentes da UE pareciam determinados em forçar Londres a escolher entre a submissão e a saída. Esperavam, talvez, obter a submissão, como nos referendos que era costume repetir na Europa até darem o resultado certo. Desta vez, não aconteceu. Os líderes continentais têm tanta responsabilidade pelo Brexit como Cameron.
O Reino Unido tem fama de separatista. É verdade: não pensou inicialmente fazer parte da Europa unida, foi causa de muitas polémicas com Thatcher, e nunca aderiu ao Euro. O sentido de excepcionalismo inglês existe, como seria de esperar de um país que em 1940 ficou sozinho na Europa a combater o nazismo, enquanto burocratas franceses e comunistas russos colaboravam com Hitler. Mas o Reino Unido também foi frequentemente tratado como uma excepção pelas outras potências europeias. Em 1963 e em 1967, a França vetou por duas vezes a entrada britânica na então CEE. O general De Gaulle permitiu-se até dispensar a elegância, para comentar: “a Inglaterra já não é grande coisa”. A Turquia espera uma resposta há trinta anos, mas nunca teve de passar por tais vexames. E De Gaulle nunca esteve sozinho: ainda o ano passado, 46% dos franceses não fazia questão que “les anglais” continuassem na UE.
O que sugere neste momento o Reino Unido? Reintegrar-se com a UE numa zona de comércio livre. Mas as potências continentais clamam que nunca lhe darão o comércio sem a migração e a jurisdicção europeia, isto é, sem aquilo que motivou os britânicos a votarem no Brexit. A classe política europeia exibe perante o Reino Unido uma coragem que muitas vezes lhe faltou perante a Rússia de Putin ou a Turquia de Erdogan. Putin anexou uma parte da Ucrânia; Erdogan promete aos europeus que “nunca mais andarão em segurança nas ruas”. Mas a ousadia de Juncker e dos seus comparsas esgota-se na “pérfida Albion”. Ter-se-ão convencido de que só com elevados custos de saída poderão manter a UE?
O Reino Unido faz falta à Europa unida. Pela sua tradição de liberdade, pela sua abertura ao mundo, pelo seu papel de contrapeso do eixo franco-alemão, que a Itália ou a Polónia não estão em condições de desempenhar. Sem o Reino Unido, aquilo a que chamamos “Europa” será cada vez mais uma aliança franco-alemã, com parceiros periféricos. As tentações de proteccionismo e de ensimesmamento serão maiores. A bem da Europa, conviria às potências europeias, que já reconheceram o princípio das várias velocidades, desdramatizarem o Brexit, e aceitarem que há outras formas de integração, que não as da União Europeia. Porque se tudo acabar mal, a culpa será suficientemente grande para poder ser repartida por todos.