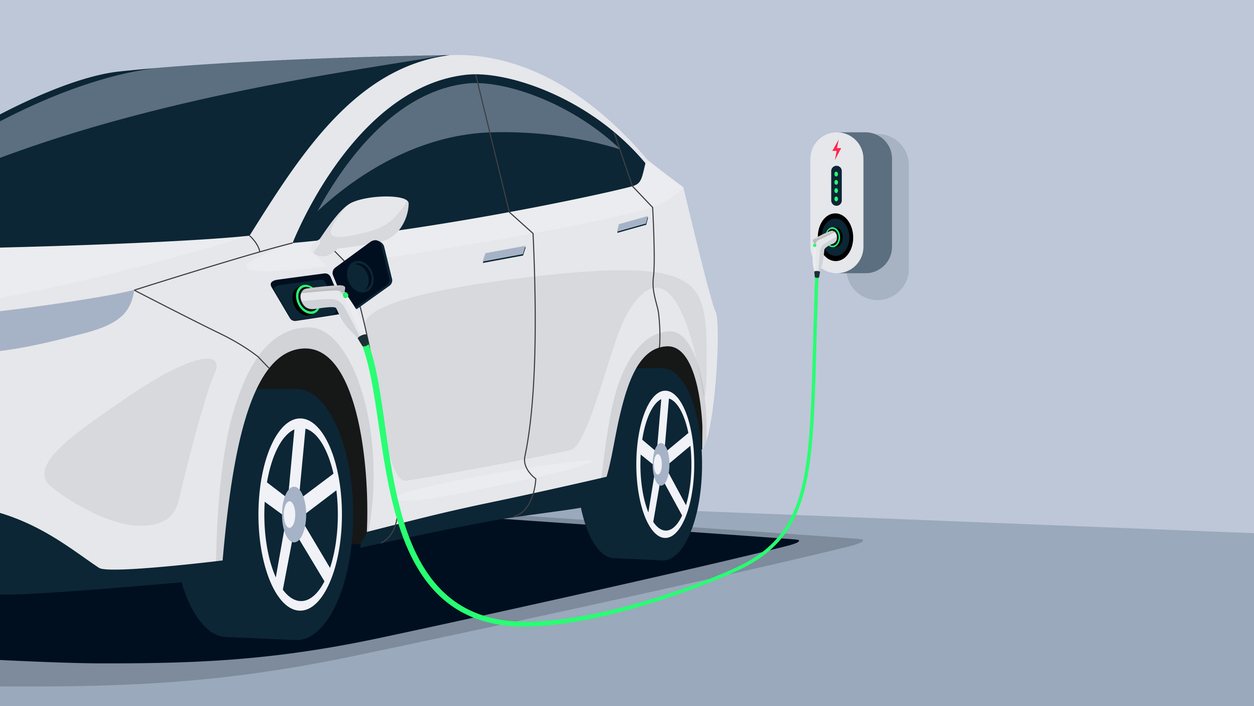1. Conhecemo-nos, tínhamos ambos 10 anos e brincávamos ao baloiço e ao pião como na canção. Crescemos juntos. Fomos amigos, cúmplices, depois amantes de beijo roubado, ocasional, e depois de paixão saciada, amigos ainda e já íntimos, com o profundo conhecimento do corpo e da alma que só o amor que é eterno permite. Conheci-te e ficámos para sempre juntos, em todos os dias de verão e inverno de cada um dos dias da nossa vida, dormimos juntos em cada noite de outono e fomos dois num só, vivemos juntos em cada florir da primavera e fomos um feito de dois, tu e eu, meu amor.
Tu és aquela que os anjos escolheram para mim. Teus olhos, tua voz, teu corpo: dentro de mim alguma coisa soube-te minha desde o início e para o resto da vida, eras aquela a quem me entreguei inteira e integralmente para me fazeres tua. Assim foi. Amei-te desde o primeiro dia, habitei em ti todos os presentes e todos os futuros do resto da tua vida.
Até ao dia em que acabaste, fulminada por uma artéria que cedeu sem aviso, sem compaixão, sem nada. Sem, sequer, consideração pelo meu eterno amor. Fui ver-te à Igreja, o coração de luto, a cabeça cheia de adeus. Queria dizer-te: adeus adeus adeus. Essa palavra terrível e bela, adeus. Em redor do féretro onde jazias estava a família, os nossos filhos, os teus pais, os meus, primos, tantos amigos; a família “a velar, inconsolável e contando anedotas” e mais, nesse instante, primeiro, “a angústia, a surpresa da vinda/do mistério e da falta da tua vida falada…” e ainda mais, depois “o horror do caixão visível e material e os homens de preto”*, e então, amor, então, sem mais, então… fugi.
Não disse adeus, não pude, não soube como. Continuo a tentar encontrar forma de o fazer.
2. Dizemos adeus na despedida de um amigo antigo que sai das nossas vidas. Dizemos adeus ao pai, à mãe, quando a consciência de si os abandona e cessa o percurso das suas vidas cheias, sempre curtas de mais. Dizemos adeus a um amor quando o amor se gasta e o que fica não chega para afastar o frio de 4 paredes (e abuso um pouco mais de Eugénio de Andrade: “Já gastámos as palavras pela rua, meu amor”).
Dizemos adeus a quem nos deixa em definitivo por força da inevitável força da morte. Ou devíamos dizer. Já gastámos todas as palavras quando a única que resta é adeus. Dissemos tudo – ou tenhamos dito quase nada, é igual – o que de derradeiro resta, quando o momento que define todos os momentos por vir e até os vividos cabe inteiro nessa palavra adeus, tantas vezes!, silenciosa, muda, preenchida de gestos de carinho, olhares carregados de vida, de emoção e amor. É desse adeus que falo.
O dia de dizer adeus não é igual a mais dia nenhum. Devia ser especial, marcante, simbolicamente cheio. E contudo, num Mundo sob pressão da pressa de fazer e acontecer, é-nos cada vez mais difícil despedir-nos. Dizer adeus. Dizemo-lo cada vez menos. Todas as desculpas servem. É o compromisso que impossibilitou chegar a tempo à partida do amigo (depois skypo…); é a viagem inadiada, que impediu de segurar a mão do pai antes da entrada para a operação (…correu mal); é o sms, o e-mail ou o whatsapp enviado a encerrar a relação, como se a presença física incomodasse o uso das palavras – secando a fonte das emoções.
3. Vivemos num Mundo virtual. Consolamo-nos com a interactividade digital. Cultivamos amigos imaginários com nomes reais e voz escrita. De tanto nos possuir, a tecnologia corrompe-nos. Ajuda-nos, informa-nos, facilita-nos a vida, diverte-nos. E corrompe-nos.
Os dígitos que viajam em redes universais, células de programas quase inteligentes, jogos que imitam a realidade, redes sociais em que coleccionamos likes, amigos virtuais, apps que correspondem exactamente às necessidades que sempre tivemos sem saber, os uns e zeros que escrevem enciclopédias e constroem mundos virtuais quase reais tornaram-se-nos preciosos – indispensáveis. E dessa forma, paulatinamente, começamos a dispensar as pessoas, as outras pessoas; o contacto humano; o sorriso, a mão amiga, o tempo que passa lentamente sem porquê e se senta na nossa vida como um bálsamo e nos reconforta e reconstrói. Não, não há tempo para isso, só resta o tempo da pressa, em que nem tempo há para dizer adeus.
Não sabemos despedir-nos. A civilização ocidental, a mais egoísta – ou egocentrista? – das civilizações humanas, baniu a despedida. Um amor que termina? Segue sms (já não te curto, desculpa). Um amigo que viaja? Logo skypamos (então meu, quando voltas?). A morte que nos leva um ente querido? A morte? Qual morte?
4. A morte foi expulsa da nossa sociedade. Aquilo que é, no dizer de Platão, condição de bem viver – a consciência da morte como coisa natural – tornou-se um tabu moderno, que os seres humanos só não ocultam uns dos outros por simples impossibilidade objectiva. A morte é hoje em dia uma obscena banalidade. Escreve Philippe Ariès no livro O Homem Diante da Morte: “A sociedade já não faz uma pausa: o desaparecimento de um indivíduo não mais lhe afecta a continuidade. Tudo se passa na cidade como se mais ninguém morresse”.
A mudança ocorreu no século XX, explica Ariès: já quase ninguém morre em casa, morre-se no hospital; a despedida da família reunida em redor da cabeceira do moribundo foi substituída pela mão anónima da enfermeira que reforça a dose de morfina. Os funerais, antes tempo de recolhimento e luto longamente reflectido, foram substituídos por rápidas cerimónias, afastando-se o cadáver dos olhares dos vivos (e definitivamente das crianças). Os mortos longe da vista. Cremam-se os corpos para que depressa volte o normal irreal da vida eterna que nos prometemos uns aos outros e que em nada condiz com a realidade daquela(s) inconveniente(s) morte(s).
Temos horror à ideia de morrer. Abolimos das nossas vidas o escravo que, agachado na biga ao lado do general triunfante, sob as ovações do povo romano no longo caminho para o Templo Capitolino, lhe sussurrava: “triumphator, não te esqueças que és humano”. Não te esqueças que és mortal. Somo-lo todos. E contudo vivemos como se fosse para sempre, para sempre jovens, para sempre felizes, para sempre vivos.
A despedida não cabe aqui.
5. Nada de novo. Já o tinha explicado o mesmo Álvaro de Campos: “Lamentando a pena de teres morrido,/E tu mera causa ocasional daquela carpidação/(…) Depois a trágica retirada para o jazigo ou a cova,/E depois o princípio da morte da tua memória./Há primeiro em todos um alívio/Da tragédia um pouco maçadora de teres morrido…/Depois a conversa aligeira-se quotidiamente,/E a vida de todos os dias retoma o seu dia…”
Sabem o que quero dizer?
6. Adeus (ou até para a semana?)