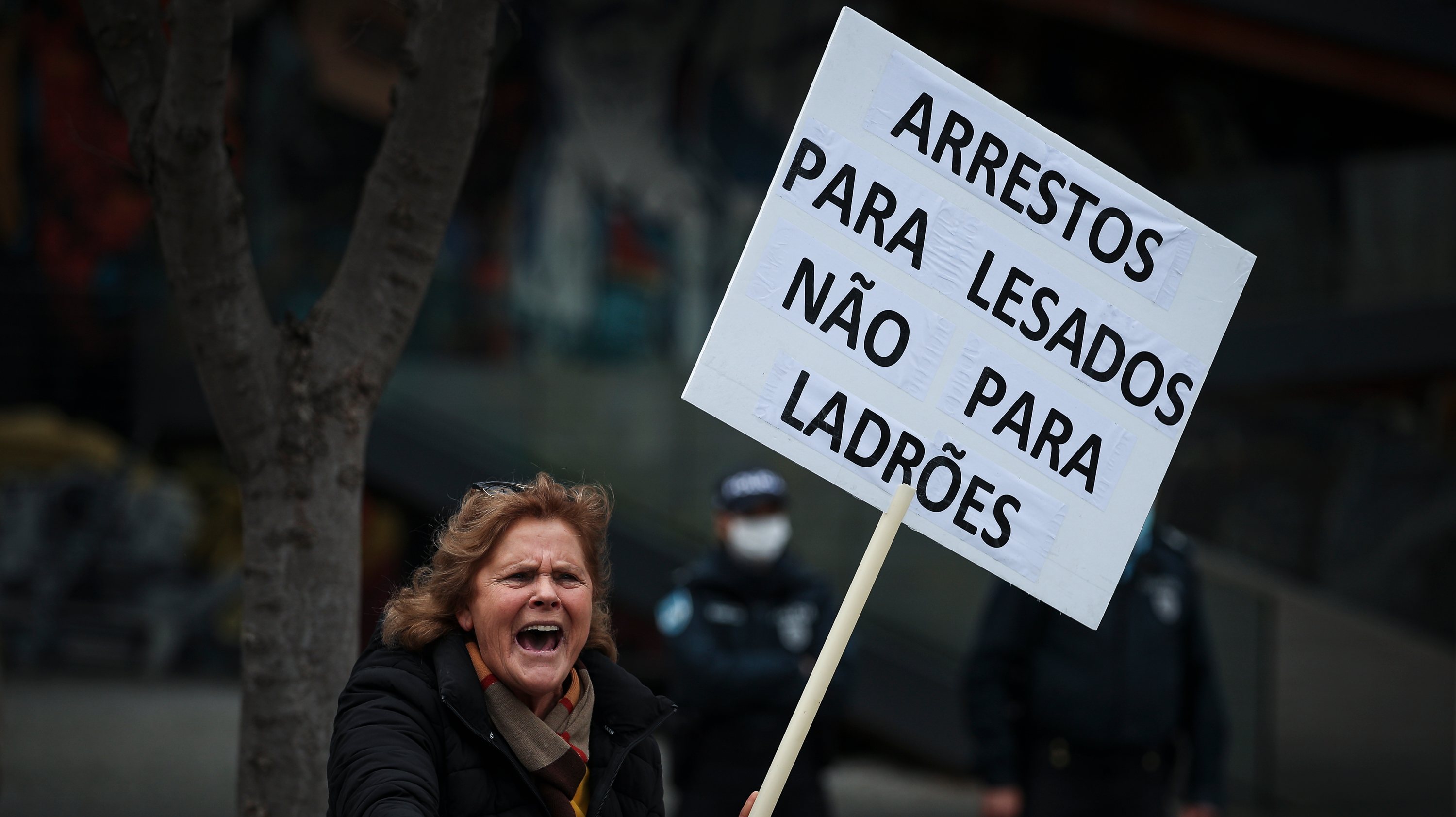Mário Centeno ambiciona ser governador do Banco de Portugal. Essa ambição é legítima e compreensível: para além de ser originalmente um quadro do Banco de Portugal, o seu percurso profissional tem inquestionável valor face aos cargos de grande prestígio e responsabilidade que ocupou. Ou seja, em condições normais, o seu nome poderia até assumir-se como uma escolha natural para as funções de governador do Banco de Portugal. Só que estas não são condições normais: Mário Centeno é ministro das Finanças. E essa é uma linha vermelha institucional: o Banco de Portugal tem, enquanto regulador, de ser absolutamente independente de pressões externas, sejam essas pressões oriundas do sector bancário ou do poder político.
Repare-se que não está em causa sequer uma avaliação do desempenho de Mário Centeno enquanto ministro. Para o caso, é indiferente a apreciação que se possa fazer de como exerceu essas funções. A raiz do problema é estritamente institucional: na medida em que Centeno é ministro e a sua nomeação para governador do Banco de Portugal seria feita pelo governo que integra (e no qual é uma figura-chave), a independência do Banco de Portugal estaria irremediavelmente comprometida. Não há volta a dar.
Por mais que assim ressoe em muitas cabeças, a preservação da independência das instituições não é um pormenor. É certo que, em Portugal, pouca gente leva o tema a sério, pois as instituições políticas são fracas e geralmente definidas em função das pessoas que desempenham os cargos. O exemplo mais evidente é Marcelo Rebelo de Sousa, que enquanto Presidente da República tem uma conduta que frequentemente ultrapassa os limites institucionais das suas funções, sem que isso lhe seja verdadeiramente censurado – é caso para dizer que a sua popularidade se sobrepõe à lei. Mas isso não é feitio, é mesmo defeito e uma fragilidade própria da imaturidade do regime democrático português. Numa república liberal, como Portugal, a saúde do regime assenta no respeito pelas instituições políticas, na separação de poderes e em mecanismos de compensação – freios e contrapesos que equilibram o poder e preservam a transparência nas tomadas de decisão. Ora, no caso de Centeno, a sua eventual nomeação para governador do Banco de Portugal seria objectivamente um atropelo institucional: o governo escolheria para regulador do sistema bancário um dos seus, contaminando a liderança do Banco de Portugal com os interesses do governo e do PS.
O caso é novo, mas a história é antiga. Já vimos algo parecido com Vítor Constâncio, que foi (um desastroso) governador do Banco de Portugal depois de ser ministro e secretário-geral do PS. Mas há mais. A nossa democracia compila todo um histórico de situações comparáveis, ou eventualmente ainda mais questionáveis, em que os conflitos de interesses são evidentes: é frequente assistir-se a ministros que vão para os quadros de empresas das áreas que tutelaram (Jorge Coelho) ou a ministros que saltitam entre cargos políticos e a cadeira de juiz no Tribunal Constitucional, arrasando a separação de poderes (Rui Pereira). Sim, há imensos exemplos e, mesmo que no PS eles abundem, não há partidos inocentes neste jogo de atropelos institucionais. Mas a existência de erros passados não legitima novos erros no presente. Apenas demonstrará que, em Portugal, nunca se aprende com os erros. E, também, que o PS não olha à ética republicana quando o que está em causa é maximizar a sua influência e o seu poder nas várias instituições do regime.
Dizer não à ida de Centeno para governador do Banco de Portugal é, eventualmente, uma injustiça para as suas ambições e para o seu currículo profissional. Admito que sim. Mas é uma necessidade para a protecção da saúde do regime, da independência do Banco de Portugal e do prestígio do próprio Mário Centeno. Que o PS e Centeno não o entendam, compreende-se – são eles os principais interessados neste fechar de olhos ético. Que o líder do PSD não o entenda, tendo-se mostrado aberto a essa possibilidade, é já uma incompreensível conivência com os interesses do PS.