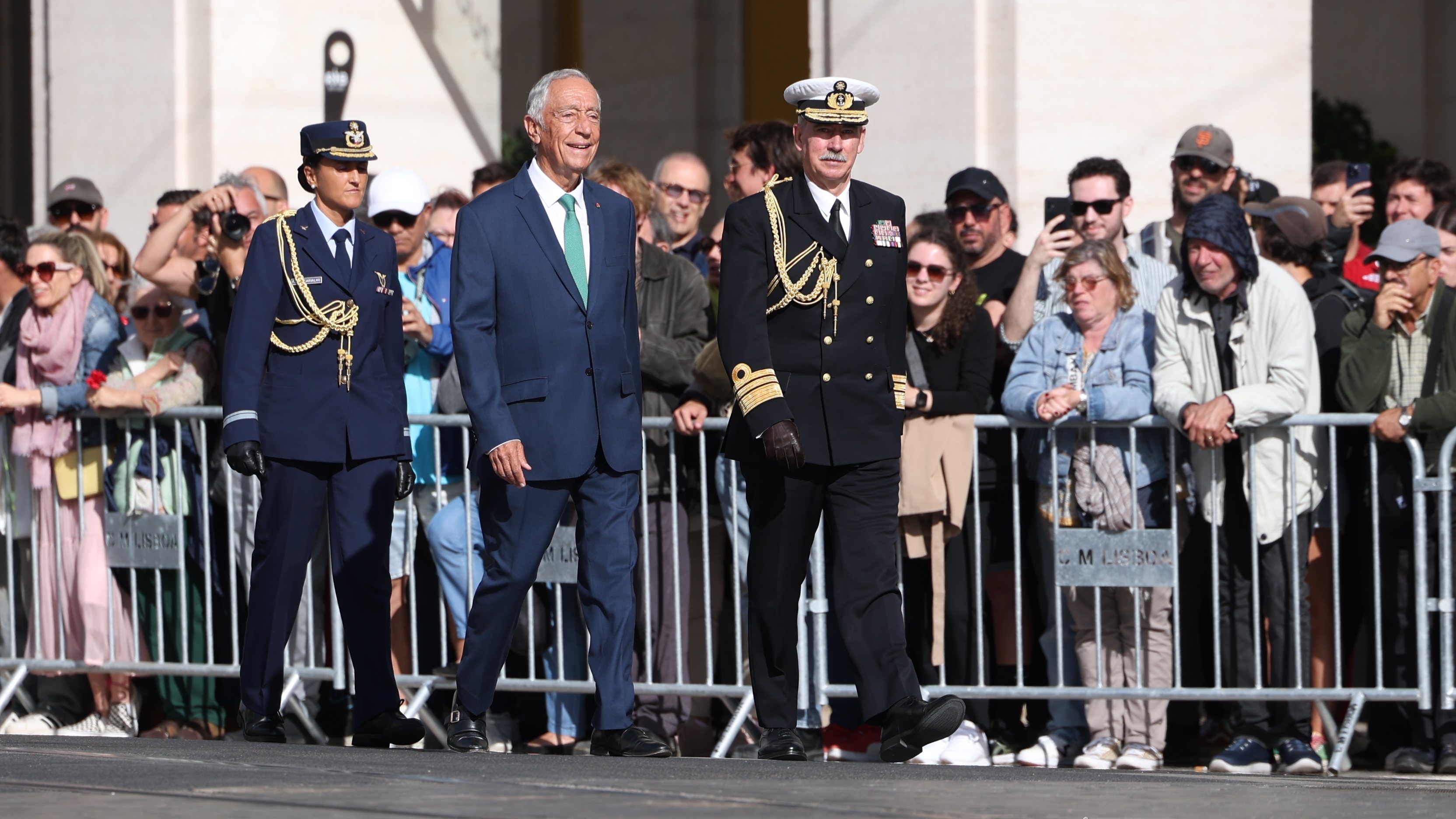Hoje é uma daquelas manhãs em que despertar coincide com a necessidade de desfazer um nó. Penso que, ocasionalmente, por um motivo ou por outro, todos sentimos o peso opressivo destes nós — na garganta, no peito, na mente —, exigindo-nos corte ou clarificação. O meu pede-me que reflicta sobre a relação, bizarra apenas à superfície, que encontro entre a costa lisboeta, chamas extintas, George Floyd, fragilidade branca e peixes mortos.
Passei por Cascais num fim de tarde de sábado, há cerca de duas semanas. A minha máscara destoava num mundo onde parecia que os últimos meses tinham sido uma alucinação consensual de parte da população. A descontracção geral típica de qualquer sábado à tarde com que as pessoas estavam — juntas, aglomeradas, sem máscara — em todo o tipo de espaços públicos surpreendeu-me, claro, porque eu tenho estado a viver outra realidade e ainda não desconfinei até “àquele” nível de normalidade. É bom deixar claro desde já que, por um lado, não é Cascais que está aqui em causa (porque sabemos que o que observei ali tem vindo a acontecer um pouco por toda a parte) e que, por outro, sempre me aborreceu e não me identifico com uma atitude, que vi proliferar em múltiplas plataformas, de permanente policiamento do outro, como se de repente fossemos todos bastiões da moral e dos bons costumes (ou das boas práticas, melhor dizendo), embora acredite que em cada um de nós reside também a responsabilidade pela protecção do outro. Mas sim, fiquei surpreendida com o que vi, talvez por ser tão radicalmente díspar do que tenho estado a viver.
Imaginei aquelas mesmas pessoas a bater palmas todas as noites aos profissionais de saúde cujo esforço indescritível que nos dedicaram ao longo dos últimos meses estavam ali, acredito que sem intenção, tão descontraidamente a ignorar. E é nesses momentos que o pensamento (o meu, pelo menos) começa a divagar. Perguntei-me porque é que aplaudimos tanto (e, sim, tão merecidamente) os médicos, os enfermeiros, todos os que estiveram na chamada linha da frente do combate ao vírus, mas tão pouco (ou nada) os funcionários que, nos hospitais, mas não só, se encarregaram de limpar todo o tipo de espaços (permitindo, em tantos casos, que esse combate pudesse ter lugar), os que continuaram diariamente a recolher o nosso lixo, os que não deixaram de trazer o nosso correio, vir entregar-nos a nossa comida, conduzir transportes públicos, assegurar que super e hipermercados continuassem a funcionar,… arriscando portanto, também eles, as suas vidas para garantir a protecção das nossas, apesar dos míseros salários que este
gesto não aumentou em nada. Não existirá, por certo, no horizonte assimétrico do nosso aplauso colectivo, nenhuma relação com as profissões que, social e culturalmente, aprendemos a valorizar e a desvalorizar e menos ainda com a etnia ou nacionalidade de muitas das pessoas que as desempenham. O que lhes diz o nosso silêncio bem-intencionado? Que foram recompensados pela possibilidade de manter o emprego num momento em que tantos o perderam.
A nossa gratidão, a euforia deste aplauso global, mesmo que indubitavelmente genuínos, têm sempre os dias contados, são uma chama que tão rápido arde como se extingue — em exacta proporção ao que acontece com a nossa indignação perante o que acontece cada vez que, nalgum lugar do mundo, é assassinado um novo George Floyd. Todos nós vemos as imagens, as fotografias, os vídeos, revoltando-nos colectivamente perante as atrocidades cometidas. Ainda assim, deste lado do Atlântico, para muitos o caso de George Floyd é a manifestação de “um problema americano”, “deles“, que nada tem a ver com a “nossa” realidade. A mera sugestão de que esse mesmo racismo possa ter múltiplas faces observáveis pelo mundo inteiro, incluindo aqui, no país dos brandos costumes, faz torcer muitos narizes em vários graus de descrença, porque “não é a mesma coisa“.
Aquele joelho sobre aquele pescoço, o modo como George Floyd foi lentamente sufocado, asfixiado, perante o olhar dos que podiam tê-lo impedido e dos que se sentiram impotentes para o impedir não tem, obviamente, nenhuma relação com o facto de termos no nosso país, há décadas, gerações e gerações de pessoas que são tão portuguesas como qualquer um de nós, mas cujas expectativas de vida continuam, para a maioria, tão limitadas (tão sufocadas) hoje como o foram para os seus pais, avós, bisavós, trisavós… — quer porque o contexto sócio-económico dessa comunidade o determine, quer porque a sua auto-estima colectiva não permita ainda que muitos tenham outras aspirações. À margem, cúmplices voluntários ou involuntários, nós assistimos — aqueles que podem fazer alguma coisa para o impedir e aqueles que se sentem impotentes porque não sabem como agir para o fazer (até quando, no entanto, poderemos continuar a alegar “não saber”?; qual o prazo de validade da ignorância das pessoas bem intencionadas?).
A brancura que, ano após ano após ano após ano, observo nas minhas turmas, nas várias turmas, entre os meus pares, na minha universidade como noutras, quase sem excepção, é por certo pura coincidência e não sintoma de um sistema que claramente quebrou há muito, algures, mas cuja quebra continuamos sem consertar e a ignorar, porque enquanto o fizermos o problema não existe — e, como seres humanos, acredito que esse seja um dos nossos maiores talentos, sobretudo quando temos um tom de pele
que nos permite darmo-nos ao luxo de ignorar certas realidades inconvenientes durante o tempo que quisermos. De “não saber”.
Quando falo sobre este assunto, é curioso serem quase sempre os meus amigos ou colegas “de esquerda” (como eu) a dizer-me que “não é bem assim” e a apontar-me as excepções. Eu conheço as excepções — algumas delas ficam maravilhosamente nas imagens e nos vídeos que a nível institucional, por exemplo, procuram promover o discurso actual e impoluto sobre a importância de promover a diversidade! —; gostaria apenas que nos fixássemos na palavra excepção. Reparo, aliás, que somos sobretudo nós, os que nos identificamos assumidamente com políticas de esquerda e, portando, inclusivas por definição, os mais susceptíveis à chamada “fragilidade branca” — e é compreensível porque, a alguns níveis, também muito mais é esperado de nós e porque assumimos que, pura e simplesmente, “não somos assim” (independentemente do que, em cada situação, corresponda a esse “assim”). A mera possibilidade de que não sejamos imunes ao contágio, seja sob que forma for, de alguns dos traumas mais profundos que geraram o contexto em que nascemos e vivemos deixa-nos imensamente defensivos em situações em que, na verdade, ninguém nos está a acusar ou atacar. White privilege? “É, sem dúvida, necessário que compreendamos bem o conceito para que não se gerem equívocos (e, portanto, vamos lá ver como posso escapar-me pela franja)”. Arrogância intelectual? “Conheço muitas pessoas assim (mas nunca eu)”. Discriminação de género? “Lá em casa fazemos tudo a meias”. Racismo? “Nunca. Se queres saber, tenho imensos amigos…”. Mansplaining? “Eu?! Era só o que faltava. Aliás, deixa-me que te diga uma coisa…”.
Cada um à sua maneira, parecemos ter-nos transformado numa espécie de catálogos ambulantes de Procedimentos Politicamente Correctos, acompanhados pela correspondente lista do que não se pode dizer, do que ainda se pode dizer e de como se deve dizê-lo. Talvez por isso estivéssemos tão pouco preparados para o Episódio Amy Cooper em plena digestão da Explosão pós-George Floyd. Se com a morte de George Floyd e tudo o que se lhe seguiu os nossos PPC têm a oportunidade de brilhar diariamente, qual mina de ouro de extracção sem fim, a situação criada por Amy Cooper ao ameaçar chamar a polícia (ameaça que concretizou) e acusar um homem que fez questão de designar especificamente como “afro-americano” de a estar a atacar, apenas porque este a privou de continuar a ter um momento agradável independentemente de o seu comportamento colocar em causa o espaço em que estava e a lei que o protegia, apanhou-nos desprevenidos. Na sequência destes eventos, Amy Cooper perdeu não só o emprego, como o cão que esteve na origem do incidente e que foi reclamado pelo Canil do qual ela o resgatara, tendo sido igualmente alvo de múltiplas e duras críticas vindas de todas as direcções. Ao contrário do que acontece relativamente a George Floyd, neste caso parece ter havido uma noção colectiva de justiça feita e dever cumprido.
Até esse momento uma representante exemplar dos valores da alta sociedade Democrata nova-iorquina, Cooper passou a ser uma representante exemplar da lógica contemporânea do crime e castigo aplicado sob a óptica dos PPC. Em certa medida, é importante que consigamos esquecê-la rapidamente (mas não demasiado, para não dar nas vistas) porque, por muito que nos custe, ela era “uma de nós”. E, no entanto, quantos de nós, os que erguem a bandeira dos PPC por convicção e em nome do respeito pelo outro, conseguiriam admitir que, face ao imprevisto, sob pressão, dominados pelo descontrolo, também poderiam ter um “momento Amy Cooper”? Quantos de nós sabem o que é necessário para ver emergir o pior de si mesmos — surja ele sob a forma de racismo, descriminação sexual, machismo, violência física, etc., etc., etc.?
Para a maioria das pessoas, a diferença entre um momento PC e um momento AC reside apenas na fronteira que divide o que nos é familiar do que nos é desconhecido, nomeadamente em nós mesmos. É fácil demitir Amy Cooper, retirar-lhe o cão, criticá- la, ofendê-la e fazer dela primeiro um exemplo, depois um fantasma. É fácil não porque seja o mais correcto, mas porque, em certa medida, esse conjunto de acções permitem desumanizá-la e, nesse mesmo gesto, distanciá-la, estabelecendo uma diferença de facto, protectora, entre o que ela é e o que nós não somos. Fieis ao mesmo princípio de sempre, quando a realidade a enfrentar não nos convém, nunca é “a mesma coisa”.
Não sei se obtive a clarificação de que necessitava. Não sei se consegui desfazer o nó. Estas situações são, todas elas, profundamente complexas — complexidade essa que torna este texto, logo à partida, inevitavelmente redutor. O que não implica que, de vez em quando, não acordemos com vontade de pregar durante cinco minutos aos peixes mortos do rio — que aqui entendo como metáfora não para as pessoas, mas para o vazio que parece ter vindo a ocupar o seu lugar.